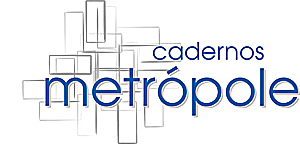Resumo
O objetivo deste artigo é analisar os mecanismos de governança não estatal da violência em uma comunidade pobre da zona sul do Recife, com base em etnografia e entrevistas realizadas entre os anos de 2018 e 2022. Após constatarmos que não há um regime armado estabelecido com enforcement capaz de impor um sistema de governança criminal, encontramos um esquema de governança não estatal informal da violência, protagonizado por atores que não fazem parte do mundo do crime. Por fim, afirmamos que as intervenções desses atores não causam um impacto significativo na redução do número de episódios violentos, ao mesmo tempo que fazem com que o uso de força seja dissuadido em certas situações, impedindo que a criminalidade violenta seja maior.
governança informal; violência; espaços de pobreza; cuidadores; isolamento social
Abstract
The aim of this paper was to analyze the mechanisms of non-state governance of violence in a poor community located in the south of the city of Recife, state of Pernambuco, based on ethnography and interviews conducted between 2018 and 2022. After verifying that there is no established armed regime with enforcement capable of imposing a criminal governance system, we found an informal scheme of non-state governance of violence led by actors who are not part of the criminal world. Finally, we state that the interventions of these actors do not have a significant impact on the reduction in the number of violent episodes but, at the same time, they succeed in deterring the use of force in certain situations, preventing violent crime from increasing.
informal governance; violence; poor neighborhoods; caretakers; social isolation
Introdução
Em sua pesquisa sobre o desenvolvimento de democracias, economias e sociedades, realizada pela última vez em 2020, o latinobarômetro1 1 Disponível em: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp. Acesso em: 18 dez 2022. trouxe dados alarmantes sobre o Brasil. Cerca de 81% dos entrevistados afirmam que o estado brasileiro apresenta pouco ou nenhuma garantia de liberdades, direitos, oportunidades e segurança. Quando o assunto é a justiça, 78% consideram a instituição injusta e/ou muito injusta. Em relação às corporações policiais, pouco mais da metade da população não confia no trabalho que vem sendo feito. Conforme sentenciam Ribeiro, Soares e Krenzinger (2022, p. 582): “o pano de fundo permanente é a inconfiabilidade de instituições cujas ações são arbitrárias, ameaçadoras e imprevisíveis, gerando medo e insegurança”.
Se pensarmos nos espaços de pobreza das nossas metrópoles, onde certamente esses números apresentam os níveis mais altos, quais são as consequências de um cenário como esse?
O objetivo deste estudo foi investigar as repercussões dessa conjuntura no campo da governança não estatal da violência em uma comunidade pobre localizada na zona sul da cidade do Recife. Para efeito de definição, quando falamos em governança não estatal da violência, estamos pensando em arranjos voltados para o controle social do uso da força fora dos canais oficiais de comunicação (Helmke e Levitsky, 2006HELMKE, G.; LEVITSKY, S. (eds.). (2006). Informal institutions and democracy: lessons from Latin America. Baltimore, Johns Hopkins University Press., p. 5). Tais regimes podem ser de caráter criminal instrumentalizado por regimes armados (Arias, 2017ARIAS, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.; Lessing, 2021LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873.; Muniz e Dias, 2022MUNIZ, J. D. O.; DIAS, C. N. (2022). Domínios armados e seus governos criminais-uma abordagem não fantasmagórica do “crime organizado”. Estudos Avançados, v. 36, pp. 131-152.), estruturados a partir de instituições comunitárias com capacidade de exercer controle social (Sampson, 2014a; Ley, Mattiace e Trejo, 2019) ou algo híbrido entre o criminal e o comunitário (Fahlberg, 2018FAHLBERG, A. N. (2018). Rethinking Favela governance: non violent politics in Rio de Janeiro’s gang territories. Politics & Society, v. 46, n. 4, pp. 485-512.). Independente do escopo e dos fundamentos, todos os regimes de governança não estatais da violência estão voltados para o mesmo objetivo: regular o uso da força, definindo quem pode usá-la, como e quando. O que varia é a capacidade de exercer essa regulação e modo pela qual ela é feita.
Tendo como base a realização de uma etnografia, em três momentos distintos entre os anos de 2018 e 2022, e um conjunto de entrevistas formais e informais, chegamos ao seguinte achado: a governança da violência no local estudado é exercida por determinados atores sem vinculação com o mundo do crime (Feltran, 2011FELTRAN, G. (2011). Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Editora da Unesp.) que atuam como cuidadores (Gans, 1982GANS, H. J. (1982). Urban villagers. Nova York, Simon and Schuster.; Sanchez-Jankowski, 2008SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press.) da ordem local. Mostraremos, ao longo deste paper, quem são esses cuidadores e como eles agem no âmbito da comunidade estudada. Ao todo, pudemos entrevistar e acompanhar a rotina de quatro atores que se encaixam nessa definição.
Usando a tipologia desenvolvida por Skarbek (2020)SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press., classificamos o caso como governança mínima, que existe em contextos em que não há um grupo criminoso com enforcement ou interesse suficiente para controlar a ordem local, configurando um processo de governança criminal (Lessing, 2021LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873.), nem uma governança estatal eficaz e qualitativamente bem-avaliada por moradores. Discutiremos, mais adiante, que esse modelo pode ser interpretado como um quarto tipo de regime de governança não estatal da violência.
A partir desses achados, buscaremos colaborar no alargamento do estoque de pesquisas empíricas sobre o fenômeno na cidade do Recife. O trabalho de Daudelin e Ratton (2017)DAUDELIN, J.; RATTON, J. L. (2017). Mercados de drogas, guerra e paz no Recife1. Tempo Social, v. 29, pp. 115-134. foi pioneiro ao analisar de maneira comparativa as estruturas de governança dos mercados do crack e das drogas sintéticas. Em 2019, fizemos um estudo com o objetivo de descrever e analisar o que havia em termos de governança não estatal da violência em um espaço de pobreza do Recife (Cavalcanti Filho, 2019CAVALCANTI FILHO, R. C. (2019). Polícia, mercado de drogas e mortes violentas: um estudo etnográfico sobre a regulação não-estatal da violência numa comunidade da Zona Sul do Recife. Dissertação de mestrado. Recife, Universidade Federal de Pernambuco.). Este artigo é, portanto, uma continuidade de uma agenda de pesquisa e uma extensão para locais da cidade ainda não explorados em termos dos problemas que estamos interessados.
Também pretendemos contribuir na exploração de outros tipos de estruturas de governança, que são diminutos nas pesquisas atuais. De modo geral, os estudos estão voltados para regimes de governança criminal, operacionalizados por grandes grupos criminosos, como as máfias (Gambetta, 1993GAMBETTA, D. (1993). The Sicilian mafia: the business of private protection. Cambridge, Harvard University Press.; Paoli, 2008PAOLI, L. (2008). Mafia brotherhoods: organized crime, Italian style. Oxford, Oxford University Press.; Varese, 2011VARESE, F. (2011). Mafias on the move. Princeton, Princeton University Press.;); os cartéis mexicanos (Trejo e Ley, 2020TREJO, G.; LEY, S. (2020). Votes, drugs, and violence: the political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge, Cambridge University Press.) e colombianos (Blattman et al., 2021BLATTMAN, C. et al. (2021). Gang rule: Understanding and countering criminal governance. Working Paper n. 28458. Cambridge, National Bureau of Economic Research.); gangues na américa central (Jaffe, 2013JAFFE, R. (2013). The hybrid state: crime and citizenship in urban Jamaica. American Ethnologist, n. 40, v. 4, pp. 734-748.; Ruiz, 2021RUIZ, P. (2021). Criminal Governance in Northern Central America. World Refugee & Migration Council.), além dos grandes grupos criminosos brasileiros, como o PCC, o CV e as milícias (Cano e Ioot, 2008; Feltran, 2010FELTRAN, G. (2010). Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo. Caderno CRH, v. 23, pp. 59-73.; Grillo, 2014GRILLO, C. C. (2014). “Pelo certo: o direito informal do tráfico em favelas cariocas”. In: OLIVEIRA, L. R. C. de; WERNECK, A. Pensando bem: estudos de sociologia e antropologia da moral. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, pp. 337-366.; Biondi, 2018BIONDI, K. (2018). Proibido roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC (vol. 1). São Paulo, Terceiro Nome.). Estudos voltados para a governança não estatal da violência exercida por gangues de pequeno e médio porte, atores ou associações comunitárias que operam em bairros urbanos pobres, embora existam (Bougois, 1991; Venkatesh, 1997VENKATESH, S. A. (1997). The social organization of street gang activity in an urban ghetto. American Journal of Sociology, v. 103, n. 1, pp. 82-111.; Auyero e Sobering, 2019AUYERO, J.; SOBERING, K. (2019). The ambivalent state: police-criminal collusion at the urban margins. Oxford, Oxford University Press.; Fahlberg 2018FAHLBERG, A. N. (2018). Rethinking Favela governance: non violent politics in Rio de Janeiro’s gang territories. Politics & Society, v. 46, n. 4, pp. 485-512.), são quantitativamente menos frequentes e explorados no debate.
Acreditamos, pois, que esse seja um caminho interessante a ser explorado porque existem configurações urbanas, como é o caso do Recife, em que não existem grandes grupos criminosos estabelecidos nos espaços de pobreza da cidade e que, mesmo assim, encontramos estruturas de governança não estatais da violência que podem ser estudadas com profundidade. Ao defendermos que entes sem conexões com grupos criminosos também possuem enforcement para estabelecer um sistema de governança da violência, bem como podem coexistir com regimes armados, buscaremos discutir uma ampliação do escopo da governança não estatal da violência para além dos sistemas operacionalizados por regimes armados no âmbito dos espaços de pobreza.
Em termos de estruturação, o texto que segue está dividido da seguinte forma: primeiro, abordaremos como a pesquisa foi realizada e traremos algumas características da comunidade onde o estudo foi feito. Em seguida, discutiremos teoricamente os efeitos do isolamento dos espaços de pobreza e sua conexão com o surgimento de esquemas de governança da violência e dos conflitos interpessoais. Mais adiante, descreveremos a atuação dos cuidadores na governança local da violência. Por fim, dissertaremos sobre o processo em questão em termos do seu impacto local e sobre a necessidade de pesquisarmos arranjos de governança da violência para além do criminal no âmbito dos espaços de pobreza.
Como esta pesquisa foi feita e algumas informação sobre o local da pesquisa
Com uma extensão territorial de 1 km2 2 O primeiro momento de coleta de dados ocorreu quando moramos na comunidade, entre os meses de julho e dezembro de 2019. Em seguida, fizemos uma nova incursão, entre maio e novembro de 2019. Em função da pandemia de Covid-19, a nossa terceira rodada de observações só pôde ser realizada entre dezembro de 2021 e setembro de 2022. , a comunidade na qual foi desenvolvida esta pesquisa se encontra cravada na zona sul do Recife e tem aproximadamente 12 mil habitantes, vivendo, em sua grande maioria, em condições de pobreza concentrada, altos índices de criminalidade e policiamento ineficaz e conflituoso (Cavalcanti Filho, 2022CAVALCANTI FILHO, R. C. (2022). Um estudo etnográfico sobre a atuação da polícia militar em uma comunidade do Recife. Mediações-Revista de Ciências Sociais, v. 27, n. 1, pp. 1-20.), além de serem vulneráveis em termos socioeconômicos e civis (Kovarick, 2003). As palavras de uma entrevistada traduzem de forma concisa a realidade do local: “Aqui nós convivemos com o lixo e com a destruição”.
Em termos de renda, os dados do IBGE apontam que 60% dos moradores vivem abaixo da linha de pobreza, com uma renda inferior a R$387,00 por mês. Isso significa que mais da metade da população é pobre ou extremamente pobre. Boa parte das habitações é precária e não possui saneamento básico. Segundo estimativas não oficiais, mais de 2 mil moradores ainda habitam palafitas fincadas na beira do rio que corta a parte de trás da comunidade.
No que concerne à escolha da comunidade como campo de pesquisa, podemos dizer que a definição do local não ocorreu pelo fato de ele oferecer uma amostra representativa do fenômeno da governança não estatal da violência na cidade do Recife. Como argumenta Skarbek (2020SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press., p. 230), a amostragem aleatória de casos em situações como essa é inadequada porque não oferece garantia contra uma amostra tendenciosa. Ao invés disso, é melhor selecionar casos intencionalmente para permitir variação nas variáveis explicativas (ibid.). O que de fato embasou a escolha do caso foi o estabelecimento de contatos com alguns moradores no âmbito do grupo de pesquisa do qual fazem parte os autores. Através dessa rede, foi possível identificarmos um conjunto de contatos no local, o que nos proporcionou relações de confiança que culminaram na realização desta investigação nessa localidade em distintos momentos.2 2 O primeiro momento de coleta de dados ocorreu quando moramos na comunidade, entre os meses de julho e dezembro de 2019. Em seguida, fizemos uma nova incursão, entre maio e novembro de 2019. Em função da pandemia de Covid-19, a nossa terceira rodada de observações só pôde ser realizada entre dezembro de 2021 e setembro de 2022.
No plano de obtenção dos dados, o presente estudo desenvolveu-se tendo como base a metodologia qualitativa. A principal técnica de coleta foi a etnografia. Conforme Bourgois, Bourgois e Schonberg (2009, p. 32) definem:
A etnografia é uma prática artesanal que envolve escolhas interpretativas e políticas. Por um lado, o pesquisador se funde com o ambiente, relaxando em conversas, amizades e interações e participando das atividades cotidianas. Por outro lado, o observador está mentalmente correndo para registrar o significado do que está ocorrendo e conceituar estratégias para aprofundar essa compreensão.
De maneira mais específica, buscamos seguir a sugestão dada por Wilson e Chaddha (2009)WILSON, W. J.; CHADDHA, A. (2009). The role of theory in ethnographic research. Ethnography, v. 10, n. 4, pp. 549-564. ao combinarmos uma abordagem dedutiva com um comportamento indutivo na condução do trabalho etnográfico. Assim dizendo, partimos de um esquema teórico que orientou nosso olhar no campo, porém, ao mesmo tempo, deixamos um nível de abertura aos achados empíricos. Isso nos permitiu refazer nossas formulações e gerar insights na descoberta e integração dos achados empíricos e aportes teóricos.
A escolha pelo método etnográfico ocorreu porque esta pesquisa trata de um tema que não é captado a partir dos dados oficiais, assim como não pode ser compreendido densamente, caso o pesquisador esteja distante do local pesquisado. Tentar captar um processo interpretativo à distância é se arriscar ao pior tipo de subjetivismo, uma vez que é provável que o pesquisador complete o processo de interpretação e análise, mas sem compreender as complexidades e nuances da unidade de análise de forma densa e profunda (Blumer, 2013BLUMER, H. (2013). “Sociedade como interação simbólica”. In: COELHO, M. C. P. Estudos sobre Interação - textos escolhidos. Rio de Janeiro, EdUERJ., p. 86). Nesse tipo de processo investigativo, a verdade é socialmente construída e experiencialmente subjetiva (Bourgois, Bourgois e Schonberg, ibid., p. 13). Todavia, para procurá-la, buscamos explorar histórias, declarações e tópicos importantes, variando as condições do ambiente e os entrevistados, além de triangular e checar informações (Bourgois, Bourgois e Schonberg, 2009).
O estabelecimento de relações de confiança e o constante diálogo com os moradores da comunidade proporcionado pela etnografia, combinados com o aprofundamento proporcionado pelas entrevistas, foi o que tornou possível alcançarmos os nossos objetivos. Um outro importante fator que embasou a escolha do método etnográfico diz respeito ao fato de, no âmbito dos espaços de pobreza, existirem distinções culturais e morais significativas, inscritas em instituições e mentes, que ajudam a explicar a diversidade de estratégias e trajetórias seguidas por seus moradores e que somente a etnografia pode detectar e dissecar, conforme aponta Wacquant (2002WACQUANT, L. (2002). Scrutinizing the street: Poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography. American Journal of Sociology, v. 107, n. 6, pp. 1468-1532., p. 1501).
Ao longo dos períodos de coleta dos dados, estivemos em reuniões de moradores, festas, partidas de futebol, bares, zona de venda de drogas, etc. Foram as observações feitas nesses espaços que embasaram boa parte do diário de campo feito ao longo da investigação. Uma opção metodológica e ética que tomamos foi a de ficcionalizar todos os nomes citados ao longo deste artigo e ocultar o nome da comunidade na qual este estudo foi realizado. O anonimato nesses dois casos servirá para proteger o local e aqueles que nos forneceram informações de qualquer tipo de risco.
As observações sistemáticas foram complementadas por 25 entrevistas semiestruturadas realizadas com moradores (15 homens e 10 mulheres) e por conversas informais. Buscando variar o perfil dos entrevistados, conversamos com jovens ativistas engajados culturalmente, moradores mais antigos, moradores mais recentes, atores ligados ao mercado de drogas, egressos do sistema penitenciário, pequenos comerciantes, trabalhadores informais e formais. Alguns desses entrevistados foram buscados de forma intencional, pois, em um dado momento, certos nomes surgiram como fundamentais no entendimento das questões que buscávamos investigar. Outros nomes apareceram por meio de indicações de outros entrevistados, configurando o que é chamado de amostra bola de neve (Vinuto, 2014VINUTO, J. (2014). A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. Temáticas, v. 22, n. 44, pp. 203-220.).
Isolamento: uma chave para pensarmos os espaços de pobreza das grandes metrópoles
Se seguirmos uma linha do tempo na história da sociologia, as primeiras reflexões sobre as cidades e os espaços de pobreza vieram da chamada escola de Chicago. Park (1915)PARK, R. E. (1915). The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment. American Journal of Sociology, v. 20, n. 5, pp. 577-612. constatou que existem vizinhanças que sofrem de isolamento e segregação, formando cidades dentro de cidades, cuja principal característica é a homogeneidade da composição racial e de classe. Cada grupo social tende a criar uma forma de vida específica atrelada a um conjunto de valores particulares à medida que o processo de distanciamento em relação a outros grupos se consolida. Em seu esquema sobre a estrutura urbana, Burgess (1926)BURGESS, E. W. (ed.). (1926). The urban community: selected papers from the proceedings of the American Sociological Society, 1925. Chicago, University of Chicago Press. observou que a divisão econômica do trabalho se correlaciona com a divisão de classes sociais, formando uma multiplicidade de grupos com diferentes padrões de vida que vivem num mundo amplamente separado em configurações específicas. Em função das consequências do processo de crescimento urbano, os espaços de pobreza, na visão do autor, são zonas deterioradas e desorganizadas que concentram uma série de problemas sociais e altas taxas de criminalidade.
Conforme observa Akers (2013AKERS, R. L. (2013). Criminological theories: introduction and evaluation. Abingdon, Routledge., p. 116), os sociólogos de Chicago enfatizaram que os residentes nessas áreas não eram biológica ou psicologicamente anormais. Ao invés disso, seus crimes e desvios eram as respostas normais de pessoas normais a condições sociais anormais. Nessas condições, tradições criminosas e delinquentes desenvolveram-se e foram culturalmente transmitidas entre gerações (Shaw e McKay, 1942SHAW, C. R.; MCKAY, H. D. (1942). Juvenile delinquency and urban areas. University of Chicago Press.). Industrialização, urbanização e outras mudanças sociais na sociedade moderna eram vistas como causadoras de desorganização social, ao minar o controle social da ordem e valores sociais tradicionais (Akers, 2013AKERS, R. L. (2013). Criminological theories: introduction and evaluation. Abingdon, Routledge., p. 117).
Décadas mais tarde, Wacquant (2010)WACQUANT, L. (2010). “Designing Urban Seclusion in the 21st Century.” Perspecta: The Yale Architectural Journal, v. 43, pp. 165-178., um crítico da escola de Chicago, sugeriu pensar as cidades a partir do processo de exclusão socioespacial. Na definição dada pelo autor, tal processo ocorre quando grupos sociais são encurralados, confinados, isolados e estigmatizados em um quadrante reservado e restrito do espaço físico e social. São quatro os elementos estruturais que atuam nessa dinâmica: estigma, restrições, atribuição espacial e paralelismo institucional. Sobre este último, como a população é pressionada a residir exclusivamente em determinados territórios e a sobreviver com recursos escassos, dentro de uma infraestrutura precária, desenvolve-se um conjunto de instituições locais que duplicam e substituem as instituições da sociedade mais ampla (ibid.).
Já, para Sampson e Wilson3 3 Particularmente, o trabalho de Wilson (2012 [1987]) foi responsável por trazer o conceito de isolamento social como chave explicativa central no entendimento dos problemas enfrentados nos espaços de pobreza. O autor buscou fazer um contraponto à tese da cultura da pobreza, que na época estava ganhando espaço no debate norte-americano. Para ele, a cultura da pobreza implica que valores e atitudes básicas da subcultura dos espaços de pobreza foram internalizados e, assim, influenciam o comportamento (ibid., p. 60). Já o isolamento social, por sua vez, não significa apenas que o contato entre grupos de diferentes classes e/ou origens raciais está faltando ou se tornou cada vez mais intermitente, mas que a natureza desse contato aumenta os efeitos de viver em uma área de pobreza altamente concentrada (ibid., p. 61). (1995 e 2020), autores mais identificados com os fundamentos dos pensadores clássicos de Chicago, os padrões macrossociais de desigualdade residencial dão origem ao isolamento social e à concentração dos verdadeiramente desfavorecidos. Isso, por sua vez, engendra adaptações culturais que minam o controle informal da violência nos espaços de pobreza. Ademais, os autores entendem que existe uma ausência de contato e interação sustentada entre pessoas que vivem nos espaços de pobreza e instituições que representam o mainstream da sociedade. Esse déficit interacional produz diferentes esquemas compartilhados ecologicamente que influenciam a probabilidade de ocorrência de crimes, comportamentos desviantes e respeito às normas formais (legal cynicism) (Sampson e Wilson, 1995SAMPSON, R. J.; WILSON, W. J, (1995). “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”. In: HAGAN, J.; PETERSON, R. D. (eds.). Crime and inequality. Stanford, Stanford University Press, pp. 37-56., p. 16).
Um exemplo de aproximação do quadro descrito por Sampson e Wilson pode ser encontrado na pesquisa de Anderson (2000)ANDERSON, E. (2000). Code of the street: Decency, violence, and the moral life of the inner city. Nova York, WW Norton & Company.. Também, tendo como foco o isolamento e a segregação nos espaços de pobreza, o autor afirma que esse processo gera profunda alienação e ressentimento em relação ao conjunto mais amplo da sociedade. A principal consequência dessa disjunção é o que Anderson denominou código da rua, cujo cerne está baseado num conjunto de regras informais em torno de uma busca desesperada pelo respeito e do uso da força no âmbito das relações sociais públicas, especialmente entre os jovens (ibid., p. 10).
Pensando sobre a realidade brasileira, Caldeira (2000)CALDEIRA, T. P. (2000). Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo, Editora 34. analisou a emergência de um padrão de segregação urbana centrado da criação de enclaves fortificados. Na definição da autora, esses enclaves são:
espaços privatizados, fechados e monitorados, destinados a residência, lazer, trabalho e consumo [...] Eles atraem aqueles que temem a heterogeneidade social dos bairros urbanos mais antigos e preferem abandoná-los para os pobres, os “marginais”, os sem-teto. (Ibid., p. 12)
Além de criarem uma nova ordem privada, os enclaves formam o cerne do meio urbano, reforçando e valorizando desigualdades e separações (ibid.). Nesse modelo de cidade, os espaços de pobreza encontram-se cada vez mais isolados e criminalizados simbolicamente. Os seus moradores, por sua vez, passam cada vez com mais frequência por processos cotidianos de preconceitos, subjugamentos e violências tanto por parte dos habitantes dos tais enclaves quanto pelas instituições estatais, principalmente via corporações policiais.
Dentre os autores citados até o momento, o trabalho feito por Sanchez-Jankowski (2008)SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press. talvez seja o que tenha se dedicado à elaboração de uma teoria sociológica voltada para entender as dinâmicas internas dos espaços de pobreza. Na definição do pesquisador, esses espaços são ambientes dominados pela escassez financeira e por recursos, em que os moradores aprendem a entender sua natureza, seu próprio lugar dentro dele e como se sustentar nele (ibid., p. 61).
Em termos de divisão, os espaços de pobreza são fragmentados em função dos distintos status que certos grupos de moradores possuem em relação aos outros. As variáveis que impactam esse processo de diferenciação são: tempo de residência, situação ocupacional, gênero e redes de contato internas e externas (ibid., p. 31). Uma outra importante diferenciação estabelecida pelo autor diz respeito às orientações de valores que guiam os projetos de vida. Alguns moradores buscam um senso de segurança financeira e física diante dos elementos predatórios locais. Estes são os maximizadores da segurança (ibid., p. 28). Existem, também, aqueles que orientam suas vidas para a obtenção do maior nível de excitação, pois acreditam que, diante de tantas adversidades macroestruturais, é praticamente impossível viver uma vida estável (ibid., p. 29).
Embora existam discordâncias entre os autores supracitados,4 4 A limitação do espaço deste artigo não nos permite aprofundarmos nas fissuras desses debates. Para um maior adensamento, ver: Wacquant (2002), Anderson (2002); Sampson (2014b) e Wilson (2014). todos refletem sobre os espaços de pobreza a partir da chave isolamento/segregação e das especificidades que esse processo gera. Uma vez segregados, os habitantes dos espaços de pobreza são compelidos a desenvolverem uma série de processos de governanças locais de diversos aspectos da vida social, pois estão diante de um ambiente institucional no qual as demandas locais não são suficientemente supridas. A violência, que é o nosso foco, também faz parte de conjunto de arranjos informais, e por vezes criminais, que ganham contornos relevantes nas periferias das grandes cidades brasileiras. A próxima seção tratará da relação entre o isolamento e a consolidação de sistemas não estatais de governança da violência.
Do isolamento ao surgimento de formas de governança não estatais da violência
Em termos estritos, quando falamos de governança de forma mais ampla, estamos nos referindo à habilidade de um governo fazer, forçar o cumprimento de regras e entregar serviços, independentemente do tipo de regime (Fukuyama, 2013FUKUYAMA, F. (2013). What is governance? Governance, v. 26, n. 3, pp. 347-368., p. 350). Quando fazemos um recorte mais específico para a governança da violência, buscamos responder à seguinte questão: “Como a vida e a morte são reguladas e por quem?” (Willis, 2015WILLIS, G. D. (2015). The killing consensus: police, organized crime, and the regulation of life and death in urban Brazil. California, University of California Press., p. 4).
Em tese, a resposta deveria apontar para uma única direção: o Estado, pois uma das razões que justificam a sua existência é o monopólio do uso da força, conforme a definição clássica de Max Weber (Weber, 2021 [1919]). No entanto, em diversos países do mundo, o Estado não tem enforcement suficiente para se impor como monopolizador de violência, enquanto, em outros tantos países, setores dentro do aparelho estatal cooperaram ativamente com grupos criminosos (Koivu, 2013KOIVU, K. (2013). Organized crime and the state: the political economy of illicit markets. In: APSA 2013 ANNUAL MEETING PAPER. Annual Meeting. American Political Science Association.; Auyero e Sobering, 2019AUYERO, J.; SOBERING, K. (2019). The ambivalent state: police-criminal collusion at the urban margins. Oxford, Oxford University Press.; Yashar, 2018YASHAR, D. J. (2018). Homicidal ecologies: Illicit economies and complicit states in Latin America. Cambridge, Cambridge University Press.).
Ao longo dos últimos anos, diversos estudos buscaram analisar como a governança estatal interage com a sua contraparte criminal, que, via de regra, estabelece seus respectivos regimes armados nas periferias isoladas e segregadas das grandes cidades. Snyder e Duran-Martinez (2009SNYDER, R.; DURAN-MARTINEZ, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. Crime, law and social change, v. 52, n. 3, pp. 253-273., p. 269) denominam essa relação esquemas de proteção patrocinados pelo Estado,5 5 Por uma questão de espaço, apenas citaremos outras pesquisas importantes sobre os diversos tipos de associações entre Estado, ou setores dentro do aparelho estatal, e grupos criminosos: Estado cúmplice (Yashar, 2018), Estado híbrido (Jaffe, 2013), soberania por consenso (Willis, 2015). Estado ambivalente (Auyero e Sobering, 2019); simbiose (Lessing, 2021); governança colaborativa (Arias, 2017). cujo cerne passa pela formação de instituições informais, através das quais funcionários públicos se abstêm de fazer cumprir a lei ou, alternativamente, aplicam-na seletivamente contra os rivais de uma organização criminosa, em troca de uma parte dos lucros gerados pelos grupos. Conforme Muniz e Dias (2022MUNIZ, J. D. O.; DIAS, C. N. (2022). Domínios armados e seus governos criminais-uma abordagem não fantasmagórica do “crime organizado”. Estudos Avançados, v. 36, pp. 131-152., p. 145) observam, há negociações sobre a presença e tolerância estatais, assim como há formas variadas de interação, como a pagamento do “arrego”, os acordos velados, as parcerias explícitas e até o que produz indistinção do que é ou não o Estado, como no caso das milícias que atuam na cidade do Rio de Janeiro. São, em resumo, relações de cooperação, conluio, acomodação e corrupção nas quais as fronteiras entre fins públicos e interesses privados são difíceis de serem diferenciadas (Adorno e Alvarado, 2022ADORNO, S.; ALVARADO, A. (2022). Criminalidade e a governança de grandes metrópoles na América Latina: Cidade do México (México) e São Paulo (Brasil). Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 79-115., p. 108).
A partir dessas constatações, emergiram teorias sobre o fenômeno da governança não estatal da violência que se contrapõem à concepção weberiana de monopólio estatal da violência, pois, como Trejo e Ley (2020TREJO, G.; LEY, S. (2020). Votes, drugs, and violence: the political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge, Cambridge University Press., p. 288) destacam, nem sempre essa visão pode ser usada como um descritor empírico do que os Estados realmente são ou do que os agentes estatais aspiram. Uma implicação importante desse movimento é reconhecer as múltiplas faces do Estado e a perda de fundamento de explicações que afirmam que regimes não estatais de governança da violência existem em função da ausência do Estado. Ao invés de um argumento pautado nessa premissa, essas teorias apontam que o surgimento de sistemas de governança não estatais da violência é um subproduto do processo de construção do Estado (Koivu, 2013KOIVU, K. (2013). Organized crime and the state: the political economy of illicit markets. In: APSA 2013 ANNUAL MEETING PAPER. Annual Meeting. American Political Science Association., p. 29) e indicam que a análise deve ser voltada para as redes estatais-criminosas que permitem a existência desses regimes (Trejo e Ley, ibid., p. 289), bem como a interação entre esses entes na produção de ordem e desordem nos espaços de pobreza (Arias, 2017ARIAS, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.).
Estritamente falando, nos locais em que grupos criminosos governam, a violência existe, o que é chamado de governança criminal, que aqui estamos entendendo, tendo como referência a definição dada por Mantilla e Feldmann (2021)MANTILLA, J.; FELDMANN, A. E. (2021). Criminal Governance in Latin America. Oxford Research Encyclopedia of Criminology n. 26. Oxford, Oxford University Press.., como a regulação da ordem social por parte de grupos criminosos, incluindo economias informais ou ilegais, por meio do estabelecimento de instituições informais que substituem, complementam ou competem com o Estado e distribuem bens públicos.
No campo da violência, esses regimes estabelecem códigos, normalmente não escritos, de regulação do uso da força, que são comunicados e impostos fora dos canais oficiais de comunicação (Helmke e Levitsky, 2006HELMKE, G.; LEVITSKY, S. (eds.). (2006). Informal institutions and democracy: lessons from Latin America. Baltimore, Johns Hopkins University Press., p. 5), construindo regimes de punição, cujo nível de repressão varia de grupo para grupo, que penalizam tantos os próprios membros quanto aqueles que vivem nas áreas dominadas territorialmente (Magaloni, Franco-Vivanco e Melo, 2020). Todavia, nem todo grupo criminoso é capaz ou tem interesse em estabelecer um regime de governança criminal. Nesse sentido, Lessing (2021LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873., p. 3) faz uma importante demarcação do fenômeno, definindo que um sistema de governança criminal ocorre, de fato, quando vidas, rotinas e atividades daqueles que são governados são diretamente afetadas pelas regras e pelos códigos impostos por uma organização criminosa.
Também existem cenários em que a governança estatal da violência estatal é inócua, do ponto de vista da satisfação dos moradores, mas também não há nenhum grupo criminoso que exerça esse processo na prática, além de inexistir uma cooperação entre regimes armados e atores estatais. Em contextos como este, o processo de governança da violência pode vir a ser exercido pela vizinhança ou por determinados atores comunitários com capacidades específicas, que estamos denominando cuidadores. Chamaremos essa modalidade de governança comunitária não estatal da violência. Para Ley, Mattiace e Trejo (2019) boa parte dos locais onde esses arranjos são bem-sucedidos está baseada em mecanismos de controle social interno que se consolidaram porque foram apoiados por redes translocais desenvolvidas ao longo de anos de mobilização e articulações.
Também não descartamos a possiblidade de esses dois tipos de regimes coexistirem em um mesmo espaço. Em sua pesquisa de campo na Cidade de Deus, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Fahlberg (2018)FAHLBERG, A. N. (2018). Rethinking Favela governance: non violent politics in Rio de Janeiro’s gang territories. Politics & Society, v. 46, n. 4, pp. 485-512. constatou a coexistência de um regime de governança criminal e um sistema comunitário, sem ligação com o mundo do crime, protagonizado por ativistas comunitários que desempenham um papel importante no funcionamento da comunidade.
Seja qual for a fonte do sistema e o seu escopo, Adorno e Alvarado (2022ADORNO, S.; ALVARADO, A. (2022). Criminalidade e a governança de grandes metrópoles na América Latina: Cidade do México (México) e São Paulo (Brasil). Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 79-115., p. 108) fazem uma importante observação:
a ideia de governança não deve ser entendida de forma instrumental, com ações isoladas do contexto. Nesse sentido, não se pode concluir que a governança criminosa de alguns bairros, comunidades ou partes de territórios se traduza em governança da cidade.
Essa situação descrita acima faz todo o sentido quando pensamos em uma cidade como o Recife. A capital pernambucana não apresenta indícios da presença das grandes facções que atuam em nível nacional, como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), nem foi palco do surgimento de regimes armados locais com capacidade de impor um sistema de governança criminal nos espaços de pobreza, como podemos observar em Fortaleza (Briceño-Léon, Barreira e Aquino, 2022) e Maceió (Motta et al., 2022MOTTA, L. et al. (2022). Fora do crime no “mundo do crime”: experiências juvenis em meio à guerra em periferias de Maceió e Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 387-414.). Nesse sentido, a governança da cidade do Recife, pensando-a em todos os seus aspectos, para além da questão do crime e da violência, não é afetada pelos sistemas não estatais de governança da violência existentes na cidade.
Já na cidade de São Paulo temos uma farta documentação do avanço e controle do PCC (Feltran, 2018FELTRAN, G. (2018). Irmãos: uma história do PCC. São Paulo, Companhia das Letras.; Manso e Dias, 2018MANSO, B. P.; DIAS, C. N. (2018). A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo, Todavia.; Lessing e Willis, 2019LESSING, B.; WILLIS, G. D. (2019). Legitimacy in criminal governance: Managing a drug empire from behind bars. American Political Science Review, v. 113, n. 2, pp. 584-606.). Feltran (2010)FELTRAN, G. (2010). Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo. Caderno CRH, v. 23, pp. 59-73. fez uma análise de como o PCC exerce o processo em questão nas periferias da cidade, por meio da constituição de tribunais do crime e da instituição de figuras específicas, conhecidas como “disciplinas”, em cada território. O trecho abaixo, extraído da pesquisa de Biondi (2018)BIONDI, K. (2018). Proibido roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC (vol. 1). São Paulo, Terceiro Nome., mostra como o “disciplina” do PCC atua na governança da violência:
Ali, como pude acompanhar, as disciplinas da quebrada “davam atendimento à população”. Ficavam à disposição em algum lugar conhecido dos moradores e os recebiam para ouvir suas queixas, “dar uma atenção” e, conforme o caso, resolver o problema ou levar a ideia adiante. Em um desses atendimentos, uma mulher pedia o aval para agredir outra que, segundo ela, a havia xingado e desmoralizado diante de sua família e dos vizinhos. Os irmãos a ouviram atentamente e, no fim, pediram para que ela procurasse outro determinado irmão, que ele poderia resolver o caso. (p. 235)
Embora exista um nível de discricionariedade e contingência nas punições, conforme salienta Biondi (ibid.), tanto os vereditos dos julgamentos, quanto as decisões das disciplinas, mesmo que causem contrariedade aos envolvidos, são respeitados e cumpridos. Assim sendo, a governança da violência do PCC, na cidade de São Paulo, forma o que foi delineado por Skarbek (2014)SKARBEK, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press. como uma sólida instituição extralegal na qual é possível identificarmos um alto nível imposição dos seus mecanismos de governança da violência.
Outro caso semelhante, e até mais abrangente, é o da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Um relatório publicado pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos na Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP)6 6 Disponível em: http://geni.uff.br/2021/03/26/mapa-dos-grupos-armados/. Acesso em: 18 dez 2022. mostra que quase 70% dos moradores da cidade vivem em áreas dominadas por milícias ou por grupo que atuam no varejo de drogas. Em apenas 2% do município não foi constatada a ação de qualquer grupo criminoso. Esses dados nos mostram que não é exagero afirmarmos que a maior parte dos moradores da cidade do Rio de Janeiro lida mais, ou com a mesma frequência, com sistemas de governanças criminais do que com a governança estatal.
Em síntese, essa breve comparação entre as cinco cidades citadas acima nos mostra que os sistemas de governança não estatais da violência que emergem nos espaços de pobreza das nossas cidades não são homogêneos. Pelo contrário, cada realidade possui a sua formatação particular. Alguns têm capacidade e abrangência para afetar o modo como certas cidades são governadas enquanto outros sistemas não ultrapassam os limites do seu bairro em termos de influência. A seguir, destrincharemos empiricamente como esse processo ocorre na comunidade onde fizemos esta pesquisa.
O papel dos cuidadores na governança da violência da comunidade
Assim que passamos a fazer observações e realizar entrevistas na comunidade, pudemos constatar que as percepções dos moradores em relação à governança estatal da violência e dos conflitos interpessoais são extremamente negativas. A polícia e a justiça não são vistas como instâncias dotadas de legitimidade, com capacidade de atuar na mediação de conflitos, na prevenção da violência e na repressão qualificada. O foco da atuação da polícia na comunidade é o superpoliciamento do varejo do mercado do crack (Daudelin e Ratton, 2017DAUDELIN, J.; RATTON, J. L. (2017). Mercados de drogas, guerra e paz no Recife1. Tempo Social, v. 29, pp. 115-134., p. 122). Nesse modelo, a busca por mediar conflitos com potencial de gerar o uso da força é algo que não ocorre. Conforme disse um entrevistado: “A polícia só chega depois que o sangue escorre. Eles vivem pela comunidade, mas, quando alguém mete bala, parece que eles somem”.
Pudemos observar situações e colher depoimentos que apontam que a Polícia Militar (PM) atua alterando a ordem local por meio de ações imprevisíveis que, via de regra, envolvem o uso desproporcional da força e uma série de constrangimentos, direcionados principalmente a homens, o que constitui uma das maiores ofensas em termos do sistema de valores local. A experiência prática de alguns dos nossos interlocutores no campo também coloca em xeque os mecanismos de controle da corporação sobre ela mesma. É dado como certo que uma denúncia acerca da má conduta de um policial pode acarretar algum tipo de revanchismo. Ademais, a PM atua acirrando conflitos e criando situações que aumentam o nível de tensão entre os moradores (Cavalcanti Filho, 2022CAVALCANTI FILHO, R. C. (2022). Um estudo etnográfico sobre a atuação da polícia militar em uma comunidade do Recife. Mediações-Revista de Ciências Sociais, v. 27, n. 1, pp. 1-20.).
À vista disso, estamos falando de um cenário de cinismo jurídico (Kirk e Matsuda, 2011KIRK, D. S.; MATSUDA, M. (2011). Legal cynicism, collective efficacy, and the ecology of arrest. Criminology, v. 49, n. 2, pp. 443-472.), no qual os moradores são menos propensos a denunciar crimes à polícia e buscar o poder judiciário quando acreditam que estão tendo algum direito violado ou querem resolver determinados tipos de conflitos. Em razão disso, a governança estatal da violência e dos conflitos interpessoais é algo em que os moradores não confiam nem acreditam que possa gerar soluções que contenham o uso da força.
Em seguida, baseados em estudos paradigmáticos no campo da governança da violência (Feltran, 2011FELTRAN, G. (2011). Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Editora da Unesp.; Arias, 2017ARIAS, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.; Skarbek, 2020SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press.; Manso; 2020MANSO, B. P. (2020). A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro. São Paulo, Todavia.; Lessing, 2021LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873.), buscamos analisar se havia algum tipo de regime armado estabelecido com algum tipo de governança dos conflitos interpessoais na comunidade. A despeito de diferenças teóricas e metodológicas, essas pesquisas apontam que o fenômeno da governança não estatal da violência nos espaços de pobreza tende a emergir a partir de grupos criminosos com enforcement para impor regras de um regime que alterna punições físicas com a promoção de justiça e bem-estar.
Após um período de vácuo de poder, no qual o controle sobre o mercado de drogas local ficou sem um “chefe”, dois irmãos tomaram os seis pontos de venda de drogas da comunidade. De acordo com um interlocutor: “eles precisaram matar muito para terem o controle, mas conseguiram. Hoje são eles que “botam” [controlam] aqui”. Embora tenham crescido e estabelecidos laços na comunidade, os irmãos não moram mais lá hoje em dia. Eles atuam tendo como foco a governança do varejo do mercado de drogas, em especial o crack. São três as situações nas quais os conflitos violentos emergem nesses espaços: o acerto de contas no varejo do crack, ao modo como é descrito por Daudelin e Ratton (2017)DAUDELIN, J.; RATTON, J. L. (2017). Mercados de drogas, guerra e paz no Recife1. Tempo Social, v. 29, pp. 115-134.; certos momentos em que vendedores que atuam na ponta resolvem comprar droga mais barata de outro fornecedor para terem uma maior margem de lucro; e quando alguém é suspeito de colaborar com as forças policiais.
Todavia, não há registros da atuação dos irmãos na governança da violência para além dos mercados. Embora tenham enforcement e enraizamento social para fazê-lo, a dupla restringe suas ações apenas à governança do mercado de drogas. Para Sanchez-Jankowski (2008SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press., pp. 297-298), um grupo criminoso pode atuar em um território de duas formas. A primeira delas é enquanto instituição comunitária. Os grupos que atuam com esse viés desempenham funções voltadas para a preservação da ordem social e das normas que regem o sistema de interação social dos territórios, bem como prestam suporte aos residentes em diversas situações. O segundo modo de atuação ocorre quando o grupo assume o caráter de uma empresa econômica. Nessa configuração, os grupos focam em suas próprias necessidades e não nos interesses fundamentais da comunidade. Esse segundo tipo é a forma atual de comportamento da dupla que controla do varejo de drogas na comunidade. Contudo, não podemos afirmar que se trata de uma posição definitiva.
Sendo assim, uma questão permanecia sem resposta: se os moradores não confiam na polícia e na justiça e, ao mesmo tempo, não há uma estrutura criminal voltada no tema, como funcionam os mecanismos de governança da violência no âmbito local?
Em relação às instituições comunitárias existentes no local, não observamos ações no campo da governança não estatal da violência. Conforme pudemos constatar, a agenda das instituições comunitárias do local foi monopolizada em torno da questão da habitação. Isso ocorre pelo fato de um conjunto habitacional estar sendo construído num terreno que fica nas proximidades da comunidade. Ademais, alguns líderes comunitários entendem que as instituições locais não conseguiram compreender as dinâmicas da violência local a ponto de produzirem algum nível de controle informal de modo sistemático.
As entrevistas e as observações etnográficas mostram que esse processo ocorre de maneira assistemática, a partir de alguns atores que, por iniciativa própria, resolvem mediar conflitos. Conforme categorizamos no tópico anterior, existe o que denominamos um sistema de governança comunitário da violência. Segundo detalharemos adiante, esses atores buscam atuar em situações tensas, a fim de estabelecer acordos entre partes, sem que o uso da força ocorra. No idioma local, esses indivíduos são dotados de “moral”, que consiste num certo tipo de autoridade com alta probabilidade de obediência sem que o uso da força seja preciso.
Nesse sistema protagonizado por indivíduos, não há a formação de instituições informais de governança, com papéis sociais definidos, regras e normas de procedimentos, como preconizado por Skarbek (2014)SKARBEK, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press.. O que conta, nesse cenário de governança assistemática da violência, são os capitais, mais especificamente os recursos que cada um deles obtém e que legitimam suas ações, sendo o resultado a construção de uma fonte diferencial de poder. Sendo assim, temos um processo fundamentalmente menos abrangente do que os grupos pesquisados por Cano e Iott (2008)CANO, I.; IOTT, C. (2008). Seis por meia dúzia. Segurança, tráfico e milícia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Fundação Heinrich Böll. e Manso e Dias (ibid.), o que não necessariamente diminui o impacto desses atores na prevenção de situações com potencial de gerar atos violentos.
Estamos categorizando-os como cuidadores, no sentido empregado por Gans (1982)GANS, H. J. (1982). Urban villagers. Nova York, Simon and Schuster. e Sanchez-Jankowski (2008)SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press., que exercem um processo de governança mínima (Skarbek, 2020SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press.) da violência interpessoal na comunidade. De acordo com os argumentos apresentados por Sanchez-Jankowski (2008)SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press., o cuidador é uma figura característica dos espaços de pobreza. Os (As) cuidadores(as) são encarregados(das) de divulgar informações sobre as regras, monitorar normas e administrar os conflitos que surgem dentro dos limites das comunidades. Via de regra, a dinâmica das ações é voltada para a preservação da estrutura social do bairro (configuração de instituições) e ordem social (hierarquias de status) (ibid., p. 47). As ações dos cuidadores não são atos meramente altruístas, mas frutos de relações recíprocas, nas quais o cuidador oferece os seus serviços em troca de retornos, que podem ser materiais ou imateriais (Gans, 1982GANS, H. J. (1982). Urban villagers. Nova York, Simon and Schuster., p. 145). Ademais, as relações estabelecidas pelos cuidadores não são compulsórias. Eles podem rejeitar mediar situações em que os envolvidos rejeitem suas orientações (ibid.).
Em relação ao campo de pesquisa, pudemos observar que, para serem cuidadores, os atores que acompanhamos possuem certas características que os fazem dotados de legitimidade perante os demais moradores, de uma forma que nem a polícia, nem a justiça conseguem. A primeira, e possivelmente a mais importante de todas, é uma estreita ligação temporal com o local. Trata-se de pessoas que nasceram, cresceram e permanecem na comunidade durante a vida adulta. Esse tempo de vivência resulta no estabelecimento de amizade com muitas pessoas, no respeito e num relativo nível de confiança com os vizinhos. Ademais, esse fator também faz com que os cuidadores conheçam profundamente o funcionamento e a dinâmica da violência na comunidade.
A segunda característica, que não deixa de ser interligada à primeira, diz respeito à reputação. A biografia desses atores é composta por capítulos repletos de ações dentro daquilo que o sistema de valores local considera como certo. Isso significa dizer que essas figuras não se envolveram em atos públicos de violência que, aos olhos dos demais, fossem injustificáveis. Ainda, outro aspecto substancial referente à reputação é a desassociação com o uso ou a venda do crack e com qualquer laço colaborativo com a polícia. Quem colabora com a polícia é conhecido como “Siri” e é tido como uma pessoa pouco confiável. Já o usuário de crack é associado ao estigma do “noiado”, o que implica uma série de julgamentos sobre personalidade e caráter. A reputação também é ponderada a partir da realização de boas ações. O cuidador bem-estabelecido é aquele que já ajudou muita gente, ao indicar, por exemplo, o que deve ser feito no âmbito da burocracia estatal, emprestar dinheiro, arrumar empregos, entre outras atitudes.
A soma dessas duas características faz com que os cuidadores consigam atuar como um pêndulo entre os diversos tipos de projetos de vida e visões de mundo de vida que existem dentro da comunidade. Notadamente, os cuidadores conseguem costurar acordos e estabelecer diálogos entre os grupos que estão nos extremos, os maximizadores da segurança e os que orientam suas vidas para a obtenção do maior nível de excitação (Sanchez-Jankowski, 2008SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press.). Embora não seja algo constante e sistemático, essa costura feita pelos cuidadores evita que exista uma profunda polarização entre tais projetos.
De acordo com Ulisses, um dos cuidadores que acompanhamos durante a pesquisa, o principal desafio desse processo da violência na comunidade diz respeito ao alto nível de imprevisibilidade no qual um conflito pode erodir. Um agredido pode retornar ao local da briga com algum tipo de arma, que pode ser de fogo ou branca, ou pode até mesmo retornar com um grande grupo de amigos para se vingar imediatamente. Nesse de tipo de lógica, a violência aparece como um recurso comum e volátil na resolução de conflitos.
Os contextos nos quais as situações podem “inflamar” são diversos. Tais “inflamações” podem ocorrer em partidas de futebol, nas festas, nos bares, no âmbito do mercado de drogas, etc. Também há a lógica da busca por auxílio, o que acaba aumentando numericamente os atores envolvidos em uma contenda. Em suma, a fronteira que separa a utilização ou não da violência é bastante tênue. Os cuidadores precisam saber o momento exato para agir. Caso isso não aconteça, um conflito violento pode se espraiar no âmbito da comunidade de forma rápida. Mostraremos a seguir quem são os cuidadores que conseguimos identificar e acompanhar ao longo do trabalho de campo.
Quem são os cuidadores
Ulisses foi o cuidador que mais acompanhamos ao longo do período que moramos por lá. Ele é tido por muitos como o maior mediador de conflitos do local. Nas diversas vezes em que andamos com ele pela comunidade, foi relativamente fácil notar sua popularidade. Por onde andava, era saudado por moradores. Sua rede de amizades é extensa. Embora não tenha nascido na comunidade, mudou-se para lá ainda adolescente. Poucos meses depois de sua mudança, sua mãe foi vítima de uma bala perdida e acabou morrendo. Esse episódio foi definitivo para ele consolidar a ideia de que precisava fazer algo pelo lugar e tentar mudar a realidade de outras famílias, para que casos como o da sua mãe não se repetissem.
Sua trajetória foi marcada por oportunidades que o fizeram adquirir recursos e vivências que ampliaram sua visão de mundo e o fizeram ser visto com alguém com uma série de aptidões que não são usuais naquele espaço. Alguns exemplos da singularidade da sua trajetória são: estudou em colégio particular, entrou nos circuitos da arte de rua brasileira, fundou uma das partidas de futebol mais populares do local e já recebeu prêmios internacionais por seu ativismo. Em 2020 e 2022, ele foi candidato a vereador e deputado federal respectivamente, mas não consegui se eleger em ambos os pleitos.
Em termos de reputação, Ulisses pode ser definido como um indivíduo que goza de prestígio e é respeitado entre os seus vizinhos. Nunca se envolveu em casos que resultaram em violência, por exemplo. Há pouco mais de uma década, Ulisses criou, em conjunto com alguns amigos, um coletivo de arte cujo objetivo era valorizar o conteúdo artístico local. Em uma das primeiras ações do grupo, várias palafitas foram grafitadas, com autorização dos moradores. Essa ação foi tida como bem-sucedida, pois, na visão de muitos, trouxe um pouco de alegria e vida aos espaços mais degradados da comunidade.
Outro cuidador que acompanhei é o grande parceiro de Ulisses, Ariel. Sua trajetória assemelha-se à do primeiro. Por meio da arte, Ariel realiza uma série de ações sociais e serve como um espelho para os mais jovens. Numa de suas ações recentes, o artista levou diversas crianças a uma barbearia de classe média no bairro no qual está localizada a comunidade. As crianças jogaram videogame, participaram de torneios, ganharam brinquedos e novos cortes de cabelo. Para essas crianças, essa foi uma oportunidade única de lazer e diversão, o que só foi possível graças às articulações feitas por Ariel. Em conversas informais com algumas mães, elas fizeram questão de ressaltar a gratidão pelo artista e pelo dia que seus filhos tiveram.
Um outro cuidador que tivemos oportunidade de acompanhar foi Jorge, que se autointitula como “um traficante de livros”: “Quando eu nasci, um anjo doido me disse: ‘viverás no lugar errado pra fazer a coisa certa’”, esse é o mantra que ele sempre faz questão de repetir. Imbuído do espírito de mudar a vida dos jovens da comunidade, Jorge criou um projeto chamado de Livroteca. A primeira sede da Livroteca foi numa palafita na beira no rio. A partir de muito esforço dos envolvidos e do estabelecimento de parceiras, a Livroteca hoje está sediada num imóvel que estava desocupado há mais de dez anos e sendo utilizado como ponto de consumo e de venda de crack.
Ulisses, Ariel e Jorge podem ser caracterizados como cuidadores dentro de um mesmo perfil. Eles viram uma série de parentes e amigos serem mortos, presos, sucumbirem ao uso compulsivo em crack, sem que nada fosse feito para que esse ciclo perverso fosse rompido. A partir desse cenário, os três entendem que têm uma função social específica na comunidade. Eles trabalham ancorados em projetos artísticos e sociais cujos objetivos envolvem proporcionar oportunidades e momentos de lazer e, o mais importante, tirar as crianças e os adolescentes, alvos principais das ações, das ruas e do contato com a violência local. Além disso, eles se veem enquanto militantes e articuladores sociais, que buscam trazer recursos e investimentos para a comunidade no campo social.
Em função do prestígio e da notoriedade dessas figuras, a governança da violência aparece como algo extra/espontâneo. Os casos vão chegando até eles de maneira improvisada, e, com o desenrolar dos acontecimentos, esses homens vão ficando a par das histórias. Em alguns momentos, são procurados para mediar alguma situação; noutros, com base num conjunto de experiências, eles procuram antecipar-se a certos episódios cujo potencial de produção de violência é iminente. Não há nenhum tipo de regularidade nessas operações. Umas são frutos do acaso, e outras são oriundas de algum tipo de cálculo antecipatório por parte dos reguladores. A próxima seção trará exemplos concretos dessas situações.
O quarto cuidador que acompanhei durante a pesquisa, Arturo, difere em relação aos outros três no tocante à diferença do processo que o conferiu legitimidade dentro da comunidade. Embora não tenha nascido lá, Arturo foi com um ano de vida para a comunidade. Sua família é extensa, sendo formada por mais 6 irmãs e 1 irmão. Em relação aos seus irmãos, Arturo é o único que ainda mora na comunidade. Hoje, com 62 anos, ele se diz aposentado. Trabalhou 38 anos como caminhoneiro, depois mais 6 como segurança particular, contudo, cansou de ter um chefe e resolveu ter sua própria fonte de renda, que veio por meio de investimentos no mercado imobiliário da comunidade.
Atualmente, Arturo é dono de vários imóveis, e sua renda é proveniente de aluguéis, o que lhe proporciona vencimentos acima da média local. Internamente, ele é visto como alguém com dinheiro. Suas obras de construção e reformas, que ocorrem num ritmo constante, empregam em média 6 pessoas a cada empreitada. Arturo faz questão de empregar pessoas da comunidade. Sempre que pode, ele também compra os materiais de construção nos armazéns locais. Esse conjunto de ações faz com que Arturo seja visto como alguém que proporciona oportunidade para os demais moradores. É dessa força econômica que provém sua fonte de legitimidade.
A capacidade de Arturo de exercer algum tipo de governança da violência está alicerçada no seu poder econômico. Para um ator, abdicar do uso da violência em uma certa situação a pedido de Arturo pode ser interpretado como benéfico. O ganho pode ser algum emprego no futuro ou a intermediação de algum outro serviço, a chamada “Oia”. Uma recusa, por sua vez, pode representar uma redução de oportunidades numa futura transação, uma espécie de embargo econômico por parte de Arturo. Mesmo com um relativo potencial para ser um cuidador, ele se utiliza pouco do seu status. Para ele, interferir em certos conflitos pode trazer problemas com algumas pessoas e chamar a atenção da polícia para suas atividades de construtor. É uma tarefa com muitos custos e poucos benefícios. Sua intervenção em determinadas situações advém fundamentalmente de algum pedido familiar ou de alguém muito próximo.
As formas de atuação dos cuidadores
Logo na primeira semana em que estávamos morando na comunidade, houve um caso emblemático de como os cuidadores atuam governando a violência de maneira informal. A história passou-se durante um festival realizado ali, quando um homem invadiu uma área de uso exclusivo de mulheres e dormiu ao lado de uma menina, que estava na comunidade apenas por ocasião da festividade, sem o seu consentimento. A menina sentiu-se violentada sexualmente e prestou queixa contra o rapaz.
Em função dessa denúncia, o rapaz, que estava em liberdade condicional, acabou sendo preso novamente por policiais que faziam rondas de moto pela comunidade. Ele ficou indignado com a falta de suporte dos moradores da comunidade em relação a seu caso, pois ninguém testemunhou a seu favor. Esse rapaz veio parar ali através de um pedido de sua mãe a Ariel. Segunda sua genitora, o rapaz estava jurado de morte na cidade onde eles moravam em virtude de dívidas no mercado de drogas. Ele era usuário compulsivo de crack. Além disso, já havia sido preso algumas vezes. Uma dessas acusações era de homicídio. Ao pedir para Ariel acolhê-lo na comunidade, a mãe do rapaz buscava uma oportunidade de salvar a vida de seu filho.
Ariel aceitou o pedido. Como parte das atividades, o rapaz passou a trabalhar nos projetos sociais existentes no local. Todavia, mesmo diante dessa oportunidade, ele continuou cometendo roubos e se envolvendo em brigas. Um processo diferente ocorreu com seus dois amigos, que também tinham um perfil semelhante ao seu e que foram para a comunidade como uma forma de se reinserirem na sociedade. Hoje em dia, os dois são evangélicos e se afastaram do “mundo do crime”, segundo Ulisses.
O rapaz, por sua vez, não aproveitou a oportunidade que lhe foi concedida. O caso da menina foi o estopim de uma série de crimes cometidos por ele desde que passou a morar ali. Ele acabou voltando ao regime fechado. Meses após essa detenção, o rapaz voltou às ruas em liberdade condicional. Nos primeiros contatos com os atores da comunidade que haviam lhe dado a oportunidade, o rapaz mostrou-se extremamente irritado com a falta de apoio que lhe deram.
De acordo com Ulisses, ele queria se vingar daqueles que não o defenderam. Dado o histórico de problemas gerados pelo rapaz, Ulisses e Ariel passaram a temer que alguns episódios violentos fossem desencadeados em função do seu desejo de vingança. De maneira preventiva, ambos se articularam para ir até a residência do rapaz, a fim de dissuadi-lo de uma possível vingança contra aqueles que lhe viraram as costas. O problema, segundo Ulisses, era que o rapaz era uma figura intimidadora por causa de seu tamanho e de sua força. Convencê-lo a não fazer uso da violência não seria uma tarefa fácil. Caso algo desse errado na forma de condução do caso, tanto Ulisses quanto Ariel poderiam ser alvos da fúria do rapaz.
Diante da complexidade da situação, os reguladores decidiram usar uma estratégia de convencimento ancorada no diálogo, empregando o alto nível de legitimidade que eles possuíam na comunidade para dissipar o potencial violento do caso. Ulisses afirmou que iria interpelá-lo da seguinte forma: “Eu vou dizer o seguinte para ele: ‘foi lhe dada uma oportunidade, e você vacilou. Não há justificativa para você fazer qualquer coisa aqui dentro. Você errou’”.
Essa estratégia foi eficaz. O rapaz foi convencido de que o erro havia sido dele e que ninguém merecia ser punido por isso. Porém, é sempre preciso ressaltar a efemeridade dos acordos. Nada garante que alguém possa, algum tempo depois, convencer o rapaz do contrário ou que ele mesmo chegue a um novo entendimento em relação ao caso e decida se vingar de alguém. A menina que o denunciou está relativamente protegida, pois ele não sabe seu nome, e ela mora em outro estado.
Nesse caso, Ulisses e Ariel obtiveram um conjunto de informações que lhes permitiu atuar de maneira preventiva. Eles conheciam o rapaz e seu histórico violento e também estavam cientes do seu desejo de vingança. Todavia, nem sempre é possível atuar de maneira preventiva. Como um exemplo disso, Ulisses cita uma briga que começou entre dois moradores durante um jogo de futebol e acabou com quatro mortos algumas semanas depois. Ulisses era amigo dos dois protagonistas da contenda. Ele afirma que não ficou sabendo que havia tido um atrito entre os dois durante o jogo na praia. Caso soubesse, ele acredita que poderia ter conversado com ambos e, consequentemente, ter estabelecido uma saída pacífica para o desentendimento.
Outro caso que ocorreu, quando estávamos na comunidade, também envolveu a dupla Ulisses e Ariel. A situação desenvolveu-se durante um evento de arrecadação de fundos para o festival de artes que ocorre anualmente na comunidade e que foi realizado numa praça. Havia um número considerável de pessoas, muitas da comunidade, mas também de outros lugares. O clima era de festa. Um DJ armou uma tenda de som que não parou de tocar por horas; os moradores mais próximos usavam suas casas como espaço para venda de bebidas alcoólicas e comidas.
Tudo estava transcorrendo dentro de uma relativa normalidade, até o momento em alguém pichou uma placa, que fica no centro da praça. Imediatamente, alguns homens que estavam bebendo num bar próximo foram tirar satisfações. Eles não gostaram do ato. A primeira ação dos homens foi cortar o som que estava embalando a festa: “O som só será retomado quando quem fez isso aparecer”, disse o homem mais exaltado do grupo. A tensão aumentou. Imediatamente, uma aglomeração considerável formou-se no entorno da placa. De um lado, ficou o grupo de homens insatisfeitos; de outro, os organizadores da festa. Um dos homens mais exaltados disse: “Isso o que fizeram na placa é maloqueiragem. Abraçamos o trabalho de vocês, mas isso não pode, tem que tirar essa p... logo. Se não o bicho vai pegar”.
O mote dos homens era que o evento tinha apoio da comunidade, mas que gestos como aquele representavam uma quebra de confiança e, sobretudo, uma ofensa à honra, localmente chamada de tiração. “Tudo estava na maior tranquilidade, aí vem uma f... da p... e mela. Pichem o chão, mas não a placa”, disse outro homem do grupo. Um terceiro homem, o mais agressivo de todos, gritou: “Eu quero saber quem foi. Esse cara vai se f.... Se eu o pegar, ele está ferrado”.
Após alguns minutos de conversa, nada foi resolvido. Os homens insatisfeitos com o ato estavam visivelmente alcoolizados, falavam cada vez mais alto e de maneira mais agressiva. Os organizadores da festa tentaram estabelecer algum tipo de diálogo, mas não obtiveram êxito. Os homens queriam saber de qualquer forma quem tinha pichado a placa. Dado o histórico de conflitos dessa ordem na comunidade, foi perceptível que aqueles que eram moradores estavam tensos com o imbróglio, diferentemente daqueles que tinham vindo de fora apenas para o evento.
Ariel estava na linha de frente dos organizadores que tentavam pacificar o momento. Todavia, suas investidas não produziram êxito. Estava faltando Ulisses, que não havia chegado, pois estava em outro compromisso. A situação apenas foi costurada quando ele chegou. Ulisses foi para um local mais afastado da aglomeração e passou cerca de quinze muitos conversando com o grupo de cinco homens. Durante o diálogo, ele descobriu que um dos homens estava sendo pago pela Rotary7 7 De acordo com o site da organização (https://revistarotarybrasil.com.br/rotary/definicao/), a Rotary é composta por membros que: “prestam serviços voluntários às comunidades onde atuam profissionalmente, ajudando a promover a ética nos negócios e desenvolvendo projetos em diversas áreas, como saúde e educação, cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz mundiais”. A manutenção da praça onde ocorreu o episódio supracitado é a única ação do grupo na comunidade. para proteger a praça. Esse era o motivo pelo qual ele reuniu um conjunto de amigos e criou aquela situação. No entanto, o homem não havia sido pago por seus serviços nos últimos meses.
Diante desse atraso, Ulisses sugeriu que ele enviasse uma fotografia da placa da praça pichada para aos representantes da Rotary, com o intuito de evidenciar que, sem seus serviços de proteção, o local ficaria vulnerável e que, caso o pagamento dos serviços não fosse efetivado, a praça corria perigo. O homem achou a ideia interessante e aprovou a solução dada por Ulisses. Ele fez apenas uma contrapartida: pediu que a placa fosse pintada novamente. Ulisses deu a sua palavra de que ela estaria limpa. Uma semana depois, a placa estava limpa, sem os caracteres da pichação.
Diferentemente do primeiro caso, essa segunda história teve um caráter reativo. O desentendimento ocorreu e alguma ação precisava ser feita para que algo pior não ocorresse. O que estava em jogo na situação era uma contenção de danos. O jovem que realizou a pichação não era da, portanto não estava ciente dos códigos internos de conduta. Quem é interno sabe que não é aconselhável fazer algum tipo intervenção naquela praça. Novamente, Ulisses e Ariel entraram em ação, fazendo uso do estoque de legitimidade que possuem para regular o uso da violência num contexto específico. A intervenção da dupla, nos dois casos, embora dotada de um componente situacional e até mesmo fruto de um certo acaso, mostrou-se extremamente funcional. Agindo em conjunto, eles evitaram dois episódios que, sem a capacidade regulatória de ambos, poderiam ter gerado ações violentas em série.
Por fim, também é possível citar casos esporádicos envolvendo Jorge e Arturo. Este, mesmo com um relativo poder econômico, não age constantemente. Ele nos disse que esse não é o seu papel. Seus projetos de construção e reforma dos imóveis tomam-lhe um tempo considerável de sua rotina. Suas intervenções ocorrem apenas em casos pontuais, nos quais, via de regra, algum parente ou alguém muito próximo esteja envolvido. Esse foi o caso de um dos seus inquilinos.
O rapaz, o inquilino, mora num dos imóveis de Arturo há mais de três anos. Ele é usuário compulsivo de crack e esquizofrênico. Por causa dessa doença, esse inquilino recebe mensalmente uma aposentadoria por invalidez. A maior parte desse dinheiro, ele usava para a compra de crack. Quando o dinheiro acabava, ele ia até um pequeno supermercado e pedia esmola aos clientes. Quem faz o pagamento de seu aluguel a Arturo é sua mãe. Segundo Arturo, ela sempre pede que ele fique de olho no filho e que o proteja de conflitos. Apesar de não ser muito próximo do rapaz, Arturo conta que fica sensibilizado com os apelos da mãe. “Eu tenho filhos e sei do medo e da angústia que a mãe dele sente. Todo pai quer proteger os seus filhos. Por isso, eu sempre estou de olho nele. Faço o que posso dentro do possível”, afirmou.
Certo dia, Arturo descobriu que seu inquilino estava jurado de morte por um traficante. Ele estava devendo a seu fornecedor, que não negociava seus débitos, além de ter sido visto gastando dinheiro numa banca de apostas esportivas. Ao descobrir essa história, Arturo acionou alguns contatos para descobrir quem era o traficante que estava querendo matar o rapaz. Por acaso, o traficante era alguém com quem Arturo tinha certa proximidade. Ele foi até a casa do traficante e tentou convencê-lo de que não valia a pena matar seu inquilino. Foi difícil dissuadi-lo da ideia, disse Arturo, mas ele acabou cedendo, muito em função do respeito que havia na relação entre os dois. A única exigência feita pelo traficante foi de que o débito precisava ser pago. Arturo concordou e procurou a mãe do inquilino para informá-la da quantia que seria necessária. Ela arrumou o dinheiro e foi com o filho e Arturo fazer o pagamento. O caso foi resolvido. Arturo, no entanto, afirma que não empregará seu prestígio novamente para salvar o inquilino e espera que ele tenha aprendido a lição.
Essa decisão de Arturo mostra a dimensão discricionária das ações dos cuidadores. Por terem outras ocupações nas suas vidas particulares e lidarem com uma grande demanda por intervenções, eles não entram em todos os tipos de situações. A escolha depende do nível de interesse do cuidador, que tende a ser maior quando há algum tipo de relação prévia com alguma parte envolvida. Quando os cuidadores não conhecem os envolvidos, menores são as chances de eles empregarem seus recursos em algum episódio. Esse aspecto seletivo é semelhante ao que Grillo (2014)GRILLO, C. C. (2014). “Pelo certo: o direito informal do tráfico em favelas cariocas”. In: OLIVEIRA, L. R. C. de; WERNECK, A. Pensando bem: estudos de sociologia e antropologia da moral. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, pp. 337-366. constatou em sua pesquisa de campo sobre o regime de governança criminal do CV (Comando Vermelho). A autora mostrou que, dentro das comunidades controladas pelo grupo, existem tribunais de crime que, localmente, são chamados de desenrolo. Para um desenrolo seguir adiante é preciso que haja o empenho do envolvidos para que alguma transgressão ao código de condutas do CV seja julgada e punida. Muitas transgressões ao código do Comando foram perdoadas ou, em certas situações, não resultaram nem em denúncia, o que indica que a punição depende de quem está envolvido, do tipo de situação em que a violação ocorreu e se quem foi vítima seguiu adiante com a denúncia.
Embora tenha uma trajetória semelhante à de Ulisses e Ariel, Jorge atua de maneira distinta em relação aos dois. Por lidar diretamente com crianças e adolescentes, ele procura fazer um trabalho a longo prazo de prevenção da violência. De maneira peculiar e original, Jorge atua na base de diálogos bastante diretos e objetivos. Nos finais das sessões semanais do cineclube da Livroteca, ele sempre reserva um tempo para conversar com os presentes sobre os perigos de envolvimento no mundo do crime. Como técnica, Jorge costuma perguntar, aos garotos, quantos parentes eles já perderam assassinados e quantos deles têm pessoas próximas que estão presas: “Quem aqui quer morrer de tiro ou ir parar no presídio? Para isso não acontecer, vocês têm que estudar e fazer algo para que não caiam nesse mundo”. Ele me contou que procura fazer da Livroteca um meio de mudança na vida das crianças e dos adolescentes que frequentam o espaço. Morador da comunidade há décadas, Jorge já viu muitos jovens promissores irem para o mundo do crime por não terem uma rede de oportunidades. Para isso não acontecer com a geração atual, não é necessário apenas o desenvolvimento de atividades de lazer. Ele acredita que esse tipo de conversa mais direta e franca serve também como uma forma de não mascarar a realidade.
Num episódio recente, os ventiladores da Livroteca foram furtados. Rapidamente, foi descoberto quem havia sido o responsável. Um grupo descobriu a identidade do executor do furto e foi até Jorge com a proposta de executá-lo. Jorge enxergou nessa situação uma oportunidade para colocar em prática sua retórica contrária ao uso da força. Ele buscou mostrar, aos rapazes, que o furtador poderia aprender com a situação e que o uso da força não seria necessário. Ele pediu aos rapazes que fossem até a casa do furtador e que o convidassem para ir à Livroteca. Diante do furtador e do grupo, Jorge buscou demonstrar que existem saídas que não envolvem a violência e que esse tipo de resolução de conflitos é o caminho a ser seguido por aqueles que querem transformar a realidade local. A ação de Jorge foi fundamental para que o uso da força fosse evitado e, ao mesmo tempo, para que se chegasse a uma solução pacífica.
Considerações finais
Em suma, o conjunto de casos que descrevemos acima nos permite traçar algumas características dos cuidadores que tivemos a oportunidade de identificar e acompanhar no campo de pesquisa. Em primeiro lugar, trata-se de algo que é feito de modo informal. O cuidador informal, conforme salienta Gans (1982GANS, H. J. (1982). Urban villagers. Nova York, Simon and Schuster., p. 145), não é treinado para exercer esse papel. Estes são residentes de longa data que assumiram essa função intermediando contendas entre parentes, amigos e vizinhos e foram, aos poucos, ganhando notoriedade com casos bem-sucedidos de dissuasão do uso da força. Um outro aspecto importante é que não há um retorno material envolvendo esse trabalho. Ganhos existem, mas são indiretos. Por exemplo, Ulisses, Ariel e Jorge são figuras que, por conta desse trabalho, atingiram um alto nível de notoriedade e prestígio dentro da comunidade. Já Arturo, um perfil diferente de cuidador, consegue cultivar a imagem de empreendedor que não é indiferente ao local onde vive.
Também precisamos frisar que, mesmo com o trabalho dos cuidadores, a ocorrência de crimes violentos na comunidade é frequente. Nos dois períodos em que esta pesquisa foi feita, contabilizamos seis homicídios no território. A maioria dos entrevistados tem alguma história envolvendo um homicídio de alguém da família ou muito próximo. A criminalidade violenta, em termos tanto qualitativos quanto nos números, é algo que marca a vida dos moradores de modo permanente. Portanto, o modelo de governança informal da violência operacionalizado pelos cuidadores não é um mecanismo que causa um impacto significativo na redução de conflitos violentos na comunidade. No entanto, podemos afirmar que se trata de um modelo com um relativo nível de enforcement com capacidade de amortizar uma série de contendas com potencial de produzir atos violentos. Ou seja, sem a atuação dos cuidadores, a percepção e os números relativos aos crimes violentos seriam ainda maiores.
Uma dimensão constitutiva desse sistema é o fato de não haver punição para quem decidir não seguir uma recomendação de um cuidador. Por mais que tenham prestígio e poder na comunidade, os quatro atores que acompanhamos não empregam esses recursos para sancionar, seja de forma violenta ou simbólica, quem não cumpre determinado acordo estabelecido. O enforcement que existe no arranjo que analisamos ao longo deste paper é fruto do poder de convencimento atrelado ao conhecimento da dinâmica dos conflitos por parte dos cuidadores. Este, possivelmente, é um dos traços que distingue esse modelo em relação aos sistemas operacionalizados por regimes armados, que comumente se baseiam no emprego do uso da força ou na ameaça do uso, como forma da punição àqueles que não cumprem com alguma determinação estabelecida por parte do grupo.
Por fim, esperemos com este paper ampliar o debate sobre formas de governança não estatal da violência para além de sistemas operacionalizados por regimes armados no âmbito dos espaços de pobreza. Em muitas cidades, com é o caso do Recife, existem cenários de governança mínima (Skarbek, 2020SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press.) em que não há uma governança da violência efetiva e satisfatória por parte do Estado nem por parte de regimes armados. Isto é, atores que não são nem estatais nem fazem parte do mundo do crime também possuem potencial para operacionalizar regimes de governança da violência. Nesse “vácuo” deixado por Estado e crime, existem modelos de governança da violência como o que tentamos destrinchar ao longo deste artigo.
Nota de agradecimento
Gostaria de agradecer ao professor José Luiz Ratton pela rica e crítica interlocução que ele vem aportando aos meus trabalhos de pesquisa. Também sou grato aos professores Jean Daudelin e Graham Willis pelos respectivos comentários durante a defesa do meu projeto de doutorado. Por fim, também agradeço e os pareceristas anônimos pelas críticas e questionamentos aportados ao paper. Quaisquer erros são de minha total responsabilidade.
Referências
- ADORNO, S.; ALVARADO, A. (2022). Criminalidade e a governança de grandes metrópoles na América Latina: Cidade do México (México) e São Paulo (Brasil). Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 79-115.
- AKERS, R. L. (2013). Criminological theories: introduction and evaluation. Abingdon, Routledge.
- ANDERSON, E. (2000). Code of the street: Decency, violence, and the moral life of the inner city. Nova York, WW Norton & Company.
- ANDERSON, E.(2002). The ideologically driven critique. American Journal of Sociology, v. 107, n. 6, pp. 1533-1550.
- ARIAS, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.
- AUYERO, J.; SOBERING, K. (2019). The ambivalent state: police-criminal collusion at the urban margins. Oxford, Oxford University Press.
- BIONDI, K. (2018). Proibido roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC (vol. 1). São Paulo, Terceiro Nome.
- BLATTMAN, C. et al. (2021). Gang rule: Understanding and countering criminal governance. Working Paper n. 28458. Cambridge, National Bureau of Economic Research.
- BLUMER, H. (2013). “Sociedade como interação simbólica”. In: COELHO, M. C. P. Estudos sobre Interação - textos escolhidos. Rio de Janeiro, EdUERJ.
- BOURGOIS, P.; BOURGOIS, P. I.; SCHONBERG, J. (2009). Righteous dopefiend. Oakland, University of California Press.
- BRICEÑO-LEÓN, R.; BARREIRA, C.; AQUINO, J. P. D. D. (2022). “Facções” de Fortaleza y colectivos de Caracas: dos modelos de gobernanza criminal. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 21-49.
- BURGESS, E. W. (ed.). (1926). The urban community: selected papers from the proceedings of the American Sociological Society, 1925. Chicago, University of Chicago Press.
- CALDEIRA, T. P. (2000). Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo, Editora 34.
- CANO, I.; IOTT, C. (2008). Seis por meia dúzia. Segurança, tráfico e milícia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Fundação Heinrich Böll.
- CAVALCANTI FILHO, R. C. (2019). Polícia, mercado de drogas e mortes violentas: um estudo etnográfico sobre a regulação não-estatal da violência numa comunidade da Zona Sul do Recife. Dissertação de mestrado. Recife, Universidade Federal de Pernambuco.
- CAVALCANTI FILHO, R. C. (2022). Um estudo etnográfico sobre a atuação da polícia militar em uma comunidade do Recife. Mediações-Revista de Ciências Sociais, v. 27, n. 1, pp. 1-20.
- IBGE (2010). Censo 2010. Disponível em:< http://www.Censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 9 fev 2022.
» http://www.Censo2010.ibge.gov.br/> - DAUDELIN, J.; RATTON, J. L. (2017). Mercados de drogas, guerra e paz no Recife1. Tempo Social, v. 29, pp. 115-134.
- FAHLBERG, A. N. (2018). Rethinking Favela governance: non violent politics in Rio de Janeiro’s gang territories. Politics & Society, v. 46, n. 4, pp. 485-512.
- FELTRAN, G. (2010). Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo. Caderno CRH, v. 23, pp. 59-73.
- FELTRAN, G. (2011). Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Editora da Unesp.
- FELTRAN, G. (2018). Irmãos: uma história do PCC. São Paulo, Companhia das Letras.
- FUKUYAMA, F. (2013). What is governance? Governance, v. 26, n. 3, pp. 347-368.
- GAMBETTA, D. (1993). The Sicilian mafia: the business of private protection. Cambridge, Harvard University Press.
- GANS, H. J. (1982). Urban villagers. Nova York, Simon and Schuster.
- GRILLO, C. C. (2014). “Pelo certo: o direito informal do tráfico em favelas cariocas”. In: OLIVEIRA, L. R. C. de; WERNECK, A. Pensando bem: estudos de sociologia e antropologia da moral. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, pp. 337-366.
- HELMKE, G.; LEVITSKY, S. (eds.). (2006). Informal institutions and democracy: lessons from Latin America. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- JAFFE, R. (2013). The hybrid state: crime and citizenship in urban Jamaica. American Ethnologist, n. 40, v. 4, pp. 734-748.
- KIRK, D. S.; MATSUDA, M. (2011). Legal cynicism, collective efficacy, and the ecology of arrest. Criminology, v. 49, n. 2, pp. 443-472.
- KOIVU, K. (2013). Organized crime and the state: the political economy of illicit markets. In: APSA 2013 ANNUAL MEETING PAPER. Annual Meeting. American Political Science Association.
- KOWARICK, L. (2003). Sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil: Estados Unidos, França e Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, pp. 61-86.
- LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873.
- LESSING, B.; WILLIS, G. D. (2019). Legitimacy in criminal governance: Managing a drug empire from behind bars. American Political Science Review, v. 113, n. 2, pp. 584-606.
- LEY, S.; MATTIACE, S.; TREJO, G. (2019). Indigenous resistance to criminal governance: why regional ethnic autonomy institutions protect communities from narco rule in Mexico. Latin American Research Review, v. 54, n. 1, pp. 181-200.
- MAGALONI, B.; FRANCO-VIVANCO, E.; MELO, V. (2020). Killing in the slums: social order, criminal governance, and police violence in Rio de Janeiro. American Political Science Review, v. 114, n. 2, pp. 552-572.
- MANSO, B. P.; DIAS, C. N. (2018). A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo, Todavia.
- MANSO, B. P. (2020). A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro. São Paulo, Todavia.
- MANTILLA, J.; FELDMANN, A. E. (2021). Criminal Governance in Latin America. Oxford Research Encyclopedia of Criminology n. 26. Oxford, Oxford University Press..
- MOTTA, L. et al. (2022). Fora do crime no “mundo do crime”: experiências juvenis em meio à guerra em periferias de Maceió e Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 387-414.
- MUNIZ, J. D. O.; DIAS, C. N. (2022). Domínios armados e seus governos criminais-uma abordagem não fantasmagórica do “crime organizado”. Estudos Avançados, v. 36, pp. 131-152.
- PAOLI, L. (2008). Mafia brotherhoods: organized crime, Italian style. Oxford, Oxford University Press.
- PARK, R. E. (1915). The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment. American Journal of Sociology, v. 20, n. 5, pp. 577-612.
- RIBEIRO, E.; SOARES, L. E.; KRENZINGER, M. (2022). Tipos de governança criminal: estudo comparativo a partir dos casos da Maré. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 15, pp. 559-588.
- RUIZ, P. (2021). Criminal Governance in Northern Central America. World Refugee & Migration Council.
- SAMPSON, R. J. (2014a). Collective efficacy theory: Lessons learned and directions for future inquiry. Understanding Deviance. Nova York, Routledge, pp. 128-139.
- SAMPSON, R. J. (2014b). Inequality from the top down and bottom up: towards a revised Wacquant. Ethnic and Racial Studies, v. 37, n. 10, pp. 1732-1738.
- SAMPSON, R. J.; WILSON, W. J, (1995). “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”. In: HAGAN, J.; PETERSON, R. D. (eds.). Crime and inequality. Stanford, Stanford University Press, pp. 37-56.
- SAMPSON, R. J.; WILSON, W. J, (2020). “Toward a theory of race, crime, and urban inequality”. In: Crime, inequality and the state. Abingdon, Routledge, pp. 312-325.
- SANCHEZ-JANKOWSKI, M. (2008). Cracks in the pavement: social change and resilience in poor neighborhoods. Califórnia, University of California Press.
- SHAW, C. R.; MCKAY, H. D. (1942). Juvenile delinquency and urban areas. University of Chicago Press.
- SKARBEK, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press.
- SKARBEK, D.(2020). The puzzle of prison order: Why life behind bars varies around the world. USA, Oxford University Press.
- SNYDER, R.; DURAN-MARTINEZ, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. Crime, law and social change, v. 52, n. 3, pp. 253-273.
- TREJO, G.; LEY, S. (2020). Votes, drugs, and violence: the political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge, Cambridge University Press.
- VARESE, F. (2011). Mafias on the move. Princeton, Princeton University Press.
- VENKATESH, S. A. (1997). The social organization of street gang activity in an urban ghetto. American Journal of Sociology, v. 103, n. 1, pp. 82-111.
- VINUTO, J. (2014). A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. Temáticas, v. 22, n. 44, pp. 203-220.
- WACQUANT, L. (2002). Scrutinizing the street: Poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography. American Journal of Sociology, v. 107, n. 6, pp. 1468-1532.
- WACQUANT, L. (2010). “Designing Urban Seclusion in the 21st Century.” Perspecta: The Yale Architectural Journal, v. 43, pp. 165-178.
- WEBER, M. (2021). Política como vocação e ofício. Petrópolis, Vozes,
- WILLIS, G. D. (2015). The killing consensus: police, organized crime, and the regulation of life and death in urban Brazil. California, University of California Press.
- WILSON, W. J. (2012). The truly disadvantaged: the inner city, the underclass, and public policy. Chicago, University of Chicago Press.
- WILSON, W. J.(2014). Marginality, ethnicity and penality: a response to Loïc Wacquant. Ethnic and Racial Studies, v. 37, n. 10, pp. 1712-1718.
- WILSON, W. J.; CHADDHA, A. (2009). The role of theory in ethnographic research. Ethnography, v. 10, n. 4, pp. 549-564.
- YASHAR, D. J. (2018). Homicidal ecologies: Illicit economies and complicit states in Latin America. Cambridge, Cambridge University Press.
Notas
-
1
Disponível em: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp. Acesso em: 18 dez 2022.
-
2
O primeiro momento de coleta de dados ocorreu quando moramos na comunidade, entre os meses de julho e dezembro de 2019. Em seguida, fizemos uma nova incursão, entre maio e novembro de 2019. Em função da pandemia de Covid-19, a nossa terceira rodada de observações só pôde ser realizada entre dezembro de 2021 e setembro de 2022.
-
3
Particularmente, o trabalho de Wilson (2012WILSON, W. J. (2012). The truly disadvantaged: the inner city, the underclass, and public policy. Chicago, University of Chicago Press. [1987]) foi responsável por trazer o conceito de isolamento social como chave explicativa central no entendimento dos problemas enfrentados nos espaços de pobreza. O autor buscou fazer um contraponto à tese da cultura da pobreza, que na época estava ganhando espaço no debate norte-americano. Para ele, a cultura da pobreza implica que valores e atitudes básicas da subcultura dos espaços de pobreza foram internalizados e, assim, influenciam o comportamento (ibid., p. 60). Já o isolamento social, por sua vez, não significa apenas que o contato entre grupos de diferentes classes e/ou origens raciais está faltando ou se tornou cada vez mais intermitente, mas que a natureza desse contato aumenta os efeitos de viver em uma área de pobreza altamente concentrada (ibid., p. 61).
-
4
A limitação do espaço deste artigo não nos permite aprofundarmos nas fissuras desses debates. Para um maior adensamento, ver: Wacquant (2002)WACQUANT, L. (2002). Scrutinizing the street: Poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography. American Journal of Sociology, v. 107, n. 6, pp. 1468-1532., Anderson (2002)ANDERSON, E.(2002). The ideologically driven critique. American Journal of Sociology, v. 107, n. 6, pp. 1533-1550.; Sampson (2014b) e Wilson (2014)WILSON, W. J.(2014). Marginality, ethnicity and penality: a response to Loïc Wacquant. Ethnic and Racial Studies, v. 37, n. 10, pp. 1712-1718..
-
5
Por uma questão de espaço, apenas citaremos outras pesquisas importantes sobre os diversos tipos de associações entre Estado, ou setores dentro do aparelho estatal, e grupos criminosos: Estado cúmplice (Yashar, 2018YASHAR, D. J. (2018). Homicidal ecologies: Illicit economies and complicit states in Latin America. Cambridge, Cambridge University Press.), Estado híbrido (Jaffe, 2013JAFFE, R. (2013). The hybrid state: crime and citizenship in urban Jamaica. American Ethnologist, n. 40, v. 4, pp. 734-748.), soberania por consenso (Willis, 2015WILLIS, G. D. (2015). The killing consensus: police, organized crime, and the regulation of life and death in urban Brazil. California, University of California Press.). Estado ambivalente (Auyero e Sobering, 2019AUYERO, J.; SOBERING, K. (2019). The ambivalent state: police-criminal collusion at the urban margins. Oxford, Oxford University Press.); simbiose (Lessing, 2021LESSING, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, v. 19, n. 3, pp. 854-873.); governança colaborativa (Arias, 2017ARIAS, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.).
-
6
Disponível em: http://geni.uff.br/2021/03/26/mapa-dos-grupos-armados/. Acesso em: 18 dez 2022.
-
7
De acordo com o site da organização (https://revistarotarybrasil.com.br/rotary/definicao/), a Rotary é composta por membros que: “prestam serviços voluntários às comunidades onde atuam profissionalmente, ajudando a promover a ética nos negócios e desenvolvendo projetos em diversas áreas, como saúde e educação, cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz mundiais”. A manutenção da praça onde ocorreu o episódio supracitado é a única ação do grupo na comunidade.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Mar 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2023
Histórico
-
Recebido
15 Ago 2022 -
Aceito
5 Out 2022