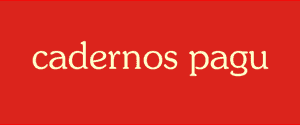Resumo
Este artigo pretende discutir possibilidades de modelos narrativos da escrita etnográfica, em diálogo com as questões que surgiram da minha experiência de pesquisa no campo da prostituição de luxo, no Rio de Janeiro. Procura assim mostrar como esses modelos, em observância a certos protocolos que orientam moralmente a conduta do pesquisador em campo, criam zonas de invisibilidade daquilo que não pode ser narrado. E, ao mesmo tempo, determinam quem está autorizado a ser narrador da etnografia.
Prostituição de luxo; Autoridade etnográfica; Estigma
Abstract
This paper intends to discuss possibilities of narrative models of ethnographic writing, in dialogue with the questions that emerged from my research experience in the field of luxury prostitution, in Rio de Janeiro. It therefore attempts to show how these models, in compliance with certain protocols that morally guide the conduct of the researcher in the field, create zones of invisibility of what cannot be narrated. At the same time, they determine who is authorized to be the narrator of the ethnography.
Luxury prostitution; Ethnographic authority; Stigma
Introdução
No espaço da academia de musculação todos se olham. Os corpos estão ali sendo esculpidos: pavoneavam. Na academia que eu frequentava, havia uma mulher que chamava atenção. Todos olhavam enquanto ela se movia entre os aparelhos, malhando com seus fones de ouvido, compenetrada. Era musculosa e bem produzida. Usava roupas fluorescentes e decotadas, os cabelos impecáveis. Certo dia eu estava malhando com amigas que brincavam de adivinhar em que partes do corpo ela teria próteses de silicone. Os glúteos enormes, na calça justa, não deixavam ninguém indiferente. Minhas amigas, mais magras, de corpos mais... acadêmicos, digamos, estavam em polvorosa.
Fui até o bebedouro. Bebi água. Quando levantei o rosto e girei o corpo, na pressa de voltar aos exercícios, esbarrei na notável mulher, que chegava para encher a sua garrafinha. Desculpei-me. Nós rimos do esbarrão. E eu, num rompante de indiscrição, perguntei como ela tinha conseguido ficar com a bunda daquele tamanho. Minhas amigas riam, próximas, se cutucavam. Essa mulher se tornaria minha principal informante, abrindo portas para que eu “penetrasse” no universo da prostituição de luxo.
***
A pesquisa foi realizada entre os anos de 2012 e 20161 1 A pesquisa contou com o auxílio da bolsa CAPES de doutorado entre os anos de 2012 e 2015. , por meio de observação participante, em dois bordéis de luxo na cidade do Rio de Janeiro. Durante esse tempo, de maneira intermitente, trabalhei como funcionária das Casas. Publiquei também anúncios de acompanhante em dois grandes sites de call girls.
A entrada neste campo torna-se, por conta das políticas de preservação das identidades que articulam as interações ali em jogo e que passaremos a discutir adiante, um tanto estreita. Pode-se dizer que a entrada seja apenas viável na medida em que se esteja disposto a participar de algumas das trocas fundamentais que organizam as relações naqueles espaços e redes. O dono de um dos bordéis de luxo, embora já me conhecesse por meio da amiga da academia de ginástica, apenas aceitou minha presença para a realização da pesquisa com a condição de que eu fosse empregada numa das muitas funções da Casa. Neste sentido, pode-se alegar que minha entrada em campo foi uma entrada orgânica, uma vez que mesmo funções como a de copeiras e recepcionistas eram exercidas por mulheres com corpos parecidos com o meu.
A proximidade em relação a certas “verdades nativas”2 2 Para Strathern, o problema da autoria no texto etnográfico não se resume a questão das vozes a partir das quais se produz o texto, mas se trata também de como as palavras das pessoas pertencem a elas. Sendo assim, não é o pertencimento do pesquisador a certo grupo que determina um caráter autoetnográfico do seu trabalho pois, assim como coloca a autora, “a casa pode recuar infinitamente” (Strathern, 2014:137), mas sim a medida da continuidade entre o trabalho produzido e as verdades nativas. e a satisfação de critérios de legitimação e pertencimento ao campo eram requisitos, numa pesquisa em que se pretendia saber como os segredos estruturavam as relações na prostituição dita de luxo. E, por causa dessa proximidade, a suposição de que eu já havia feito programas surgia recorrentemente, o que então passou a constituir uma questão importante a respeito do campo.
Do lugar onde eu estava, considerando, além do meu corpo, meus modos, minhas roupas e as relações que eu tinha naquelas redes, fazer programas era uma possibilidade, assim como não fazer. Mas suponhamos que eu admitisse que tivesse feito programas durante a pesquisa e para sua realização. De fato, os trabalhos de campo demandam múltiplos engajamentos práticos e corporais dos pesquisadores: caçar, pescar, aprender a costurar, militar, tomar e comer substâncias partilhadamente, etc. Por que não fazer sexo, e por que não cobrar por sexo se as interlocutoras são prostitutas? Vejamos em que pontos esta metodologia que passa por um engajamento corporal na prostituição, na condição de prostituta, se diferenciaria, por exemplo, da de Wacquant, que se tornou boxeador para fazer a sua célebre pesquisa de campo.
Em primeiro lugar, declarar abertamente – e, pior ainda, pretender que seja parte da análise – a prática de sexo em campo, rompe com diversos paradigmas que orientam a conduta ideal do antropólogo-cientista. Isso tem efeitos sobre a autoridade do pesquisador quando o texto chega ao seu destino e também impacta nas políticas acadêmicas que precisam, de alguma forma, lidar com aquela produção.
O tema das relações sexuais entre os membros das comunidades pesquisadas e os pesquisadores, eventos que costumam ficar restritos a diários de campo e conversas de corredor, vem sendo tratado por pesquisadores. A referência mais importante talvez seja a coletânea Taboo, cujos textos colaboram para pensar de que formas o campo foi se constituindo como um lugar em que as relações sexuais não deveriam ser possíveis. (Kulick; Wilson, 1995KULICK, Don; WILLSON, Margaret (org.). Taboo –sex identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. Londres, Routledge, 1995.)
Poewe teve um papel importante, na década de 80, nesse processo de desvelamento do sexo em campo, adotando o recurso do pseudônimo. Em Reflections of a Woman Anthropologist, assinado por “Manda Cesara”, a autora falará sobre seus envolvimentos amorosos com os homens no local aonde fazia pesquisa, no continente africano (Cesara, 1982CESARA, Manda. Reflections of a Woman Antropologist. London, Academic Press, 1982.).
Piscitelli comenta sobre uma evolução da ética a este respeito, desde Malinowski, quando o dilema ético incluía apenas as questões relativas a relação com os pares e o leitor, por meio da ideia de “sinceridade metodológica”, passando por quando a prática do sexo com “nativos” era considerada antiética pelos códigos da década de sessenta, até os códigos atuais, em que o foco da condenação recai sobre o sexo entre professores e alunos. Segundo a autora, no Brasil este tipo de reflexão que começa a pensar as relações entre pesquisadores e “nativos” está começando a ser feito por jovens antropólogos (Piscitelli, 2013PISCITELLI, Adriana. Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.:61).
A julgar pela data da primeira publicação do Trânsitos, de Piscitelli, podemos tomar como exemplos daquele novo tipo de reflexão que propõe problematizar a ética relacional do antropólogo em campo a respeito do exercício da sexualidade, o trabalho de Rojo (2005)ROJO, Luiz Fernando. Vivendo “nu” paraíso: comunidade, corpo e amizade na Colina do Sol. Tese (Doutorado em ciências sociais), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.: uma tese sobre praias de nudismo na qual o autor discute o sexo com “nativos” quando, logo na primeira ida a campo, ele se vê interessado e correspondido por uma de suas informantes. O trabalho de Ferreira (2008)FERREIRA, Paulo Rogers. Os afectos mal-ditos: o indizível nas sociedades camponesas. São Paulo, Editora Hucitec, 2008. é outro exemplo: ganhou o Prêmio ANPOCS de Excelência Acadêmica ao tratar dos “afetos malditos” em uma pesquisa realizada junto a uma comunidade do Cariri cearense, quando o autor problematiza seus intercursos sexuais com camponeses. Discutir o sexo do pesquisador em campo significa trazer a esfera privada como objeto de debate público, já que o privado também é público, na medida em que é objeto de política.
Num segundo nível de diferenças cruciais em relação ao pugilismo Wacquantiano, no caso de uma pesquisa feita por uma pesquisadora que se prostitui, existe a mistura poluidora entre dinheiro e sexo.
Se o dinheiro na sociedade moderna é o “equivalente universal” (Simmel, 2009SIMMEL, George. Psicologia do dinheiro e outros ensaios. Lisboa, Texto & Grafia Editora, 2009.), nivelando coisas diversas ao atribuir valores monetários, podemos levantar a questão de quais seriam essas coisas por meio das quais podemos medir o valor do sexo. Isto é, se eu fosse cobrar para fazer sexo com outras pessoas, o valor arbitrado deveria corresponder a quê?
O sexo com uma pesquisadora-prostituta vale um carro, uma casa na praia? Ou não mais que um guaraná, uma vez que seja apenas um pretexto para a realização de fantasias e vivencias de ordem existencial? Vale uma bolsa de estudos? Ou quem sabe a perda de uma bolsa de estudos? Vale as informações sobre o fenômeno da prostituição de luxo que interessa estudar? E esse caso – não o percamos de vista –, assim como receber o equivalente a uma casa na praia, inscreveria a troca perfeitamente no universo de uma prática prostituída, solapando o argumento que se pretende ético, mas que, na verdade, é de fundo moral: o argumento de que fazer programa para fazer pesquisa não é “prostituição de verdade”.
Em suma, qualquer resposta que se dê à pergunta sobre como se pode estabelecer o valor do sexo com a figura assexuada do pesquisador e que não vá no sentido de que o sexo é impagável, inegociável, inexistente, impossível, não desejável, carrega consigo o risco de achatamento dos resultados da pesquisa por uma pesada carga moral.
O problema de arbitrar o valor monetário do sexo passa a ser, no fundo, aquele apontado por Foucault como característica do dispositivo de sexualidade que regula as sociedades contemporâneas ao articular sujeito e desejo: o sexo guarda a verdade última do sujeito (Foucault, 1988FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade I – a vontade de saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.). O sexo deveria, neste sentido, ser impagável, porque vender sexo se equipararia a “vender a si mesmo”. Esta discussão está precisamente colocada no âmbito dos debates feministas. O feminismo abolicionista e a antipornografia, oriundos da primeira e segunda ondas do movimento feminista, associam o conceito de “objetificação” ao de “venda do corpo” para fundamentar a condenação ao trabalho sexual, como é o caso de Dworkin (1989)DWORKIN, Andrea. Pornography: Men Possessing Women. New York, E. P. Dutton, 1989. e Mackinnon (1985)MACKINNON, Catharine. Pornography, Civil Rights, and Speech. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, v. 20, n. 1, 1985.3 3 Para uma discussão crítica sobre o conceito de objetificação no feminismo abolicionista, ver Blanchette, Silva & Camargo, 2014. .
Mas uma transação sexual envolvendo um indivíduo que possui o status de “pesquisador em campo” deveria ser impagável. Impagável sobretudo pelos “nativos”, aqueles “habitantes do campo”, uma vez que essa troca específica torna-se potencialmente perigosa num outro sentido: o de embaralhar, ou inverter, as hierarquias que organizam o entendimento de quem somos, por oposição a eles, os nossos “outros”.
Há ainda uma diferença importante: no caso de Wacquant, como o de muitos antropólogos, o que está em tela são transações entre homens. Aliás, se há um espaço em que as narrativas sobre sexo em campo aparecem de forma mais ou menos explícita é em pesquisas feitas por homens gays. E em relação às mulheres? Temos então um velho problema aqui, que não diz respeito apenas ao sexo, mas ao sexo das mulheres, às sexualidades femininas, que tendem a ser reguladas por meio de mecanismos de ocultação e apagamento.
Além das divergências apontadas, no caso descrito nesta fabulação, não há um engajamento corporal em uma prática ostensiva de violência física, em que o pesquisador poderia resultar gravemente ferido ou, pior, machucar gravemente outrem.
Numa conferência proferida na UFRJ4 4 Conferência realizada em 22/10/2013, intitulada Gueto, hypergueto, favela e etc.: constelações da relegação urbana. Atividade realizada com o apoio do PPGAS/MN. , Wacquant disse que para conhecer verdadeiramente o campo, é necessário vivenciar experiências nativas. Thaddeus Blanchette5 5 Thaddeus Blanchette é professor de Antropologia da UFRJ. então lhe perguntou se no seu caso, o de alguém que estuda prostituição, isso também se aplicaria – se ele deveria pagar por sexo para fins de sua pesquisa e se suas alunas deveriam se prostituir para experimentar o estigma. Wacquant respondeu que elas não precisariam se prostituir, mas que não deveriam evidenciar que não o fizeram, já que assim produziriam também a experiência do estigma, sendo esse o interesse da pesquisa.
Seguindo tal conselho, meu lugar em campo será propositalmente mantido ambíguo. Pois o problema que enfrento é: se afirmo que fiz programas o estigma cai sobre mim, pondo em dúvida a credibilidade do trabalho desenvolvido por conta do encargo moral nele depositado; se nego, ele recai sobre minhas interlocutoras, e minha narrativa etnográfica passa a descrever um movimento de distanciamento que constituiria, esse sim, um problema ético. Mantendo a ambiguidade, preservo todos os envolvidos e experimento o estigma que envolve o tema de minha pesquisa e que por isso precisa ser analisado.
Um corpo para o estigma -ou o sujeito posicionado na condição de penetrado
Diversos trabalhos sobre prostituição (Bacelar, 1982BACELAR, Jeferson Afonso. A família da prostituta. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia (Ensaios 87), 1982.; Araújo, 2006ARAÚJO, Rogério. Prostituição: artes e manhas do ofício. Goiânia, Canone Editorial, 2006.; Olivar, 2013OLIVAR, José Miguel Nieto. Devir puta – política da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.) abordam a questão, que se coloca para mulheres prostitutas, da necessidade de ocultação da sua atividade para proteger suas famílias e relacionamentos em certos ambientes, como a escola dos filhos. Goffman (1963)GOFFMAN, Erving. Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu editors, 1963. chama de “estigma de cortesia” ao poder de contaminação do estigma, essa extensão do estigma sofrida por aqueles que cercam, de maneira próxima, o estigmatizado.
Sobre essa “contaminação”, no caso das prostitutas, Gaspar percebe o aspecto totalizador da atividade prostitucional (Gaspar, 1985GASPAR, Maria Dulce. Garotas de programa – prostituição em Copacabana e identidade social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985.). Numa espécie de “sujeição moral”, o estigma não contamina apenas as pessoas próximas, mas dimensões outras da vida de alguém que exerça a atividade estigmatizada.
Ocupar o lugar de prostituta, ao qualificar moralmente a sexualidade de uma pesquisadora, não afeta apenas relações com parentes, cônjuges e outras do âmbito pessoal, que envolvem afeto, e nas quais a sexualidade poderia estar em questão de forma explícita. Mas tem o poder de colocar dúvidas sobre a legitimidade da análise e interpretação das práticas do campo, justificadas, as dúvidas, pela retórica da neutralidade e da ética do pesquisador. E de que ética estamos falando? Se essa contaminação do papel de pesquisadora/cientista acontece no caso de pesquisas ou de uma ciência cujo intuito é, segundo a frase de Geertz, “alargar o universo do discurso humano”? (Geertz, 2015GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LTC, 2015.)
Killick argumenta que a subjetividade erótica do pesquisador em campo é anulada para sua conformação a uma estrutura narrativa que se baseia numa metáfora sexual, atribuindo ao etnógrafo um papel que é heterossexual e masculino, independentemente de seu gênero e orientação sexual.
Não podemos mais esconder de nós mesmos o simbolismo sexual pelo qual o Outro etnográfico, o erótico-exótico, é imaginado como habitante de um espaço fechado, o campo: fortaleza de segredos culturais, terreno de criação de experiência, território virgem a ser penetrado pelo impulso interpretativo do etnógrafo. Vincent Crapanzano sugeriu ver esse ato de penetração como não meramente intelectual, mas fálico: “Nós dizemos que um texto, até mesmo uma cultura, está grávida(o) de significado. Tornar-se-iam as apresentações dos etnógrafos grávidas de significado por causa da interpretação dos mesmos, de sua fertilização fálica? (Killick, 1995KILLICK, Andrew P. The Penetrating intellect. In: KULICK, Don; WILLSON, Margaret (org.). Taboo –sex identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. Londres, Routledge, 1995, pp.58-80.:76, tradução minha)6 6 “We can no longer hide from ourselves the sexual symbolism by which the ethnographic Other, the erotic-exotic, is imagined as inhabiting an enclosed space, the field: stronghold of cultural secrets, breeding ground of experience, virgin territory to be penetrated by the ethnographer’s interpretative thrust. Vincent Crapanzano has suggested seeing this act of penetration as not merely intellectual but phallic: “We say a text, a culture even, is pregnant with meaning. Do the ethnographer’s presentations become pregnant with meaning because of his interpretative, his phallic fertilizations?” (Killick, 1995:58). .
De acordo com essa perspectiva, podemos pensar em quais seriam, ao contrário, os significados atribuídos ao posicionamento do etnógrafo situado na condição “de corpo penetrado pelo campo”. Em vez de um “intelecto penetrante”, pode-se falar numa “experiência penetrante”. E como uma experiência deste tipo poderia ser legítima para apreciação antropológica do campo nas condições político-epistemológicas específicas em que esta pesquisa se insere?7 7 Em “Pelo Cu, políticas anais”, os autores defendem uma “ética da passividade”, que nomeiam de “analética” – uma ética do anal. Trata-se de uma análise dos fluxos de penetração a partir de uma reflexão sobre os corpos e orifícios culturalmente entendidos como penetráveis e da moralidade que acompanha os sentidos desses fluxos. O texto é um manifesto a favor das possibilidades de inversão desses fluxos que prescrevem lugares, relações de dominação, papeis ativos e passivos e silenciamentos (Sáez; Carrascosa, 2016).
Maria Dulce Gaspar, que se tornou conhecida por sua pesquisa de mestrado entre garotas de programa de Copacabana, passou a ser “acusada” de ter se tornado prostituta quando, no doutorado, furtou-se dos circuitos acadêmicos que frequentava porque havia passado a pesquisar outro tema. Como eu, Gaspar possuía atributos físicos que lhe permitiam metamorfosear-se entre as garotas, o que neste contexto se torna uma ferramenta essencial de entrada, não deixando margem para qualquer questionamento de que antropologia se faz com e a partir dos nossos próprios corpos.
Como já indiquei, a maior parte das funcionárias das Casas de luxo (e não apenas garotas de programa) obedecem a um padrão estético corporal específico. Um corpo próximo desse padrão me tornava aceita, ao passo que um corpo distante teria prejudicado o contato. Para, por exemplo, fazer fotos para os sites e publicá-las ali, tive antes que enviar fotos do meu corpo para os administradores aceitarem que eu figurasse no seu quadro de “meninas”, ainda que o ensaio fotográfico e a publicação das fotos fossem serviços pagos pelas anunciantes.
A seleção de quem poderia contratar aquele serviço de divulgação acontecia então baseada num único critério: os corpos das anunciantes, que precisavam corresponder ao padrão que criava o perfil destes sites, voltados a um nicho de mercado específico. Só depois de passar por esse crivo, pude ter acesso aos ensaios fotográficos nos estúdios, ao processo de contratação do serviço de publicação das fotos e, finalmente, aos clientes que ligavam interessados em fazer programas.
É claro que os investimentos na construção de um corpo que fazia sentido naquele meio, que era aceito como parte possível de toda aquela trama relacional, haviam começado bem antes da pesquisa e eram fruto de minhas preferências pessoais. Há anos eu mantinha uma rotina diária de treinos de musculação, fazia dietas com suplementação de proteínas, estimulantes e hormônios, o que era relativamente comum entre jovens mulheres do meu bairro e de periferias cariocas em geral.
O mesmo corpo que me abria possibilidade de trabalho, de ganho (e aqui estou falando do trabalho de pesquisa e dos ganhos para a pesquisa), coincidia com o tipo de corpo que me habilitaria a trabalhar como prostituta. Corpo este que destoava, no entanto, dos corpos das colegas antropólogas, cujos investimentos estéticos eram de outro tipo. Ali, a magreza era considerada bela8 8 Naidin (2016) indica um recorte de classe que orienta as intervenções estéticas em marcadores corporais de gênero. Ela conclui que a magreza é um padrão estético que opera nas elites cariocas, enquanto as mulheres pobres buscam formas mais avantajadas. Nas intervenções cirúrgicas, as mulheres ricas, ao contrário destas, orientam-se por um “ideal de natureza”, com mudanças que se pretendem imperceptíveis. , e havia espaço para outras corporalidades que sinalizassem, de alguma forma, um desprezo politicamente orientado pelos padrões hegemônicos de beleza. Mas um corpo feminino cheio de músculos, com pernas e glúteos enormes, vestido em roupas justas era, sem dúvida, um “corpo estranho”.
Gama (2020)GAMA, Fabiene. A auto etnografia como método criativo – experimentações com esclerose múltipla. Anuário Antropológico, v. 45, n. 2, 2020, pp.188-208 [https://journals.openedition.org/aa/5872 - acesso em: 13 ago. 2022]. https://doi.org/10.4000/aa.5872
https://journals.openedition.org/aa/5872...
e outros autores de relatos e análises autoetnográficos, como Karam (2019)KARAM, Sofia. Corpo em combate, cenas de uma vida. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2019. e Ellis (1993)ELLIS, Carolyn. “There Are Survivors”: telling a story of sudden death. The Sociological Quarterly, v. 34, n. 4, Midwest Sociological Society, Blackwell Publishing, nov. 1993, pp.711-730 [http://www.jstor.org/stable/4121376 - acesso em: 03 nov. 2020].
http://www.jstor.org/stable/4121376...
, mostram que o corpo do pesquisador pode ser pensado como campo. Em casos de abordagens autoenográficas das emoções, como é o caso do texto clássico de Carolyn Ellis, o corpo torna-se suporte das questões da pesquisa de uma forma interessante. Foi no caso da pesquisa de Rosaldo (2000)ROSALDO, Renato. Cultura y Verdad – la reconstrucción del análisis social. Equador, Ediciones ABYA-YALA, 2000., marcada por sua própria experiência da ira no luto. Percebemos que a opção por uma abordagem autoetnográfica (como método ou como gênero) pode acabar por confrontar o conceito tradicional de campo como um lugar físico, exterior, delimitado no tempo e no espaço, talvez distante, talvez isolado do resto do mundo (Peirano, 2014PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, v. 20, n. 42. Porto Alegre. Jun/Dez 2014 [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832014000200015 - acesso em: 15 nov. 2020].
https://www.scielo.br/scielo.php?script=...
) como se estivesse in vitro.
Rosaldo (2000)ROSALDO, Renato. Cultura y Verdad – la reconstrucción del análisis social. Equador, Ediciones ABYA-YALA, 2000., em sua pesquisa junto aos ilongot, cujo ritual do luto era vivido por meio de um fluxo de emoções que se resolvia com o ritual de caça de cabeças, aborda a importância de considerar a posição do sujeito dentro do campo de relações sociais, para captar a experiência emocional do indivíduo.
Ele questiona a tradição geertziana de se pensar a cultura como um emaranhado de símbolos e significados organizados na etnografia por meio de uma descrição densa, porque essa operação não daria conta daquilo a que ele se refere como a “força” que marca os limites das explicações verbais. O que, a princípio, não pode ser comunicado pela narrativa etnográfica pode, no entanto, ser experimentado pelo pesquisador, concluirá por meio da sua própria experiência de luto pela morte trágica da esposa Michele Rosaldo em campo, em outubro de 1981.
O conceito de sujeito posicionado chama atenção para a limitação do aparato de que o antropólogo dispõe para pôr em prática a sua metodologia interpretativa. Sua preparação por meio do estudo bibliográfico, conhecimento da língua, bem como todas as técnicas de pesquisa aprendidas nos manuais e que o configuram como o profissional habilitado a compreender certos aspectos culturais de determinado grupo, lhe dão pouquíssimas ferramentas, na verdade.
Mi preparación para comprender una pérdida severa empezó en 1970 con la muerte de mi hermano, poco después de cumplir veintisiete años. Al experimentar esta severa prueba junto con mis padres, adquirí cierta retrospectiva en el trauma de la pérdida de un hijo. Este punto de vista da cuenta de mi relato, descrito antes de forma parcial, sobre las reacciones de un hombre ilongote a la muerte de su séptimo hijo. Al mismo tiempo, mi pena era menor a la de mis padres, no podía imaginar la fuerza abrumadora de la ira posible en tal aflicción. Quizá mi posición previa es similar a la de muchos en la disciplina (Rosaldo, 2000ROSALDO, Renato. Cultura y Verdad – la reconstrucción del análisis social. Equador, Ediciones ABYA-YALA, 2000.:20).
Rosaldo procura no seu próprio repertório de emoções e experiências ao longo dos anos algo que possa tornar inteligíveis os dramas nativos. O que não é possível determinar é em que medida a experiência do luto do pesquisador é moldada pelos afetos despertados em campo, durante uma pesquisa que inclui reflexões sobre a ira na perda – a medida em que a experiência de campo passa, de fato, a constituir o pesquisador a partir de seu próprio trânsito não mais, ou não apenas, na condição de pesquisador, mas tão somente na de sujeito. Assim como Rosaldo foi levado a extrapolar os limites do campo para elaborar seu entendimento da experiência da ira no luto, Killick o foi para dar sentido à sua experiência amorosa na Coreia.
Esse rompimento da membrana que envolve o campo, em ambos os casos, acontece em pelo menos dois sentidos: 1) no tempo-espaço que circunscreve a experiência do pesquisador no campo, ao buscar, no repertório acumulado ao longo de toda a vida, experiências sociais que o auxiliem na compreensão do que se constitui como problema de pesquisa e 2) num sentido ontológico de uma episteme científica que entende o campo como o ambiente da alteridade, povoado por corpos “outros”, na medida em que viver no campo exige do pesquisador um engajamento corporal profundo que supera aquele mais superficial que havia sido previsto como parte dos procedimentos tradicionais de pesquisa.
Assim, o corpo do pesquisador pode passar a ser pensado como parte do campo, por meio de suas emoções e também do sexo. A queda de Michelle Rosaldo do precipício, assim como o relacionamento amoroso de Killick com uma mulher coreana, reclamaram com urgência a corporificação do “o antropólogo”. São, portanto, experiências capazes de inscrever os antropólogos em seus próprios corpos em campo e, em larga medida, nos termos do campo, tal qual uma perda de poder e de controle da experiência propositada. Se se reconhece que, em larga medida, condições ideais de realização da pesquisa não são possíveis, por outro lado, parece haver um limite para a perda de controle possível dessa experiência, como se o campo nunca pudesse, no fundo, deixar de funcionar como um laboratório.
Técnicas de Ocultação da Identidade – “nomes de guerra” e heterônimos
O recurso de praxe – alterar os nomes das pessoas do campo para proteger suas identidades –, do qual imediatamente lançamos mão em nossas etnografias, exige ponderação no caso desta pesquisa, levando em consideração que com frequência as garotas de programa protegem seus nomes de batismo com um “nome de guerra”, com o qual se apresentam nos trabalhos sexuais e que mudam constantemente.
Elas mudam seus “nomes de guerra” quando mudam de bordel ou de agenciador, supersticiosamente para atrair a sorte e o dinheiro, e, num sentido mais prático, para despistar clientes indesejáveis ou para ganhar clientes novos, forjando-se como uma nova garota naquele mesmo site, no caso das call girls. O propósito do “nome de guerra” é justamente funcionar como um anti-nome: efêmero e ocasional, ele é incapaz de conferir a estabilidade que o nome supõe, a unidade da identidade rotulada. Existem, pois, nos circuitos aonde a prostituição de luxo acontece, diversas formas de identificação para além daquela operada pelo nome.
Antropólogos também criam personagens para descrever as próprias experiências, quando estas são “envolvidas demais” e possivelmente rompem com protocolos sobre como o pesquisador deve se comportar em campo. Desta forma, protegem a própria identidade e a credibilidade de suas pesquisas e textos. Com efeito, criar uma personagem só faz sentido para proteção da própria identidade quando se oculta que esta se trata de uma personagem inventada que encarna as experiências do pesquisador.
Decidi, em vez disso, criar uma personagem anunciando que o faço. Uma personagem pouco usual, porquanto reúna sob o mesmo nome minhas próprias experiências em campo e as de minhas interlocutoras prostitutas. Esse recurso pretende, por meio das ferramentas conceituais disponíveis, afirmar-se enquanto resistência política ao cerceamento moral que assola duplamente as mulheres antropólogas em suas etnografias, inquirindo sobre as formas pelas quais exercemos nossa sexualidade (Fleischer; Bonetti, 2007FLEISCHER, Soraya Resende; BONETTI, Alinne (org.). Entre Saias Justas e Jogos de Cintura. Santa Catarina, EDUNISC, 2007.; Corrêa, 1997CORRÊA, Mariza. O espartilho da minha avó: linhagens femininas na Antropologia. Horizontes Antropológicos, ano 3, n. 7, Porto Alegre, nov. 1997, pp.70-96.) e sobre a legitimidade do conhecimento por nós produzido, dependendo do lugar a partir do qual escolhemos ou podemos falar.
Como veremos, o estigma de prostituta recai sobre mim independentemente do fato de eu atuar ou não como prostituta, simplesmente por pesquisar o tema e estar entre prostitutas e transitando em bordéis. Ao longo da pesquisa, vivenciei esse estigma em diversas situações; às vezes, de forma branda ou dissimulada, embora fosse claro que os estereótipos comuns de “puta” estivessem operando como chaves de leitura do que eu dizia ou escrevia, em algumas circunstâncias. Eventualmente, de forma explícita, agressiva e institucionalizada.
Optei assim por criar uma ficção etnográfica, uma personagem híbrida, chamada Giovana, para dar conta da etnografia dos programas. Geertz (2015)GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LTC, 2015. reivindica o sentido de ficção para a etnografia, como fabricação (fictio) da interpretação do campo e da narrativa que lhe dá suporte. Neste sentido, Giovana pode ser considerada um sujeito etnográfico ideal9 9 Analogamente ao tipo ideal weberiano (Weber, 1949). .
Ela encarna justamente o encontro de subjetividades e as problematizações que surgem por meio dos jogos de diálogos, as aproximações e afastamentos sucessivos que marcam o lugar (ou os lugares) que o antropólogo vai assumindo no campo, ela é o sonho da identificação misturado à ambição da análise. Não tem a pretensão de resolver o dilema antropológico da tensão colocada pela alteridade entre pesquisador e nativo, mas de dançar com ele, de testá-lo, pensando justamente nos sentidos, limites e pactos em torno da ideia de alteridade na construção da etnografia.
Na verdade, o conceito de alteridade como o usamos na antropologia já constitui, ele mesmo, uma tentativa de mediação de uma ideia menos simpática: a de distância. Tradicionalmente resolvemos a questão da distância por meio da técnica da observação participante, que entre os anos de 1920 e 1960 se tornará o pilar fundamental da autoridade etnográfica (Clifford, 2014CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014.). É pela observação participante que a alteridade nos é revelada magicamente, assumindo um sentido positivo de diversidade, que afirma nossas convicções a respeito do conceito de cultura (Wagner, 2012WARGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo, Cosac Naify, 2012.).
A proposta conciliatória que Giovana apresenta pode ser assim pensada como uma analogia do sentido geral da observação participante:
Entendida de modo literal, a observação participante é uma fórmula paradoxal e enganosa, mas pode ser considerada seriamente se reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética entre experiência e interpretação (...) Experiência e interpretação têm recebido, no entanto, ênfases diferentes quando apresentadas como estratégias de autoridade. Em anos recentes tem havido um notável deslocamento de ênfase do primeiro para o segundo termo (Clifford, 2014CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014.:32).
O fato de Giovana ser uma personagem protagonista plural, um “nós” não homogêneo inventado como um recurso, coloca dúvidas sobre se “autoetnografia” seria a classificação mais adequada para este trabalho, uma vez que a autoetnografia (assim como a etnografia) se constrói por meio de um “pacto de referencialidade”10 10 O conceito é de Jeff Lejeune (1996), forjado para pensar a autobiografia e aqui aplicado à etnografia, por distinção à ficção. em que autor e narrador são um único e o mesmo indivíduo. Talvez “fabulação auto etnográfica” ou “autoficção etnográfica” fossem termos mais precisos para acomodar uma separação entre autor/pesquisador e o narrador, absorvido pela personagem, plural e ficcional, que é a protagonista da etnografia.
Assume-se deste modo a etnografia como um projeto que não se submete totalmente à Antropologia (Clifford, 2014CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014.), salientando suas relações com a literatura de ficção e reivindicando aquele caminho do “fato etnográfico”, aberto pela concepção de Evans-Pritchard (1972)EVANS-PRITCHARD, Eduard Evan. Social Anthropology. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1972. da etnografia como arte. O que Giovana não quer ser é um método científico ou uma instância ética soberana. Ela existe enquanto ficção para que, de forma crítica aos modos de representação colonial que estão nas bases da nossa disciplina, eu possa me posicionar diante de problemas específicos, fruto de relações historicamente situadas de dominação e de diálogo.
Encaramos assim 1) a problemática que gira em torno do sexo em campo, determinada por normas que estão nas bases da produção de conhecimento antropológico, legitimado como científico e 2) a moralidade que condena a prática prostitucional como abjeta, contaminando as demais esferas da vida do sujeito que presta serviços sexuais e isolando-o em lugares restritos, nos quais ele pode circular e falar de forma controlada.
Como uma resposta às condições de produção desta etnografia, Giovana coloca questões político-epistemológicas sobre os processos que legitimam a produção de conhecimento funcionando, ao mesmo tempo, como heterônimo e como “nome de guerra”. No rastro daquela praxe de criação de personagens para ocultação das experiências de envolvimento do antropólogo em campo, Giovana seria um tipo de “nome de guerra acadêmico”, no âmbito de um texto-programa que está em processo de negociação de valor.
A entrada que abre o ritual
Existe uma dificuldade significativa, no caso deste trabalho, de precisar o momento em que a pesquisa sobre prostituição se inicia. A amizade com a garota da academia de ginástica, nosso compartilhamento de experiências e projeto de corpo foram gradualmente sendo elaborados no contínuo da vida. E de forma relativamente independente da intenção de pesquisar.
A pesquisa não é, de uma forma clara, precedida pela minha experiência pessoal no campo, tal como seria o caso de um pesquisador nativo. Tampouco houve uma entrada em campo com o objetivo privilegiado de realizar uma pesquisa. As motivações para as posições que fui assumindo em campo foram múltiplas, dispondo experiências de contato fragmentadas que se sucederam ao longo do tempo. Tornou-se impossível dizer o que veio primeiro (a experiência ou a pesquisa), justamente porque não se pode definir o momento em que a pesquisa começa.
Rosaldo e Killick ofereceram teorias de entendimento do campo nas quais suas experiências de pesquisa são postas em continuidade com as experiências de vida de uma forma que interessa particularmente aqui. Usando essas perspectivas como ferramentas, tentei explicar o problema que não conseguia até então formular: o de que não havia um momento em que eu estava em campo, trabalhando e fazendo pesquisa, que fosse vivido como um momento encapsulado do restante da vida. Enquanto as questões, que gradativamente ganharam a forma de questões de pesquisa, me perseguiam em eventos ordinários do cotidiano, o tempo todo eu pensava de que maneira esses eventos podiam estar conectados com os problemas que surgiam no campo.
Diferentemente de Rosaldo e Killick o prolongamento do campo sobre a vida não se dava de forma diacrônica, por meio da escavação de memórias para dar sentido aos eventos acontecidos em campo, convocando as memórias, no texto, para viabilizar operação de interpretação. Mas de forma sincrônica, examinando acontecimentos presentes, que estavam em toda parte, para além do bordel, em busca dos significados para o que se passava no campo-bordel. O campo-bordel, bem como sua experiência, estavam então penetrando nos demais âmbitos da vida – fosse por meio da autoabsorção por suas questões e tramas de sentido ou pelo estigma totalizador apontado por Gaspar.
Passei a me perguntar se a pesquisa etnográfica poderia ser concebida como um ritual de produção de verdades antropológicas, cujo marco simbólico que a celebra tenha início na “entrada em campo”, e que impactos na pesquisa teria assim a dificuldade de estabelecer o momento de entrada. Uma entrada imprecisa possui que relações com a dificuldade de determinar a posição do pesquisador no campo? Uma entrada nebulosa do pesquisador no campo, ou uma entrada gradativa da pessoa no papel de pesquisador em campo – e, ainda, a invasão da experiência do campo em outros âmbitos da vida do pesquisador – podem criar que tipos de sujeitos etnográficos, além de Giovana?
Talvez melhor do que pensar sobre uma entrada, situada num momento preciso do tempo-espaço, seja refletir sobre as condições que possibilitaram minha aproximação ao campo, essas que vinham sendo gestadas ao longo de toda uma vida e que têm a ver, entre outras coisas, com classe social e com gênero – admitindo que eu carregue um “devir puta”, para usar a expressão de Olivar (2013)OLIVAR, José Miguel Nieto. Devir puta – política da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013., que é desenhado a partir desses marcadores.
Baseando-nos na concepção de Benedict (2013)BENEDICT, Ruth. Padrões de cultura. Petrópolis, Vozes, 2013., podemos entender que os diversos pertencimentos sociais e seus respectivos marcadores, relacionados à minha identidade, prescrevem um arco de papéis possíveis/ imagináveis, por meio dos significados comumente atribuídos a eles. As próteses de silicone nos seios, o corpo moldado por um padrão estético em que se valorizam os músculos na mulher, hipertrofiados pelos exercícios praticados em academias de ginástica, as roupas justas, curtas, decotadas, coloridas, o uso de adornos como bijuterias, brincos grandes, pulseiras que chacoalham, os cabelos pintados com mechas loiras... são todos indicadores imediatos de um lugar de classe e também de uma certa identidade de gênero que tem a ver com classe social.
As expectativas em torno do exercício da sexualidade, dentro de um esquema de leitura moralmente orientado, permitiam aos meus interlocutores a suposição de um lugar. Foi assim quando fui a um bordel tradicional da cidade entrevistar um dos donos da Casa: ao dizer ao porteiro que estava ali para fazer uma entrevista, ele imediatamente me conduziu a uma sala onde fui recebida pela gerente do estabelecimento, que então começou a me fazer uma série de perguntas pessoais como idade, histórico de saúde, estado civil, local de moradia.
Demorou alguns minutos para que eu percebesse que era eu quem estava sendo entrevistada, na condição suposta pelo porteiro e pela gerente de que eu era candidata a trabalhar como prostituta. Desfeita a confusão, consegui recuperar meu lugar de entrevistadora e conversar com o dono da Casa, que me aguardava e já havia inclusive avisado na portaria que estava à espera de uma pesquisadora. É interessante que o porteiro, mesmo após me receber e me ouvir dizer que eu estava sendo esperada para uma entrevista, não tenha atinado para a possibilidade de ser eu a pesquisadora. Ser puta podia então determinar a minha posição em campo como virtualidade da minha própria identidade, sem que eu precisasse fazer programas. Era um “devir puta”, atuando como um marco relacional de virtualidades (Olivar, 2013OLIVAR, José Miguel Nieto. Devir puta – política da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.), usando como pretexto a irônica coincidência de que “entrevista” era uma prática comum tanto ao campo-bordel quanto ao campo-acadêmico, e sua realização tanto supunha quanto prescrevia lugares e relações de poder: quem é que pergunta, quem é que responde, quem sabe o quê, quem fala sobre o quê ou sobre quem. A julgar pelo meu corpo, a “academia” que eu frequentava e a qual pertencia devia ser apenas a de ginástica.
Quando a autoridade etnográfica desautoriza
Segundo o apanhado elaborado por Clifford sobre o estabelecimento da etnografia como método privilegiado da antropologia, a autoridade etnográfica vai se constituindo ao longo do século XX (Clifford, 2012). Mas a imagem do pesquisador profissional em terras nativas vai ganhando espaço, como conhecimento científico válido, ao mesmo tempo que se cultiva a singularidade da experiência pessoal do campo. Ainda segundo Clifford, a observação participante fornece as bases, na década de 1920, para a edificação da etnografia como gênero literário e científico.
Assim é que essa autoridade etnográfica será baseada num duplo esteio: a interpretação e a experiência; ela penderá para um ou outro ao longo do desenvolvimento da disciplina, sendo sempre possível a invenção de novas formas de equilíbrio desses termos.
Certamente é difícil dizer muita coisa a respeito de “experiência”. Assim como “intuição”, ela é algo que alguém tem ou não tem, e sua invocação frequentemente cheira a mistificação. Todavia pode-se resistir à tentação de transformar toda experiência significativa em interpretação. Embora as duas estejam reciprocamente relacionadas, não são idênticas. Faz sentido mantê-las separadas, quanto mais não seja porque apelos à experiência muitas vezes funcionam como validações para a autoridade etnográfica (Clifford, 2014CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014.:33).
O problema passa a ser então quais seriam as experiências significativas que não devem ser transformadas em interpretação e que, portanto, não devem extravasar dos diários para constar nas etnografias. Esse entendimento, mais ou menos consensual de que um “excesso” de experiência no texto etnográfico o “descientificiza” e de que se trata de um inconveniente apelo de legitimação do texto pela afirmação da autoridade etnográfica experiencial, acaba provocando uma espécie de “efeito rebote” da autoridade etnográfica. De acordo com esta perspectiva, uma etnografia em que a experiência sobrepuja a interpretação desautoriza o texto.
Mas é claro que a ênfase na experiência do pesquisador em campo não é sempre uma tentativa de afirmação de autoridade experiencial. E a experiência não funciona como fonte exclusiva da autoridade, mesmo nos textos produzidos a partir das experiências mais envolvidas11 11 Clifford procura desnaturalizar a “alegoria da textualização” utilizando-se da perspectiva de Derrida na sua Gramatologia. Com isso, revela as operações de criação de uma autoridade que se sustenta no próprio ato de registar por escrito (Clifford, 2014). – até nos casos em que o próprio foco da pesquisa esteja na experiência do pesquisador e no caso de trabalhos autoetnográficos.
O paradigma da autoridade etnográfica experiencial, neste sentido, revela, talvez melhor do que outros paradigmas de autoridade apontados por Clifford, essa tensão imanente à história do estabelecimento da Antropologia, enquanto disciplina baseada no trabalho de campo qualitativo e na observação participante: tanto confirma quanto põe em dúvida seu mérito científico. O texto etnográfico se faz justamente sob o equilíbrio desse conflito e depende de sucessivas avaliações (do autor, dos leitores e pares) de qual é o tipo de experiência de campo que pode ser considerada legítima como uma ferramenta explícita de obtenção de dados, ou matéria de interpretação. Neste sentido, conceber e estruturar a narrativa etnográfica por meio de uma “‘alegoria’ do encontro de subjetividades” (Versiani, 2002:67), qualquer que seja o paradigma de autoridade adotado, é, sem dúvida, um caminho frutífero quando se busca ajustar a produção de conhecimento, em termos políticos e epistemológicos, à tentativa de problematizar certos padrões de legitimação de saberes.
O autor da etnografia procura conduzir entendimentos possíveis do texto restringindo o sentido das palavras que acomoda na configuração das frases, e faz isso valendo-se de uma posição de autoridade (Derrida, 1999DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo, Perspectiva, 1999.). As palavras “autoridade” e “autor” derivam do latim augere, que quer dizer “aumentar”, “fazer crescer”. Possuem, pois, um sentido original que remete à produção e criação. Mas concebe-se tradicionalmente o trabalho antropológico como uma escrita, ou descrição sobre culturas, capaz de neutralizar a interferência determinante da perspectiva de mundo do antropólogo, que deve ser reconhecida, antes de mais nada, como uma perspectiva situada. E quanto mais hábil seja o etnógrafo na execução desse e de outros procedimentos de legitimação científica do seu texto, mais solidamente se constitui a autoridade do relato e interpretação que produz. Num certo sentido se poderia, à primeira vista, pensar que o estabelecimento de uma autoridade que legitima texto etnográfico é tão mais eficiente quanto menos autoral é o trabalho. Ou melhor, o que quer dizer ser autor de uma etnografia? E qual a interferência possível da subjetividade do autor nestes textos? Ou em que termos a subjetividade do autor pode/deve estar expressa naquilo que se considera uma boa etnografia?
Na verdade, a etnografia configura um tipo específico de autoria e das possibilidades de autoridade dessa autoria. Se os antropólogos olham as culturas por cima dos ombros dos nativos e se os nativos podem olhá-las por cima dos ombros dos antropólogos também, toda a discussão acumulada em torno do fazer etnográfico como um jogo reflexivo desemboca numa relação entre autoria e autoridade que, embora deem a impressão de estarem em proporção invertida uma relação à outra, andam, na verdade, de mãos dadas.
A autoridade que estamos discutindo diz respeito simultaneamente à escrita e ao destino do texto. Um etnógrafo em campo, antes da preparação do texto, já é um etnógrafo? Como funciona a autoridade etnográfica nas relações de campo enquanto se está em campo? Ela existe e/ou precisa existir? Sabemos que o campo possui seus próprios esquemas de autorização discursiva que, muitas das vezes, em nada correspondem aos esquemas acadêmicos ou científicos de autoridade e autorização.
Etnografia dos programas
Usávamos vestidos colados ao corpo. De tão curtos, ao andar, mostravam nossas calcinhas. Sandálias de saltos altíssimos e finos, como próteses de seduzir, acopladas aos pés, das quais não se podia prescindir, assim como da maquiagem: sombra nos olhos e delineador, base e pó para uniformizar a pele do rosto, batom. Perfume. Pulseiras, brincos grandes. Os meus eram uma cascata de strass. Os longos cabelos tratados com bons produtos de beleza.
No salão, os homens ficavam sentados em sofás atrás de mesinhas, usando roupões de banho cedidos pela Casa e obrigatórios para a permanência em todos os espaços comuns do bordel. No peito, um emblema com o nome do estabelecimento e o ano de abertura: “desde 1948”. Logo que os clientes chegavam, eram atendidos por uma recepcionista poliglota que os conduzia até o vestiário masculino. Eles recebiam a chave de um dos armários onde punham seus pertences e trocavam as suas roupas pelo roupão.
Enquanto Giovana caminhava pelo salão, olhava os clientes e era olhada por eles. Parou no bar, encostou-se no balcão. Balbuciava o refrão da música ambiente. Trocava palavras rápidas com outras garotas. Fazia pose. Vez por outra mexia o corpo esboçando uma dança. Esta aproximação consiste apenas em mostrar-se disponível, num primeiro momento. Ela espera que algum homem a olhe ou lhe faça sinal.
Sorriu para um garoto que a observava. Ele sorriu de volta. Então ela foi até ele e perguntou se podia se sentar. Conversavam animadamente, o que se via de longe pelos movimentos ininterruptos das bocas, revezando falas e risos. Os olhos postos um no outro, concentrados. Logo estavam abraçados e foram fazer um programa.
Como os clientes não podem entrar com seus pertences no salão ou nos quartos, todo o seu consumo dentro da Casa (de bebidas, petiscos ou programas) não é pago imediatamente, mas indexado ao número do armário em que guardam suas coisas quando chegam. Esse número está gravado na chave, que fica pendurada numa argola de borracha que eles usam como pulseira. “A chave do meu coração pra você”, brincam de dizer quando escolhem a garota. A chave do cliente, entregue nas mãos da prostituta, simboliza a “abertura do programa”.
Então o número da chave é anotado pela “cabinária”, uma mulher que fica sentada na entrada do vestiário feminino, munida de um caderno e um telefone. O cliente pode escolher entre fazer um programa de 40 minutos ou 1 hora. E também uma cabine ou uma suíte, que é mais cara e um pouco maior que as cabines. A cabinária registra as opções escolhidas. Ela controla a ocupação dos quartos.
O cliente de Giovana ficou esperando na porta do vestiário. Os clientes não podem entrar ali. A garota entrou, se lavou num dos chuveiros do box coletivo. Colocou uma lingerie limpa e passou hidratante no corpo, escovou os dentes, retocou a maquiagem. Espera-se que isso seja feito depressa, porque o tempo do programa passa a transcorrer desde que a cabinária registra no caderno e liga para a administração para repassar as informações. Se a garota demora, frequentemente surge a acusação de que ela “está enrolando”. Então a cabinária entrega à prostituta um pacotinho com preservativos.
Giovana subiu para uma das cabines com seu cliente. Chegaram ao quarto conversando. Ela procurava ser simpática. Era um homem jovem, bonito. Giovana administrava a passagem do tempo que, quanto mais lentamente progredisse até o momento do sexo, melhor seria, pois maiores tornavam-se as chances de o cliente querer “dobrar” o programa (dobrando o tempo, como também o valor pago à garota).
Conversaram sentados na cama. Giovana demonstrava interesse na história de vida do rapaz, que se prolongava. Começaram a tirar as roupas quando faltava pouco tempo para o término do programa, e logo tocou o telefone fixo que havia dentro do quarto. Era a cabinária informando o término. Giovana parou o que estavam fazendo, pois quando o telefone tocava, era preciso atender imediatamente. O rapaz resignou-se; ainda não havia atingido o orgasmo. Assentiu com a cabeça para Giovana.
-
Vamos dobrar, disse a garota para a cabinária.
Terminado o programa, Giovana retornou ao vestiário feminino. Fez outra vez todo o ritual de limpeza: lavando as partes íntimas, trocando a lingerie usada pelo uniforme de estar no salão, escovando os dentes, ajeitando o cabelo, retocando a maquiagem, perfumando-se. Retornou ao salão.
A Casa estava enchendo e as garotas pareciam mais à vontade. Formavam-se pequenos grupos de 3 ou 4 mulheres conversando pelos cantos. A postura das mulheres no salão do bordel de luxo é relativamente contida. Giovana foi outra vez se escorar no balcão do bar pelos cotovelos, olhava o salão. Viu um homem sozinho, bebendo de cabeça baixa. Foi até ele oferecer companhia. Ele afastou-se, criando espaço no sofá para que ela se sentasse ao seu lado.
Outra garota passou pela mesa e fez um sinal pra Giovana avisando que ele já tinha feito um programa, o que queria dizer que era pouco provável que fosse fazer outro.
Giovana ficou mais uns minutos, pediu licença, disse que ia ao banheiro e subiu para o vestiário. Pegou um cigarro no seu armário. Pediu à cabinária uma ficha para o fumódromo e desceu para a casa de máquinas, que ficava perto da sala da administração, de onde os donos monitoravam todos os ambientes da Casa por câmeras. No fumódromo, só podiam estar até três garotas por vez.
De volta ao salão. Uma garota que fazia companhia a um dos clientes chamou Giovana.
-
Vamos subir com a gente? Ele quer duas.
Subiram para a suíte após cumprir os procedimentos de troca de roupa e higiene no vestiário e pegar os preservativos com a cabinária. O homem de meia idade, italiano, enfatizou que queria as garotas “bem limpas”.
No quarto, ele cuspia muito nos corpos das mulheres e em si mesmo, fantasia que se designa por “mucofilia”. Estavam ensopadas de saliva, as duas. Durante o sexo, quando ele, num relance, virava o rosto, as garotas reviravam os olhos uma para a outra, sinalizando o inconveniente. A amiga de Giovana, administrando a raiva e o nojo, encenados como parte do jogo erótico, deu uma cusparada no rosto do cliente. Sorriu. Ele animou-se mais: cuspia na cara dela e esfregava a saliva com os dedos nas bochechas, na boca, nos cabelos.
Giovana disfarçou uma ou duas ânsias de vômito. Quando o telefone tocou dentro da suíte, informando que o programa havia terminado, o cliente já estava vestindo seu roupão. As garotas, no banho, comunicavam-se em silêncio, com caretas de deboche.
Chegaram ao vestiário comentando o programa, as outras mulheres as cercaram para ouvir a história. Há sempre uma ridicularização, no vestiário, dos programas que acabaram de fazer. O tom jocoso parece criar um efeito de refração da experiência, daquilo que elas experimentaram ou sentiram no sexo (nojo, raiva, desejo...), criando camadas de realidade.
Podemos concluir que a jocosidade exerce uma função de conciliação de conflitos, torna suportável a experiência do nojo, assim como cria o distanciamento necessário para frear outros envolvimentos inconvenientes. Por meio do deboche, Giovana e a amiga reafirmam a sua vontade de estar no programa, e fazer programas é uma forma de lidar com experiências desagradáveis sem cair no registro do “sexo degradante” e na retórica do “estupro pago”.
Assim, o vestiário é o lugar dos significados partilhados pelas mulheres que escolhem se prostituir, onde se constroem coletivamente os sentidos que operam os ajustes do que significa o ato sexual praticado como programa. É lugar de produção da distância das subjetividades femininas em relação às experiências de quarto. E essa é apenas uma das práticas que procuram evitar que o ato sexual prostituído as afete e penetre quem somos.
Conclusão
A pergunta que deve motivar as reflexões deixadas à guisa de considerações finais é: por que escrever uma etnografia dos programas exige uma discussão prévia que absorve todo o espaço de um artigo, envolvendo moralidades científicas, pressupostos político-epistemológicos e modelos chancelados para escrita etnográfica? Que valores em jogo no campo acadêmico tornam esta discussão apriorística? Este artigo e as discussões apontadas nele são uma tentativa de abertura de espaço para que se possa passar com a etnografia dos programas, esse “ter estado lá” maldito, que encontra seu ponto alto nas situações de quarto. É importante que não se perca de vista que o plano de contraste proposto é o que surge ao se imaginar os trânsitos de um corpo entre o bordel e a academia.
Passando por eventos significativos para a análise por meio de conflitos envolvendo corporalidades (como quando as interlocutoras acadêmicas estão na academia de ginástica a debochar da prostituta musculosa, ou quando vou de entrevistadora a entrevistada na primeira visita ao bordel), a etnografia dos programas é o clímax performativo do texto. Ela indica um lugar físico, simbólico e experimental por onde a personagem, carregando o corpo da pesquisadora, circula. O bordel, representado na forma de um fragmento etnográfico “fora de contexto”, extravasa do pequeno espaço da etnografia e se insinua como aquele devir que interroga os engessamentos identitários.
Assim é que o campo, no caso deste artigo, constitui-se na relação entre as situações de programa no bordel, descritas na narrativa etnográfica apresentada e o campo acadêmico (representado ao longo do texto por meio de relatos da experiência situada de uma estudante), com suas moralidades que prescrevem fluxos e trânsitos específicos para o corpo do pesquisador. O corpo híbrido de Giovana, personagem cuja criação se respalda na semelhança estética (nos sentidos que essa estética corporal carrega) entre meu próprio corpo e os corpos das mulheres do bordel, poderia adentrar espaços que nos são vetados e revelar tensões que provoquem a discussão em curso na Antropologia, especialmente nos estudos de gênero e sexualidade e nas autoetnografias, sobre engajamentos corporais em campo e o seu revestimento moral dentro de um projeto científico da disciplina.
Como personagem híbrida, alegoria do encontro e da polifonia, Giovana é a protagonista fabulada que faz os ajustes narrativos para falas possíveis. E ela o faz negociando autoridades e autorias para a produção de um relato etnográfico dos programas. Este que se constitui em tensão com o que as moralidades acadêmicas prescrevem como limites acerca, simultaneamente, das narrativas das experiências etnográficas marcadas por “ter estado lá” e do exercício da sexualidade pelas mulheres.
Outras perguntas podem ser feitas a respeito do caminho aqui construído. Preocupa-me particularmente se Giovana pode ser pensada como fruto de uma autoridade de fato plural ou, na verdade, total. Mas, em maior ou menor escala, essa é também uma questão que pode sempre ser colocada a respeito das etnografias: que tipo de encontro com o campo elas revelam, para além das representações do distanciamento ou intimidade, das quais lançamos mão de forma recorrente e com certo automatismo.
Referências bibliográficas
- ARAÚJO, Rogério. Prostituição: artes e manhas do ofício. Goiânia, Canone Editorial, 2006.
- BACELAR, Jeferson Afonso. A família da prostituta. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia (Ensaios 87), 1982.
- BENEDICT, Ruth. Padrões de cultura. Petrópolis, Vozes, 2013.
- CESARA, Manda. Reflections of a Woman Antropologist. London, Academic Press, 1982.
- BLANCHETTE, Thaddeus; SILVA, Ana Paula da; CAMARGO, Gustavo. Idealismo Alemão e o corpo alienável: repensando a “objetificação” no contexto do trabalho sexual. In: SIMÕES, Soraya Silveira; SILVA, Hélio R. S.; MORAES, Aparecida Fonseca (org.) Prostituição e outras formas de amor. Niterói, Editora da UFF, 2014, pp.145-178.
- CORRÊA, Mariza. O espartilho da minha avó: linhagens femininas na Antropologia. Horizontes Antropológicos, ano 3, n. 7, Porto Alegre, nov. 1997, pp.70-96.
- CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014.
- DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo, Perspectiva, 1999.
- DWORKIN, Andrea. Pornography: Men Possessing Women. New York, E. P. Dutton, 1989.
- ELLIS, Carolyn. “There Are Survivors”: telling a story of sudden death. The Sociological Quarterly, v. 34, n. 4, Midwest Sociological Society, Blackwell Publishing, nov. 1993, pp.711-730 [http://www.jstor.org/stable/4121376 - acesso em: 03 nov. 2020].
» http://www.jstor.org/stable/4121376 - EVANS-PRITCHARD, Eduard Evan. Social Anthropology Londres, Routledge & Kegan Paul, 1972.
- FERREIRA, Paulo Rogers. Os afectos mal-ditos: o indizível nas sociedades camponesas. São Paulo, Editora Hucitec, 2008.
- FLEISCHER, Soraya Resende; BONETTI, Alinne (org.). Entre Saias Justas e Jogos de Cintura. Santa Catarina, EDUNISC, 2007.
- FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade I – a vontade de saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.
- GAMA, Fabiene. A auto etnografia como método criativo – experimentações com esclerose múltipla. Anuário Antropológico, v. 45, n. 2, 2020, pp.188-208 [https://journals.openedition.org/aa/5872 - acesso em: 13 ago. 2022]. https://doi.org/10.4000/aa.5872
» https://journals.openedition.org/aa/5872» https://doi.org/10.4000/aa.5872 - GASPAR, Maria Dulce. Garotas de programa – prostituição em Copacabana e identidade social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985.
- GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LTC, 2015.
- GOFFMAN, Erving. Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu editors, 1963.
- KARAM, Sofia. Corpo em combate, cenas de uma vida. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2019.
- KILLICK, Andrew P. The Penetrating intellect. In: KULICK, Don; WILLSON, Margaret (org.). Taboo –sex identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. Londres, Routledge, 1995, pp.58-80.
- KULICK, Don; WILLSON, Margaret (org.). Taboo –sex identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. Londres, Routledge, 1995.
- LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris, Èditions du Seuil, 1996 [1975].
- MACKINNON, Catharine. Pornography, Civil Rights, and Speech. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, v. 20, n. 1, 1985.
- NAIDIN, Silvia. (Bio)tecnologias do corpo e do gênero: uma análise da construção de corporalidades femininas. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
- OLIVAR, José Miguel Nieto. Devir puta – política da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.
- PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, v. 20, n. 42. Porto Alegre. Jun/Dez 2014 [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832014000200015 - acesso em: 15 nov. 2020].
» https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832014000200015 - PISCITELLI, Adriana. Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.
- ROJO, Luiz Fernando. Vivendo “nu” paraíso: comunidade, corpo e amizade na Colina do Sol. Tese (Doutorado em ciências sociais), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
- ROSALDO, Renato. Cultura y Verdad – la reconstrucción del análisis social. Equador, Ediciones ABYA-YALA, 2000.
- SAEZ, Javier; CARRASCOSA, Sejo. Pelo cu: políticas anais. Belo Horizonte, Letramento, 2016.
- SIMMEL, George. Psicologia do dinheiro e outros ensaios. Lisboa, Texto & Grafia Editora, 2009.
- STRATHERN, Marylin. O efeito etnográfico – e outros ensaios. São Paulo, Cosac Naify, 2014.
- VERSIANI, Daniela Beccaccia. Autoetnografia – uma alternativa conceitual. Letras de Hoje, v 37, n 4, Porto Alegre, 2013, pp.57-72 [https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/14258/9483 – acesso em 17 de ago. 2011]
» https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/14258/9483 - WACQUANT, Loïc. Corpo e alma – notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2002.
- WARGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo, Cosac Naify, 2012.
- WEBER, Max. The Methodology of the Social Sciences. New York, Free Press, 1949. Ed. e trad.: Edward A. Shils e Henry A. Finch.
-
1
A pesquisa contou com o auxílio da bolsa CAPES de doutorado entre os anos de 2012 e 2015.
-
2
Para Strathern, o problema da autoria no texto etnográfico não se resume a questão das vozes a partir das quais se produz o texto, mas se trata também de como as palavras das pessoas pertencem a elas. Sendo assim, não é o pertencimento do pesquisador a certo grupo que determina um caráter autoetnográfico do seu trabalho pois, assim como coloca a autora, “a casa pode recuar infinitamente” (Strathern, 2014STRATHERN, Marylin. O efeito etnográfico – e outros ensaios. São Paulo, Cosac Naify, 2014.:137), mas sim a medida da continuidade entre o trabalho produzido e as verdades nativas.
-
3
Para uma discussão crítica sobre o conceito de objetificação no feminismo abolicionista, ver Blanchette, Silva & Camargo, 2014BLANCHETTE, Thaddeus; SILVA, Ana Paula da; CAMARGO, Gustavo. Idealismo Alemão e o corpo alienável: repensando a “objetificação” no contexto do trabalho sexual. In: SIMÕES, Soraya Silveira; SILVA, Hélio R. S.; MORAES, Aparecida Fonseca (org.) Prostituição e outras formas de amor. Niterói, Editora da UFF, 2014, pp.145-178..
-
4
Conferência realizada em 22/10/2013, intitulada Gueto, hypergueto, favela e etc.: constelações da relegação urbana. Atividade realizada com o apoio do PPGAS/MN.
-
5
Thaddeus Blanchette é professor de Antropologia da UFRJ.
-
6
“We can no longer hide from ourselves the sexual symbolism by which the ethnographic Other, the erotic-exotic, is imagined as inhabiting an enclosed space, the field: stronghold of cultural secrets, breeding ground of experience, virgin territory to be penetrated by the ethnographer’s interpretative thrust. Vincent Crapanzano has suggested seeing this act of penetration as not merely intellectual but phallic: “We say a text, a culture even, is pregnant with meaning. Do the ethnographer’s presentations become pregnant with meaning because of his interpretative, his phallic fertilizations?” (Killick, 1995KILLICK, Andrew P. The Penetrating intellect. In: KULICK, Don; WILLSON, Margaret (org.). Taboo –sex identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. Londres, Routledge, 1995, pp.58-80.:58).
-
7
Em “Pelo Cu, políticas anais”, os autores defendem uma “ética da passividade”, que nomeiam de “analética” – uma ética do anal. Trata-se de uma análise dos fluxos de penetração a partir de uma reflexão sobre os corpos e orifícios culturalmente entendidos como penetráveis e da moralidade que acompanha os sentidos desses fluxos. O texto é um manifesto a favor das possibilidades de inversão desses fluxos que prescrevem lugares, relações de dominação, papeis ativos e passivos e silenciamentos (Sáez; Carrascosa, 2016).
-
8
Naidin (2016)NAIDIN, Silvia. (Bio)tecnologias do corpo e do gênero: uma análise da construção de corporalidades femininas. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. indica um recorte de classe que orienta as intervenções estéticas em marcadores corporais de gênero. Ela conclui que a magreza é um padrão estético que opera nas elites cariocas, enquanto as mulheres pobres buscam formas mais avantajadas. Nas intervenções cirúrgicas, as mulheres ricas, ao contrário destas, orientam-se por um “ideal de natureza”, com mudanças que se pretendem imperceptíveis.
-
9
Analogamente ao tipo ideal weberiano (Weber, 1949WEBER, Max. The Methodology of the Social Sciences. New York, Free Press, 1949. Ed. e trad.: Edward A. Shils e Henry A. Finch.).
-
10
O conceito é de Jeff Lejeune (1996)LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris, Èditions du Seuil, 1996 [1975]., forjado para pensar a autobiografia e aqui aplicado à etnografia, por distinção à ficção.
-
11
Clifford procura desnaturalizar a “alegoria da textualização” utilizando-se da perspectiva de Derrida na sua Gramatologia. Com isso, revela as operações de criação de uma autoridade que se sustenta no próprio ato de registar por escrito (Clifford, 2014)CLIFFORD, James. A experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2014..
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Set 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
25 Nov 2020 -
Aceito
15 Dez 2021