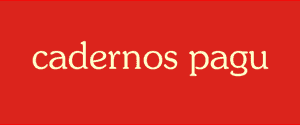Nos últimos anos, no Brasil, com o avanço das políticas neoliberais e do crescente conservadorismo, determinados profissionais - professores(as) e artistas - têm travado verdadeiras batalhas para combater as cruzadas antigênero, antifeminista e anti-LGBTQIAPN+1 1 O acréscimo do Q, do I, do A, do P, do N e do símbolo + na então nomenclatura direcionada ao Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais diz respeito ao amplo espectro de identificações e vivências sobre o qual está assentada a sexualidade, tal como um processo que se (re)inventa à medida em que a sociedade se transforma. Mais especificamente no que concerne à atualidade da sigla, o acréscimo das letras e do símbolo referem-se à diversidade sexual e de gênero que, obviamente, uma composição de quatro letras não dá conta. O apelo do movimento LGBT brasileiro para que a sigla fosse atualizada não se trata apenas da inclusão e/ou modificação do que já existia; vale ressaltar que, pelo menos desde 2016, a Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque reconhece um total de 31 identidades de gênero, iniciativa que multa em até U$ 250.000 as empresas que se recusam a chamar pelo nome social ou reconhecer a diversidade sexual e de gênero dos indivíduos. (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais, pansexuais e não-binárie) que insistem em legislar sob causa própria.
Diversos setores políticos e religiosos não têm medido esforços para produzir sensações de pânico moral, intimamente atreladas ao controle de corpos e condutas consideradas anormais, vide o fechamento de exposições cujo tema central era o corpo e a sexualidade2 2 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html, acesso em 28 jan. 2019. , a criminalização de professores(as) em pleno exercício profissional sob a justificativa do uso dos estudos de gênero e sexualidade como doutrinação3 3 Disponível em: https://educacaointegral.org.br/reportagens/projeto-de-lei-preve-prisao-de-docente-que-falar-sobre-ideologia-de-genero/, acesso em 28 jan. 2019. , e, mais recentemente, a associação perversa entre escola, família e moral com vistas a criar prognósticos "inescapáveis" em torno do que deve ou não ser ensinado, colocando a escola e a família em jogos de forças opositoras, além de capitanear movimentos de rechaço a uma pedagogia questionadora4 4 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/04/estilo/1546614596_209570.html, acesso em 28 jan. 2019. .
Pari passu à existência desses movimentos pró-vida e pró-família, é sintomático observarmos a produção de ataques obscenos ao sistema educacional, sobretudo com relação à vulgarização de práticas docentes que questionam tamanho retrocesso e usurpação de direitos. Não à toa, o sintagma "ideologia de gênero", aludindo às importantes reflexões de Rogério Diniz Junqueira (2022)JUNQUEIRA, Rogério Diniz. A invenção da “ideologia de gênero”: um projeto reacionário de poder. Brasília, Letras Livres, 2022., tem sido a porta de entrada para desqualificar e punir professores(as) que tangenciam ou que trabalham diretamente questões de gênero e sexualidade em sala de aula, por exemplo: violência doméstica, feminicídio, LGBTQIAPN+fobia, abuso sexual, feminismo, saúde do homem, direitos sexuais e reprodutivos, machismo etc.
A partir de então, algumas iniciativas intra e extra-acadêmicas valeram-se do escrutínio a respeito da produção de diferenças e desigualdades de gênero e sexuais relacionadas à prática educacional com vistas a contra-atacar todo e qualquer sistema de posicionamento rígido e violador de direitos. Para citar apenas algumas, é o caso das Paradas da Diversidade LGBTQIAPN+ país afora - que tem um importante papel pedagógico de visibilidade, de reconhecimento e de luta por direitos -, da militância feminista e LGBTQIAPN+ dentro e fora das universidades e da criação do curso de aperfeiçoamento, presencial e à distância Gênero e Diversidade na Escola (GDE), implementado em 2003, em parceria com o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) e o Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)5 5 Em 2006, o curso foi paulatinamente disseminado em diversas cidades brasileiras - Porto Velho, Salvador, Maringá, Dourados, Niterói e Nova Iguaçu -, totalizando 1.200 vagas, distribuídas entre professoras(es) das disciplinas de ensino fundamental, de 5ª a 8ª séries. O curso "foi resultado de uma articulação entre diversos ministérios do Governo Federal Brasileiro (Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério da Educação), British Council (órgão do Reino Unido atuante na área de Direitos Humanos, Educação e Cultura) e Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). Desde a sua implementação, em 2003, o CLAM tem se dedicado à pesquisa e à formação na área dos estudos de sexualidade e gênero e busca contribuir para a formulação de políticas públicas que visem à diminuição das desigualdades sociais na América Latina" (Rohden; Araújo; Barreto, 2008:7). .
Na esteira dos importantes eventos citados e da necessidade de tornar cada vez mais acessível o debate sobre gênero e sexualidade na educação básica, além de capacitar profissionais para trabalhar nas mais diversas situações que envolvam tais temáticas, apresento-lhes o livro "Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola", como instrumento de aproximação entre duas grandes áreas, quais sejam: Gênero e Educação.
Sem a intenção de instrumentalizar o debate, o material proposto, escrito por pesquisadoras e pesquisador da área das Ciências Sociais (Antropologia), vinculados ao Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença (NUMAS6 6 Mais informações sobre o NUMAS em: http://antropologiausp.blogspot.com/2010/10/numas.html, acesso em: 28 jan. 2019. ) da Universidade de São Paulo (USP) - Beatriz Accioly Lins, Bernardo Fonseca Machado e Michele Escoura -, cumpre a função de disseminar a variedade e complexidade da relação temática referida, subsidiando a produção, reflexão e multiplicação de conhecimento de modo didático e substancial.
O livro está dividido em: introdução, oito capítulos, um apêndice com sugestões de materiais audiovisuais e textuais e um glossário (arranjos familiares, bissexuais, cisgênero, cultura, estereótipo, feminicídio, gays, generificar, heterossexualidade, heteronormatividade, homossexualidade, identidade de gênero, lei Maria da Penha, lésbicas, marcadores sociais da diferença, naturalizar, normativas, orientação sexual e transexuais/travestis/transgêneros) que tem como preocupação central oferecer informações para qualificar o processo de ensino-aprendizagem, apresentando conceitos jurídicos e categorias políticas de extrema relevância para a constituição de uma educação aberta à diversidade e à diferença.
De saída, é possível observar a preocupação dos autores em destacar a cotidianidade das situações que envolvam a interseccionalidade dos temas gênero e educação na constituição de papéis, repertórios e assimetrias. Compõem esse cenário desde os aspectos relacionados ao modo como são produzidas as expectativas de gênero femininas e masculinas, as tais "coisas de menina(o)", as quais esbarram num efeito compulsório por organizar corpos, emoções, práticas e objetos, até os seguintes binômios macro analíticos: natureza-cultura, indivíduo-sociedade.
Desta feita, a partir da problematização de determinadas convenções de gênero associadas a meninas e meninos já na alfabetização ("casa", "modelo" e "amor" = meninas / "bola", "piloto" e "força" = meninos), o ponto de partida do livro procura questionar a rigidez e o controle de corpos e gêneros, além de dessencializar mentalidades e posturas embasadas exclusivamente em domínios biológicos e institucionais.
Nesse sentido, a abordagem do livro toma o termo gênero enquanto um dispositivo sociocultural que organiza o modo como pensamos e todos os arquétipos relacionados a ele servem de base para a reprodução de violências e desigualdades, leia-se: relações de poder, privilégios ou hierarquias sociais. Cabe evidenciarmos que a articulação entre gênero e educação, da forma como está presente na sociedade brasileira, não se limita ao âmbito formal, é antes um sistema que estrutura e confere legitimidade às nossas relações e referentes.
A breve genealogia da categoria gênero presente nos capítulos 1, 2 e 3 - "Entre o azul e o cor-de-rosa: normas de gênero"; "Gênero e o movimento pelos direitos das mulheres"; e "Mulheres e seus direitos", respectivamente - traça uma linha do tempo a partir da qual movimenta instituições, narrativas e experiências marcadas por tensões e conflitos. Lins, Machado e Escoura mostram que a sinuosidade desses processos é construída pari passu ao contexto histórico de desvalorização e desqualificação da figura da mulher e da sua inserção no mercado de trabalho. Vale ressaltar que foi no contexto de feminilização do magistério, no século XX, por meio da industrialização das grandes cidades brasileiras e da consequente retirada dos professores homens das salas de aula, que a noção de cuidado e a ausência de equivalência salarial entre mulheres e homens funcionaram como eixos operadores de estereótipos, hierarquias e desigualdades. Posto isso, a seguinte chamada de atenção dos autores nos coloca em alerta:
[...] é preciso lembrar que combater as hierarquias de gênero não significa apagar todas as diferenças. Igualdade entre as pessoas não é anular as nuances e as diferenças existentes entre elas, mas garantir que tais variações não sejam usadas para se estabelecer relações de poder, hierarquia, violências e injustiças (p. 24).
Cabe mencionar, seguindo os argumentos dos autores, que a compreensão a respeito da produção das diferenças e das desigualdades não pode ser complementar, isto é, partir de um mesmo ponto de modo a unificar as relações; faz mais sentido que a diferença e a igualdade caminhem juntas e de maneira horizontal. Não se trata, portanto, da busca pela individualidade de direitos, tampouco isso equivale a um jogo de forças entre gêneros. É, sim, uma atitude e um movimento político (feminista) que reúne e problematiza o que seria da ordem da natureza ou daquilo que é projetado culturalmente de maneira "inescapável". Esse trabalho de problematização é realizado para fins de reflexão a respeito, por exemplo, da importância da conquista de alguns direitos pelas mulheres - como voto, propriedade, representação política, acesso à educação e à saúde reprodutiva - e da criação de leis e políticas públicas que visam à diminuição da desigualdade entre mulheres e homens.
O surgimento do movimento feminista no final do século XVIII, na Europa, e todo o seu percurso histórico até hoje foram fundamentais para garantir visibilidade e protagonismo às mulheres, além de ser um catalisador na busca por direitos, dignidade e resistência feminina. São bons exemplos das conquistas desse movimento a inauguração da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em 1985, na cidade de São Paulo, assim como a promulgação da Lei Maria da Penha (nº. 11.340/06), cujo objetivo é punir e prevenir a violência no contexto doméstico e familiar.
Conforme a leitura do livro avança, notamos que a experiência escolar começa a ganhar força. Por uma questão estratégica, os autores optaram por primeiro situar a dimensão sociocultural da categoria gênero, principalmente no que diz respeito ao alcance desse conteúdo para um público leigo, para depois escrutinar suas convergências e divergências dentro do sistema educacional formal.
No percurso que compreende os capítulos restantes (4, 5, 6, 7 e 8 - "Violência de gênero e a experiência da escola"; "Vamos falar de sexualidade"; "O que a família tem a ver com isso?"; "Outras diferenças"; e "Últimas considerações", respectivamente), não há como negar que o esforço por nomear e sistematizar determinadas práticas e conceitos torna o livro extremamente relevante, sobretudo porque sinaliza o perigo que nos ronda quando essencializamos condutas que ferem a dignidade e integridade humana.
Nessa segunda parte do livro, em que os autores evidenciam como "a violência de gênero tem sido uma categoria muito popular nos últimos tempos para nos referirmos a situações violentas relacionadas às desigualdades entre homens e mulheres" (p. 54), é fundamental observarmos que
[...] além de abranger situações em que indivíduos têm suas vontades preteridas ou são coagidos, a violência se faz presente em diversos tipos de violação dos direitos: civis (como a liberdade, a privacidade, a propriedade privada, a integridade física); sociais (como a saúde, a educação, a segurança, a habitação, a dignidade); econômicos (como o emprego e o salário); culturais e políticos (como a participação política e o voto) (p. 55).
A compreensão da articulação entre gênero e violência é facilitada quando verificamos a preocupação de Lins, Machado e Escoura em mapear os dados sobre a violência contra a mulher. Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) usando o Sistema de Indicadores de Percepção Social (Sips), entre maio e junho de 2013, foi verificado que 81,9% das pessoas entrevistadas, homens e mulheres, concordaram com o dito popular de que "Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher", 58,5% concordaram que as mulheres possuem parcela de culpa sobre os estupros que sofrem e, por fim, 26% entendem que "Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas".
Os dados acima revelam como a sociedade brasileira encara as questões de gênero e sexualidade e o quanto as relações entre homens e mulheres em casa, nas instituições educacionais e em diversos espaços públicos passa por um sistema opressor nivelado por desigualdades estruturais. Tais desigualdades referem-se a um modus operandi que organiza, desde o nascimento, nossas ações e percepções: somos ensinadas(os) que mulheres devem ser servis, recatadas e emocionais, em contraposição aos homens, que devem se comportar de forma insubmissa, agressiva e racional.
Se há, como os autores destacam, uma dificuldade de alguns(mas) professores(as) em lidar com questões de gênero e sexualidade no espaço escolar, isso significa dizer que precisamos, mais do que nunca, olhar para a escola como um espaço que também reproduz desigualdades de gênero e sexuais na medida em que: estimula, por meio de piadas, falas e práticas, o ataque a pessoas e corpos quando define o que é certo e errado a partir da compulsória separação dos gêneros; naturaliza a violência contra a mulher por meio da noção de respeito, do ciúme e da defesa da honra masculina; não reconhece que a interseccionalidade de marcações sociais como gênero, raça e classe interfere diretamente na construção do sujeito; não compreende que falar de gênero e sexualidade é uma forma de borrar um complexo sistema de inteligibilidade entre o sexo (genitália), o desejo (prazer) e a identidade (subjetividade)7 7 Sobre a problematização da coerência entre sexo, desejo e identidade em relação à constituição de uma sexualidade compulsória regulada por uma matriz heterossexual, ver Butler (2013, 2014). .
Por isso, o papel das(os) educadoras(es) e da escola na busca por uma educação inclusiva, igualitária e emancipatória é fundamental. Nos termos dos autores:
Talvez caiba nos perguntarmos se, em vez de definirmos certo e errado, não seria menos violento e mais democrático aceitarmos que há diferentes formas de ser homem e ser mulher, que as pessoas podem ter diferentes desejos, aptidões, vontades e comportamentos e um mundo mais plural seria mais inclusivo quanto às diferenças, não as transformando em desigualdades (p. 63).
A estratégia apresentada por Lins, Machado e Escoura incide diretamente nos manejos feitos nas escolas para lidar com piadas, acusações, fofocas e situações constrangedoras que envolvam pessoas LGBTQIAPN+. Nos relatos observados pelos autores, notamos as dificuldades e os incômodos em trabalhar com sujeitos e corpos que não se encaixam nas convenções sociais de gênero e sexuais8 8 A esse respeito, ver Miskolci (2005). , materializadas nas seguintes normas e práticas: a vigilância em torno das brincadeiras (bonecas para meninas e carrinhos para meninos); a especulação sobre as orientações sexuais das(os) alunas(os); e o estímulo da força e do raciocínio lógico para os meninos e do cuidado e da delicadeza para as meninas.
Esse fosso de discriminação, segregação e desigualdade aumenta quando há a presença, ainda que pequena, de travestis, mulheres transexuais e homens trans nas escolas. Não à toa, a representatividade dessas identidades nos níveis fundamental, médio e superior é prejudicada pela ausência de políticas públicas de incentivo à (re)inserção desses sujeitos nos sistemas de ensino formal9 9 Nesta seara conflitiva, é interessante pontuar que o lugar social ocupado por pessoas LGBTQIAPN+ é o próprio confronto com estruturas mais amplas. Falar de gênero e sexualidade é também falar de classe, origem, região, território, raça/cor, cidade, desejo, política, dentre outras/os marcações e aspectos que constituem tais vivências. Em se tratando de programas sociais de elevação de escolaridade e (re)inserção de travestis, mulheres transexuais e homens trans no âmbito da educação formal brasileira, vale destacar a política pública pioneira, intitulada Transcidadania, viabilizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e executada pela ONG Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço, na prefeitura de São Paulo. Colocada em prática desde 2015, o Transcidadania "modificou a cidade", garantindo dignidade e reconhecimento a travestis, mulheres transexuais e homens trans. Composta por uma equipe multidisciplinar de pedagogas(os), assistentes sociais, psicólogas(os), advogadas(os), administradoras(es) e coordenadoras(es), é possível observar que esse processo de mudança social persegue lentamente uma busca incansável por reconhecimento e dignidade, movimento de afirmação e resistência produzido diariamente; não à toa, a elevação de escolaridade de suas/seus beneficiárias(os) é uma das portas de entrada para que elas(es) confrontem lugares e hierarquias e negociem novas formas de ocupar a cidade (Cf. Concílio; Amaral; Silveira, 2017). .
Não é demais lembrar o quanto cada um desses problemas educacionais não se resume apenas ao gênero e à sexualidade; é digno de nota pontuar, como bem o fazem os autores, que para uma melhor compreensão das realidades apresentadas se faz necessário uma intersecção entre gênero, sexualidade, orientação sexual, classe social, cor/raça, geração/faixa etária, região, origem, território e demais categorias que dividem a nossa sociedade e se comportam de formas completamente diferentes a depender de cada experiência. "Além de diferenças, elas [as marcações sociais citadas] implicam acessos desiguais a direitos e oportunidades, como educação, renda, segurança, moradia, trabalho, saúde, terra, direitos sexuais e outros" (p. 91).
Reconhecer essa realidade multifacetada é o primeiro passo para compreendermos por que mulheres e homens negras/os continuam sendo sub-representados nas escolas e universidades, por que a taxa de mulheres analfabetas com 60 anos ou mais é maior do que a de homens nessa mesma faixa etária, por que mulheres negras recebem 26% menos que os homens negros, dentre tantas outras facetas da desigualdade brasileira.
No bojo desse debate sobre direitos, diversidade, desigualdade e diferença, entra em cena uma engenhosa articulação entre Estado, família, escola e indivíduo. Afinal de contas: qual o papel dessas instituições na formação do(s) indivíduo(s)? De que maneira(s) pode-se garantir um ensino público gratuito de qualidade, democrático e igualitário? De que forma(s) são assegurados o acesso e a permanência das populações de baixa renda e negra no ambiente escolar? Como combater práticas preconceituosas, machistas, sexistas, misóginas, racistas e xenofóbicas dentro e fora da escola? Antes que a culpa recaia sobre uma das instituições citadas ou sobre o próprio indivíduo, precisamos lidar, assim como os autores o fazem, com a questão da corresponsabilidade, ainda que não citem diretamente o termo.
Se a questão da corresponsabilidade é uma das saídas para sofisticar o debate, entendendo-o pela tríade produto-projeção-ação (indivíduo-sociedade-relação), é oportuno observar que esse mesmo processo que produz um sentimento de culpa, jogando com a individualização das responsabilidades, também nos dá respostas ao contexto no qual estamos inseridos. Não é à toa que temas como sexualidade, família e diferença apareçam com mais força nas seções finais do livro, exatamente para enfatizar suas coexistências em um sistema maior de comprometimentos, identificações e anseios, que não apenas a marcação rígida de gênero e educação, lançando mão do manejo que é feito destes temas no controle e escrutínio de subjetividades, regimes de visibilidade, consanguinidades e marcações sociais, os quais perfazem duplos ou triplos entre ser-estar e ser-estar-fazer de maneira individual e coletiva.
Concluindo, ao considerarmos esse processo de responsabilidade mútua, podemos lançar mão da mesma preocupação dos autores: que escola nós queremos? Em tempos de conservadorismos e retrocessos, essa pergunta é providencial, pois, ao mesmo tempo que nos convoca ao debate e à tomada de iniciativa, também obriga Estados e sociedade civil a se posicionarem, seja para reconhecerem os perigos que nos cercam, seja para colocarem em xeque qualquer sistema político-ideológico ignóbil e imoral.
Portanto, a escola que queremos deve estar comprometida com uma educação igualitária, inclusiva e emancipatória, na qual educadoras(es) estimulem a reflexividade, criatividade e a criticidade das(os) estudantes, buscando formar sujeitos capazes de verbalizar experiências de desigualdade, opressão e marginalização vivenciadas diariamente. Nunca é demais lembrar: "Nomear é, talvez, o primeiro passo para pensar e, então, transformar" (p. 102). Sem dúvida, o livro apresentado é mais um estímulo para qualificar e empoderar práticas docentes que não se furtam em desnaturalizar e tipificar a suposta polêmica e factual instrumentalização e insistência persecutória em torno dos debates sobre gênero e sexualidade no âmbito educacional brasileiro.
Referências bibliográficas
- BUTLER, Judith. Regulações de gênero. cadernos pagu (42), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2014, pp.249-274.
- BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 6ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2013.
- CONCÍLIO, Isabela Leite; AMARAL, Marcos; SILVEIRA, Paula Morena (org.). Transcidadania: práticas e trajetórias de um programa transformador. São Paulo, KOINONIA - Presença Ecumênica e Serviço, 2017.
- JUNQUEIRA, Rogério Diniz. A invenção da “ideologia de gênero”: um projeto reacionário de poder. Brasília, Letras Livres, 2022.
- LINS, Beatriz Accioly; MACHADO, Bernardo Fonseca; ESCOURA, Michele (org.). Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo, Editora Reviravolta, 2016.
- MISKOLCI, Richard. Um corpo estranho na sala de aula. In: ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO Valter Roberto (org.). Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. Campinas, Papirus, 2005, v. 1, pp.13-26.
- ROHDEN, Fabíola; ARAÚJO, Leila; BARRETO, Andreia (org.). Os desafios da transversalidade em uma experiência de formação on-line: curso Gênero e Diversidade na Escola. Rio de Janeiro, CEPESC, 2008.
Sites consultados
- https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html, acesso em: 28 jan. 2019.
» https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html - https://educacaointegral.org.br/reportagens/projeto-de-lei-preve-prisao-de-docente-que-falar-sobre-ideologia-de-genero/, acesso em: 28 jan. 2019.
» https://educacaointegral.org.br/reportagens/projeto-de-lei-preve-prisao-de-docente-que-falar-sobre-ideologia-de-genero/ - https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/04/estilo/1546614596_209570.html, acesso em: 28 jan. 2019.
» https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/04/estilo/1546614596_209570.html
-
*
Resenha do livro: LINS, Beatriz Accioly; MACHADO, Bernardo Fonseca; ESCOURA, Michele (org.). Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Editora Reviravolta, 2016.
-
1
O acréscimo do Q, do I, do A, do P, do N e do símbolo + na então nomenclatura direcionada ao Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais diz respeito ao amplo espectro de identificações e vivências sobre o qual está assentada a sexualidade, tal como um processo que se (re)inventa à medida em que a sociedade se transforma. Mais especificamente no que concerne à atualidade da sigla, o acréscimo das letras e do símbolo referem-se à diversidade sexual e de gênero que, obviamente, uma composição de quatro letras não dá conta. O apelo do movimento LGBT brasileiro para que a sigla fosse atualizada não se trata apenas da inclusão e/ou modificação do que já existia; vale ressaltar que, pelo menos desde 2016, a Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque reconhece um total de 31 identidades de gênero, iniciativa que multa em até U$ 250.000 as empresas que se recusam a chamar pelo nome social ou reconhecer a diversidade sexual e de gênero dos indivíduos.
-
2
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html, acesso em 28 jan. 2019.
-
3
Disponível em: https://educacaointegral.org.br/reportagens/projeto-de-lei-preve-prisao-de-docente-que-falar-sobre-ideologia-de-genero/, acesso em 28 jan. 2019.
-
4
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/04/estilo/1546614596_209570.html, acesso em 28 jan. 2019.
-
5
Em 2006, o curso foi paulatinamente disseminado em diversas cidades brasileiras - Porto Velho, Salvador, Maringá, Dourados, Niterói e Nova Iguaçu -, totalizando 1.200 vagas, distribuídas entre professoras(es) das disciplinas de ensino fundamental, de 5ª a 8ª séries. O curso "foi resultado de uma articulação entre diversos ministérios do Governo Federal Brasileiro (Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério da Educação), British Council (órgão do Reino Unido atuante na área de Direitos Humanos, Educação e Cultura) e Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). Desde a sua implementação, em 2003, o CLAM tem se dedicado à pesquisa e à formação na área dos estudos de sexualidade e gênero e busca contribuir para a formulação de políticas públicas que visem à diminuição das desigualdades sociais na América Latina" (Rohden; Araújo; Barreto, 2008:7).
-
6
Mais informações sobre o NUMAS em: http://antropologiausp.blogspot.com/2010/10/numas.html, acesso em: 28 jan. 2019.
-
7
Sobre a problematização da coerência entre sexo, desejo e identidade em relação à constituição de uma sexualidade compulsória regulada por uma matriz heterossexual, ver Butler (2013BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 6ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2013., 2014BUTLER, Judith. Regulações de gênero. cadernos pagu (42), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2014, pp.249-274.).
-
8
A esse respeito, ver Miskolci (2005)MISKOLCI, Richard. Um corpo estranho na sala de aula. In: ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO Valter Roberto (org.). Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. Campinas, Papirus, 2005, v. 1, pp.13-26..
-
9
Nesta seara conflitiva, é interessante pontuar que o lugar social ocupado por pessoas LGBTQIAPN+ é o próprio confronto com estruturas mais amplas. Falar de gênero e sexualidade é também falar de classe, origem, região, território, raça/cor, cidade, desejo, política, dentre outras/os marcações e aspectos que constituem tais vivências. Em se tratando de programas sociais de elevação de escolaridade e (re)inserção de travestis, mulheres transexuais e homens trans no âmbito da educação formal brasileira, vale destacar a política pública pioneira, intitulada Transcidadania, viabilizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e executada pela ONG Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço, na prefeitura de São Paulo. Colocada em prática desde 2015, o Transcidadania "modificou a cidade", garantindo dignidade e reconhecimento a travestis, mulheres transexuais e homens trans. Composta por uma equipe multidisciplinar de pedagogas(os), assistentes sociais, psicólogas(os), advogadas(os), administradoras(es) e coordenadoras(es), é possível observar que esse processo de mudança social persegue lentamente uma busca incansável por reconhecimento e dignidade, movimento de afirmação e resistência produzido diariamente; não à toa, a elevação de escolaridade de suas/seus beneficiárias(os) é uma das portas de entrada para que elas(es) confrontem lugares e hierarquias e negociem novas formas de ocupar a cidade (Cf. Concílio; Amaral; Silveira, 2017).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Out 2023 -
Data do Fascículo
Set 2023
Histórico
-
Recebido
06 Abr 2019 -
Aceito
29 Abr 2020