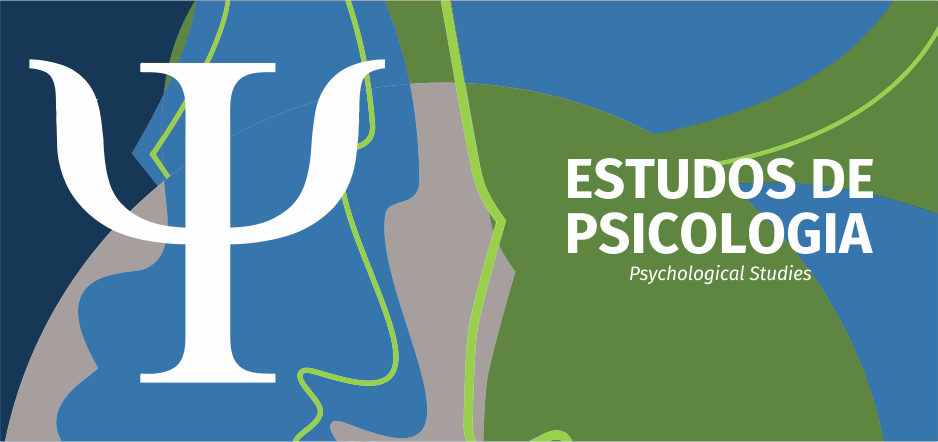Resumos
O papel funcional das imagens mentais e das representações visuoespaciais na memória tem sido documentado desde o tempo da Grécia antiga. Contudo, só recentemente, através da investigação em psicologia cognitiva, as propriedades das representações visuo-espaciais e os mecanismos pelos quais elas medeiam o desempenho da memória foram elucidados. Uma das conclusões centrais da presente revisão é que as representações visuo-espaciais fornecem um formato muito variado e flexível de codificação da informação sobre o mundo em memória. Mais, essas representações são usadas para levar a cabo diversas actividades cognitivas. A natureza da informação acedida a partir das imagens mentais de objectos difere da natureza da informação que é representada em memória para o reconhecimento de objectos individuais e da que é preservada nas representações das disposições espaciais dos objectos.
imagens mentais; representações visuo-espaciais de objectos e de ambientes
The functional role of mental images and of visual-spatial representations in memory has been documented since the time of the ancient Greeks. However, the properties of visual-spatial representations and the mechanisms by which they mediate memory performance have been elucidated only recently, by research in cognitive psychology. One of the central conclusions of this review is that visual-spatial representations provide a varied and flexible format for coding information about the world in memory. Moreover, such representations are used to accomplish many cognitive activities. The nature of the information accessed from objects mental images is different from the nature of the visual information represented in memory for purposes of individual object recognition and from information preserved in representations of spatial layouts.
mental images; visual-spatial representations of objects and of layouts
ARTIGO
Sobre imagens mentais e representações visuo-espaciais de objectos e ambientes
About mental images and visual-spatial representations of objects and of layouts
Ana Sofia Correia dos Santos
Assistente estagiária da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa
Endereço para correspondência Endereço para correspondência: Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa - Portugal Telefone: 01/7934579 (extensão - 426) ou 01/8140673 E-mal: Palopes @ mail. teleweb.p
RESUMO
O papel funcional das imagens mentais e das representações visuoespaciais na memória tem sido documentado desde o tempo da Grécia antiga. Contudo, só recentemente, através da investigação em psicologia cognitiva, as propriedades das representações visuo-espaciais e os mecanismos pelos quais elas medeiam o desempenho da memória foram elucidados. Uma das conclusões centrais da presente revisão é que as representações visuo-espaciais fornecem um formato muito variado e flexível de codificação da informação sobre o mundo em memória. Mais, essas representações são usadas para levar a cabo diversas actividades cognitivas. A natureza da informação acedida a partir das imagens mentais de objectos difere da natureza da informação que é representada em memória para o reconhecimento de objectos individuais e da que é preservada nas representações das disposições espaciais dos objectos.
Palavras-chave: imagens mentais, representações visuo-espaciais de objectos e de ambientes.
ABSTRACT
The functional role of mental images and of visual-spatial representations in memory has been documented since the time of the ancient Greeks. However, the properties of visual-spatial representations and the mechanisms by which they mediate memory performance have been elucidated only recently, by research in cognitive psychology. One of the central conclusions of this review is that visual-spatial representations provide a varied and flexible format for coding information about the world in memory. Moreover, such representations are used to accomplish many cognitive activities. The nature of the information accessed from objects mental images is different from the nature of the visual information represented in memory for purposes of individual object recognition and from information preserved in representations of spatial layouts.
Keywords: mental images, visual-spatial representations of objects and of layouts
O papel funcional das imagens mentais e das representações visuo-espaciais na memória tem sido documentado desde o tempo da Grécia antiga. Contudo, só recentemente, através da investigação em psicologia cognitiva, as propriedades das representações visuo-espaciais e os mecanismos pelos quais elas medeiam o desempenho da memória foram elucidados.
Se é facto que as imagens e representações visuo-espaciais diferem, em aspectos muito importantes, das representações verbais ou abstractas em memória, também é verdade que elas próprias fornecem um formato muito variado e flexível de codificação de informação sobre o mundo em memória; e que essas representações são utilizadas para cumprir várias atividades cognitivas. Sendo assim, a natureza da informação acedida a partir das imagens mentais de objectos difere da que é representada em memória para o reconhecimento de objectos individuais e da que é preservada nas representações das disposições espaciais dos objectos. Focando a atenção sobre as imagens mentais, o reconhecimento de objectos e a representação de informação sobre disposições espaciais, este estudo enfoca a variedade de modos em que a informação visuo-espacial é representada na memória.
O que distingue os aspectos visuoespaciais da memória de outros aspectos, e, mais globalmente, o que distingue as representações visuo-espaciais das representações semânticas ou verbais, é que as representações visuo-espaciais correspondem de forma não arbitrária aos objectos e eventos que representam. Ou seja, existe um grau de isomorfismo ou correspondência estrutural entre um objecto real e a sua representação mental visuo-espacial. Essa correspondência pode ser esquemática, incorporando apenas traços salientes do objecto ou informação global sobre a sua estrutura, ou pode ser mais concreta, incorporando informação métrica sobre a forma e o tamanho do objecto. Ou o isomorfismo pode ser de "segunda ordem", requerendo que apenas relações de semelhança entre os objectos externos sejam preservadas nas suas representações internas correspondentes (Cave, Pinker, Giorgi, Thomas, Heller, Wolfe and Lin, 1994). Esses tipos de correspondência distinguem-se daqueles que as representações verbais ou semânticas contêm, cujas relações com os objetos ou acontecimentos que representam são arbitrárias.
IMAGENS MENTAIS
Evidências empíricas apoiam a ideia de que formar imagens mentais, através de manipulação directa ou indirecta, pode melhorar o desempenho numa variedade de tarefas de aprendizagem e memória. Durante as últimas duas décadas, a investigação em psicologia cognitiva passou de meras demonstrações do papel funcional das imagens mentais na memória para averiguação e análise das propriedades, natureza, ou formato das representações imaginadas na memória, tal como das condições em que é provável que as imagens sejam usadas (Chambers e Reisberg, 1992).
As imagens mentais distinguem-se das representações visuo-espaciais em dois aspectos: (a) As imagens visuais têm um concretismo que as representações espaciais mais abstractas frequentemente não possuem; (b) há diferenças nas condições necessárias para evocar ou usar imagens e outras representações visuo-espaciais. As representações imaginadas de objectos e acontecimentos podem ser criadas na ausência de um estímulo externo correspondente ou apropriado; as representações visuo-espaciais usadas para os processos de reconhecimento são comparadas com informação exterior disponível, e derivam, em parte, da análise dessa informação.
Em 1971, Shepard e Metzler concebem uma experiência que averigua o uso da imagem mental numa tarefa cognitiva, e fornecem, simultaneamente, indicações sobre propriedades das representações imaginadas. Era pedido aos sujeitos que comparassem as formas depares de gravuras de objectos visuais não familiares. Em metade das condições experimentais, os objectos tinham a mesma forma, na outra metade eram imagens reflectidas. Os objectos em cada par podiam diferir, também, quanto às suas orientações, em profundidade ou em face plana. Os resultados evidenciaram que o tempo necessário para fazer a comparação igual-diferente aumentava linearmente com o número de ângulos diferentes entre os objectos a comparar e que o declive era praticamente idêntico para diferenças angulares na profundidade e na face plana. Segundo esses autores, esses resultados indicam que os sujeitos desempenham a tarefa imaginando a rotação de um objecto do par até que a sua orientação se torne congruente com a orientação do outro objecto, e, depois, comparando os dois objectos (um mentalmente transformado, o outro visualmente disponível) quanto à forma. Esse estudo inicial foi importante na medida em que evidenciou que as imagens podiam ser transformadas por um processo mental análogo a uma rotação física externa, e que este processo imaginado era usado espontaneamente numa tarefa de comparação de formas.
A investigação descrita inspirou uma grande quantidade de estudos sobre o processo de rotação mental e a natureza das representações mentais subjacentes.
Variantes deste paradigma da rotação mental foram usadas mais recentemente (Cave et al. 1994) para avaliar como é codificada a informação sobre a localização nas imagens mentais. Por definição, as representações de imagens visuais são organizadas à roda das propriedades espaciais. Contudo, sabe-se muito pouco sobre como essas representações usam informação sobre a localização, uma das mais importantes propriedades espaciais. Usando uma tarefa de rotação mental, na qual a rotação dos estímulos varia de ensaio para ensaio, é possível explorar como é codificada esta informação sobre a localização. Se as imagens forem específicas na localização, estas mudanças devem afectar a forma como essas imagens são utilizadas. Algumas evidências sugerem que é possível que não sejam; que estejam em um nível de representação que é independente da localização mas específico na orientação, e que o sistema visual pode ter excluído, precocemente, do processamento, as diferenças de localização, quer normalizando todas as representações do objecto, para que representem uma localização padrão, quer transformando o estímulo de forma a retirar inteiramente a informação sobre localização. Outras evidências sugerem que a localização da imagem afecta a percepção de um estímulo, e que, portanto, faz parte da representação da imagem. Utilizando também o paradigma da rotação mental, Tarre Pinker (1989) exploraram se são utilizadas, nas tarefas de comparação por memória, representações dos objectos única se independentes do tamanho, orientação ou localização, ou representações múltiplas e dependentes das propriedades anteriores. O corpo de investigação utilizando este paradigma experimental acentua a idéia de que as transformações mentais, puramente imaginadas, nas representações dos objectos são análogas às transformações físicas correspondentes nos objectos no espaço. Para além disso, as imagens dos objectos preservam, em contraste com informação meramente esquemática, informação bastante detalhada sobre a estrutura espacial da sua contrapartida externa.
Kosslyn e colaboradores (1973, citado por Cave et al., 1994) usaram um paradigma experimental diferente em que os sujeitos eram instruídos a memorizar uma série de localidades dum mapa duma ilha. Foi-Ihes pedido, depois, para formar uma imagem do mapa, para se focarem mentalmente numa localidade do mapa e para correrem os olhos mentalmente para outra localidade do mapa. O resultado interessante é que o tempo requerido para correr mentalmente de uma localidade do mapa para a outra aumenta linearmente com a distância entre as localidades designadas no mapa imaginado. Estes resultados com o paradigma da exploração mental são reminescentes dos resultados obtidos com o paradigma da rotação mental e sugerem que a informação sobre a distância espacial é preservada nas imagens. Pinker (1980, 1982, citado por Cave et al., 1994) mostra que estes resultados se mantêm para imagens a duas ou três dimensões e quando se usam procedimentos diferentes que não assentam em instruções explícitas para formar imagens mentais.
ASPECTOS DO DEBATE FORMATO ANÁLOGO/PROPOSICIONAL DAS IMAGENS MENTAIS
As investigações acima descritas têm sido frequentemente interpretadas como demonstrando que as imagens mentais funcionam como gravuras dos objectos externos que representam. Outros autores desafiaram esta visão, sugerindo que estruturas de natureza proposicional, abstracta, podiam servir como formato para representar todos os tipos de informação em memória, incluindo imagens mentais. Contudo, esta abordagem proposicional nunca conseguiu explicar adequadamente a regularidade dos resultados de tempos de reacção obtidos nas investigações que utilizam o paradigma da rotação mental e da exploração das imagens mentais, que sugerem que as imagens preservam informação sobre a forma e a distância espacial, como de uma gravura se tratasse, e as transformações nas imagens correspondem a transformações análogas nos objetos no espaço tridimensional.
Aspectos do debate análogo/proposicional foram recentemente revisitados por investigadores, questionando se as imagens mentais são representações como gravuras ou descritivas (fortemente ligadas e acedidas pelo significado). A evidência sobre este debate é conflituosa. Chambers e Reisberg (1992) mostraram aos sujeitos uma interpretação da figura ambígua pato/coelho, e mais tarde pediram-Ihes que formassem uma imagem da figura e tentassem descobrir o significado alternativo a partir da imagem.Os sujeitos foram incapazes de fazer a reconstrução,mas capazes de reconstruir ou reinterpretar os seus próprios desenhos das suas imagens. Ou seja, tendo visto um coelho na gravura, o indivíduo acede subseqüentemente à imagem mental de um coelho que não pode ser transformada na imagem de um pato. De acordo com esta visão, a imagem mental é criada com base na informação que já existe na memória, que já foi organizada e interpretada. A informação incluída representa a interpretação da forma, logo, já que não há processo interpretativo, não é possível reinterpretar padrões nas imagens. Já num objecto percebido visualmente, que é organizado e interpretado durante o acto da percepção, essa informação está disponível numa forma que pode ser reorganizada (isto é particularmente óbvio com figuras ambíguas) (Rouw et al., 1997). Esta experiência suporta, pois, a posição descritiva, ou seja, a idéia de que, não só, informação espacial, mas também, informação sobre o significado é codificada nas imagens. Contudo, trabalhos posteriores, usando estímulos e tarefas de reconstrução semelhantes (Brandimonte e Gerbino, 1993; Peterson, Kihlstrom, Rose, Glisky, 1992) e diferentes (Finke et al., 1989, citado por Chambers e Reisberg, 1992), colocam limites na generalidade dos resultados de Chambers/ Reisberg. No estudo de Finke et al. (1989, citado por Chambers e Reisberg, 1992), os sujeitos foram capazes de descobrir nova informação nas imagens de formas geométricas ou caracteres alfanuméricos que foram manipulados e recombinados em memória; Peterson et al. (1992) demonstraram, de forma convincente, que os sujeitos conseguem relatar interpretações múltiplas de figuras ambíguas, numa variedade de condições. Essa descoberta levou esse autor a inferir que a percepção e a imagem mental partilham processos de nível inferior, que operam antes da interpretação perceptiva estar completa. Mais recentemente, Rouw et al. (1997), forneceram mais evidência de que as imagens mentais preservam detalhes visuais de nível inferior. Se as imagens mentais fossem equivalentes a representações descritivas de unidades perceptivas e da sua organização, como alguns argumentam, os sujeitos deveriam ter tido mais dificuldade em aceder às propriedades de nível inferior numa imagem mental comparativamente com a dificuldade sentida quando os desenhos são visíveis. Neste contexto, embora a questão se mantenha por resolver, o peso da evidência favorece a visão análoga em detrimento da proposicional. Mais recentemente, Reisberg e Chambers (1991, citado por Brandimonte e Gerbino, 1993) admitiram que os sujeitos podem, não obstante, aprendera partir das suas imagens mudando alguns aspectos da interpretação. De facto, porque a imagem preserva a aparência, é possível falar sobre o que a imagem parece e o que evoca. Esta posição está mais próxima dos autores que preconizam a visão alternativa. Contudo, de acordo com esses autores, essa conclusão não contradiz o pressuposto de que as imagens mentais são descrições com significado que, como tal, já foram interpretadas.
Um segundo desafio, bastante diferente, para a visão análoga da imagem centra a atenção em potenciais problemas metodológicos nas investigações. Primeiro, os paradigmas experimentais utilizados são particularmente vulneráveis ao artefacto; tem sido demonstrado, por exemplo por Intons-Peterson (1983, citado por Farah, 1985), que são extremamente sensíveis à expectativa do experimentador. Segundo, tem-se argumentado, em particular Pylyshyn (1981, citado por Farah, 1985), que esses paradigmas conduzem os indivíduos a responder na base do seu conhecimento tácito do seu sistema perceptivo; isto é,é possível que os sujeitos interpretem as instruções para usar a imagem mental como instruções para agir como se estivessem a usar a percepção.
EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL DA IMAGEM E DA PERCEPÇÃO
Os estudos cronométricos e, em alguma medida, as investigações sobre a ambiguidade da imagem estabeleceram que as imagens em memória podem codificar informação perceptiva e podem causar efeitos como as gravuras dos objectos externos correspondentes.Outra forma de expressar esta visão é afirmar que as imagens são funcionalmente equivalentes ás representações visuo-espaciais derivadas da percepção (Peterson et al., 1992). De facto, uma grande quantidade de investigação empírica tem revelado resultados que, a um nível teórico mais amplo, podem ser analisados no contexto do debate contínuo sobre a relação entre percepção e imagem mental. Como Intons-Petersone McDaniel (1991 ,citado por Peterson et al.,1992) salientaram, existem versões fortes e fracas da hipótese de equivalência funcional. As versões fracas defendem apenas que existem paralelos entre os processos imaginados e perceptivos. As versões fortes juntam a idéia de que existem correspondências entre as propriedades estruturais das imagens e das percepções, tal como entre os processos que funcionam em ambos os tipos de representações. Um exemplo desta versão forte da equivalência funcional éateoria das imagens de Kosslyn (1981, citado por Farah, 1985).
Uma das predições testáveis desta versão forte é que a informação das representações imaginadas ou perceptivas de padrões visuais deve ser igualmente acessível. Podgorny e Shepard (1978, citado por Farah, 1985) desenvolveram uma tarefa de localização de um ponto em que as características de processamento das representações imaginadas e perceptivas eram directamente comparáveis. Os sujeitos tinham à frente uma grelha quadriculada na qual uma letra estava ou fisicamente presente ou era imaginada mentalmente; a tarefa era decidir se pequenos pontos projectados aleatoriamente na grelha apareciam dentro ou fora da letra. O resultado importante é que variáveis estruturais que afectam os tempos de resposta para as letras Exibidas afectam também os tempos de resposta para as letras imaginadas, de uma forma muito semelhante.
Uma forma ainda mais forte da hipótese de equivalência defende que as imagens e os objectos percebidos sustentam-se num conjunto de mecanismos subjacentes comuns. Esta proposta, é extremamente difícil de avaliar através de investigações comportamentais. O tipo de dados que permitiriam a inferência de que a imagem e a percepção partilham componentes é a descoberta de interacções entre os dois sistemas. Se estes partilham mecanismos comuns, então tarefas que requerem um processamento imaginado e perceptivo devem evidenciar interferência ou facilitação mútua (Farah, 1985). Vários autores conseguiram evidência de interacção entre percepção e imagem mental, embora sem esclarecerem que componentes do processamento eram partilhados. Mais recentemente, Farah (1985) obteve efeitos de facilitação na detecção visual de letras que mostram que detectar uma letra particular é facilitado pela criação concorrente de uma imagem da mesma, em oposição a uma letra diferente. Estes resultados mostram que a percepção e as imagens partilham estruturas representacionais e mostram o nível de representação em que estes dois sistemas interagem, a disposição superficial ("surface array").
EVIDÊNCIA DA NEUROCIÊNCIA COGNITIVA
Como vimos anteriormente, os resultados das experiências sobre interferência selectiva e facilitação selectiva são consistentes com a ideia deque o processo de perceber e imaginar partilham mecanismos e representações comuns. Mas esta evidência é também consistente com outra possibilidade diferente, a de que a imaginação e a percepção interagem através de diferentes vias de acesso a um mesmo sistema representacional. E que, por hipótese, esses mecanismos e/ou sistemas representacionais comuns estão instalados no cérebro humano. Evidência sobre os sistemas cerebrais envolvidos quando a pessoa imagina, recorda, percebe objectos externos pode ajudar a desenredar estas e outras hipóteses sobre formas de funcionamento equivalentes (Farah, 1985).
Um tipo de evidência deste campo de investigação emergente, tem a ver com os défices específicos de processamento visuoespacial e de imagens mentais em pacientes com lesões focais no cérebro. Bisiache Luzzatti (1978, citado por Kosslyn, Alpert, Thompson, Maljkovic, Weise, Chabris, Hamilton, Rauch e Buonanno, 1993) pediram a pacientes com lesões cerebrais que imaginassem um espaço exterior familiar e que relatassem os edifícios que eram "visíveis" nas suas imagens mentais. Apenas edifícios que teriam sido localizados nas áreas não negligenciadas do espaço visual foram relatados; e quando Ihes foi pedido que imaginassem a área de uma outra perspectiva, os edifícios anteriormente indisponíveis "surgiram" nas imagens mentais dos pacientes, enquanto outros edifícios que tinham sido relatados anteriormente não "surgiram". Esses resultados sugerem que as imagens em memória e as representações perceptivas têm semelhanças funcionais, mas também que as mesmas regiões do cérebro podem dar origem aos dois tipos de representações.
Outros estudos apresentam resultados mais complexos. Farah, Hammond, Levine e Calvanio (1988) testaram um paciente com uma lesão temporo-occipital bilateral (e com uma lesão no lóbulo temporal direito e no lóbulo frontal inferior direito), com um conjunto de tarefas que avaliava as propriedades espaciais das imagens mentais e outro que avaliava a informação visual das imagens mentais. Relativamente aos sujeitos sem lesões cerebrais, este paciente desempenhou normalmente as tarefas que exigiam operações espaciais nas imagens, mas apresentou um grande prejuízo nas tarefas que incidiam sobre a informação visual das imagens. Assim, os resultados apontam para o facto de lesões cerebrais localizadas em sítios diferentes produzirem efeitos dissociáveis nos aspectos visuais e espaciais das imagens mentais. Neste sentido, os dois componentes das imagens mentais postulados por Farah et al. (1988), um que preserva a aparência literal do objecto e outro que preserva as representações das disposições dos objectos no espaço, tem um paralelo na investigação neuropsicológica (Mecklinger e Muller, 1996). Também, Levine et al. (1985, citado por Farah et al., 1988), encontraram uma dissociação semelhante, agora a par com défices perceptivos correspondentes. Um paciente com uma lesão parieto-occipital conseguiu identificar objectos e descrevê-los a partir das imagens em memória, mas teve desempenhos muito fracos em tarefas perceptivas e com imagens, que requeriam localização espacial. Ao contrário, outro paciente com uma lesão temporo-occipital desempenhou normalmente as tarefas de localização e teve dificuldades nas tarefas em que os objectos deviam ser identificados perceptivamente ou descritos e desenhados a partir da memória. Estes estudos de caso suportam, assim, a versão forte da hipótese de equivalência funcional entre percepção e imagem mental. Em aparente contradição com os dados das experiências anteriores surge recentemente a experiência de Behrmann, Winocure Moscovitch (1992), onde é descrito um paciente com profundos défices no reconhecimento de objectos que, no entanto, desempenha bem uma variedade de tarefas que envolvem aspectos visuais das imagens mentais.
Será talvez pertinente, neste momento, discutir em que medida este método de estudo de um único caso pode limitar ou distorcer as conclusões. O uso de casos únicos, em vez de grupos de indivíduos, está-se a tornar cada vez mais frequente na neuropsicologia cognitiva. O argumento é o de que "se olharmos para a lesão cerebral como uma "experiência da natureza", cada indivíduo em qualquer grupo terá sofrido uma "manipulação experimental" diferente e arriscamo-nos a basear as nossas conclusões em perfis de desempenhos médios que são, num sentido, artificiais, já que não existem em nenhum caso" (Farah, Hammond et al., 1988, pág. 458). Assim, parece preferível estudar casos únicos numa variedade de tarefas, para que as dissociações entre duas capacidades permitam concluir que estas duas capacidades não têm subjacente o mesmo sistema cognitivo.
Outra fonte de evidência provém da utilização de métodos não invasivos para medir aspectos electro fisiológicos correlacionados com a actividade cerebral, durante a realização de tarefas perceptivas e de tarefas baseadas nas imagens mentais. Os resultados de uma experiência de Farah, Peronnet, Gonone Girard (1988, citado por Kosslyn et al., 1993) sugerem que instruções para formar imagens visuais produzem actividade nas áreas do cérebro que se sabe processar em informação visual externa, e que, as imagens e as representações visuo-espaciais de letras partilham o mesmo locus representacional.
Goldenberget al.(1989,citado por Kosslyn et al., 1993) confirmaram os resultados de Farah, Peronnet, Gonon e Girard (1988, citado por Kosslyn et al., 1993), utilizando uma tarefa diferente e empregando uma técnica mais sofisticada que envolve medir o fluxo sanguíneo nas regiões do cérebro. O pressuposto subjacente é o de que o aumento do fluxo sanguíneo é um indicador do aumento de actividade neuronal na área do cérebro relevante. Também, Kosslyn et al. (1993), usando tomografia por emissão de positrões (PET) numa série de experiências, concluem que as regiões do córtex visual são selectivamente activadas em ambas as condições perceptiva e de imagem mental.
REPRESENTAÇÕESVISUO-ESPACIAIS DE OBJECTOS INDIVIDUAIS
Um objectivo da maioria das teorias de reconhecimento de objectos é explicar como é que o sistema perceptivo extrai informação a partir da distribuição espacial da intensidade na retina e desenvolve representações dos objectos externos em níveis sucessivos de abstracção,a partir do arranjo retiniano. Outra questão importante prende-se com a natureza das representações dos objectos na memória a longo prazo,com as quais a informação externa é comparada.
A teoria de reconhecimento de objectos de Marre Nishihara (1978,citado por Biederman e Cooper, 1991) é um marco fundamental para os subsequentes avanços teóricos. Estes autores propõem um formato para representar a informação, sobre a forma do objecto, na memória a longo prazo. O modelo pressupõe um sistema de coordenadas centrado no objecto, no qual este é representado como um modelo tridimensional. Os eixos deste sistema estão alinhados com as partes principais do modelo, elas próprias primitivas volumétricas tridimensionais.Os objectos são representados em termos dos seus eixos de simetria principais, com as partes cilíndricas definidas em relação aos eixos.
Um modelo com muitas influências de Marr e Nishihara (1978, citado por Biederman e Cooper, 1991) é o de Biederman (1987, citado por Biederman e Cooper, 1991), com uma abordagem baseada em componentes dos objectos, que concebe também como primitivas volumétricas tridimensionais. A estrutura do objecto é definida pelas relações locais entre as partes adjacentes e não por descrições baseadas em eixos. É a extracção das propriedades das imagens bidimensionais que activa as primitivas, a um nível intermédio, e as relações entre elas; esses componentes e as relações especificam um modelo do objecto completo.
A necessidade de postular múltiplos sistemas representacionais na memória para objectos visuais proveio, predominantemente, da necessidade de justificar dados comportamentais e observações neurofisiológicas que evidenciavam fortes dissociações no desempenho de diferentes tipos de tarefas de memória visual. Schater e Cooper (1992, citado por Schater e Cooper, 1993), referem que sistemas dissociados representem informação sobre a forma global do objecto e as relações entre as suas partes (sistema de descrição estrutural) e informação semântica, funcional e distintiva (sistema episódico).
Outra abordagem que postula subsistemas separados para diferentes aspectos do reconhecimento visual é a de Kosslyn (1987, citado por Kosslyn, Flynn, Amsterdam e Wang, 1990). Distingue entre representação e reconhecimento de relações espaciais categoriais (de natureza abstracta que especificam características gerais da estrutura espacial de um objecto, que são invariantes face a transformações espaciais) e coordenadas (que especificam informação métrica precisa sobre a localização dos objectos e das suas partes). Provavelmente, ambos os tipos de representações dos objectos estão armazenados em subsistemas de memória diferentes.
Apesar do vasto conjunto de investigações psicológicas sobre o tópico do reconhecimento de objectos, pouca evidência suporta, inequivocamente, uma teoria particular, infirmando outras.
Evidência substancial suporta a abordagem de representações múltiplas de Schater e Cooper (1992, citado por Schater e Cooper, 1993) e a teoria postulando subsistemas separados para o processamento da informação categoria le coordenada de Kosslyn (1987,citado por Kosslyn, Flynn, Amsterdam e Wang, 1990). Alguns dados das investigações realizadas por Kosslyn e seus colaboradores (1990) sugerem que os julgamentos baseados na informação categorial são melhor desempenhados pelo hemisfério esquerdo, enquanto os julgamentos que requerem a avaliação da informação métrica são mais rápidos quando os estímulos são apresentados ao hemisfério direito.
As investigações de Schater e Cooper (1993), que obtiveram forte evidência de uma dissociação funcional entre o sistema episódico e o sistema de descrição estrutural, recorrem à distinção entre testes de memória "explícita" e "implícita" (Roediger, 1990). No paradigma experimental que criaram pediam aos sujeitos que estudassem um conjunto de figuras tridimensionais, sendo depois submetidos ou a um teste de reconhecimento por memória dos objectos ou a uma tarefa implícita de decisão de objecto, que requer que decidam se objectos apresentados, brevemente, são estruturas tridimensionais possíveis ou impossíveis. Na fase de estudo, eram manipuladas as condições segundo as quais os sujeitos deveriam estudar os objectos, no sentido de manipular a codificação dos mesmos em memória. Ou eram codificados estruturalmente (avaliar se os objectos se posicionavam preferencialmente para a direita ou esquerda) ou eram codificados segundo instruções que requeriam julgamentos semânticos elaborados ou julgamentos da função do objecto. Quando os julgamentos eram codificados estruturalmente, ocorria um efeito de facilitação substancial na tarefa de memória implícita. Sob condições de codificação elaborada ou funcional, o priming era reduzido e o reconhecimento explícito por memória aumentava relativamente aos níveis observados na condição de codificação estrutural (Schater e Cooper, 1993).
Esta dissociação entre níveis de desempenho nas tarefas explícitas ou implícitas, atribuível ao modo como os objectos estão representados em memória, sustenta, fortemente, a ideia de que sistemas representacionais diferentes foram acedidos por tarefas de memória diferentes (Walker, Hitch, Dewhurst e Whiteley e Brandimonte, 1997).
Evidências experimentais da neurociência cognitiva fornecem dados convergentes de que existem sistemas neuronais múltiplos, para representar diferentes tipos de informação visuoespacial, e têm contribuído para a compreensão de como a informação visuo-espacial é representada na memória. Distinções entre as propriedades desses sistemas neuronais correspondem frequentemente ás dissociações funcionais encontradas nas investigações comportamentais. Uma investigação de Ungerleider e Mishkin (1982, citado por Mecklinger e Muller, 1996; Goodale e Milner, 1996) introduza noção,que se manteve, de que existem no córtex "extrastriate" duas vias de processamento anatomicamente separadas para a análise da localização do objecto e de outros atributos do objecto, como forma e cor. Adicionalmente, Wilson, Scalaidhe e Goldman-Rakic (1993, citado por Mecklinger e Muller, 1996), evidenciaram que a separação anatómica e funcional das vias que processam a identidade do objecto e das que processam a informação sobre localização do objecto se estendia ao córtex prefrontal.
Adaptando o seu paradigma experimental (com tarefas de memória explícita e implícita), Schater e colaboradores (1993) fazem várias investigações com indivíduos amnésicos e relatam que estes pacientes são severamente prejudicados no reconhecimento explícito dos seus objectos possíveis e impossíveis,contudo, exibem um nível depriming, na tarefa de memória implícita, semelhante ao do grupo de controlo. Ainda, estes autores fornecem evidência de que o sistema não prejudicado nos amnésicos tem algumas das mesmas propriedades funcionais do sistema de descrição estrutural descrito em indivíduos normais. Neste estudo, amnésicos revelaram priming intacto apesar das mudanças no tamanho dos objectos da fase de estudo para a fase de teste; e o cálculo das representações dos objectos invariantes no tamanho é uma característica do sistema de descrição estrutural (Schater e Cooper, 1993). Estes resultados, de um priming intacto e de um prejuízo no reconhecimento, em tarefas visuoespaciais com pacientes amnésicos, sugerem que as dissociações comportamentais provêm de sistemas neuronais distintos para a representação de diferentes formas de informação sobre objectos visuais.
Uma classe de estímulos visuais que se acredita ser representado e processado de modo diferente dos outros objectos visuais corresponde ás faces. Vários autores sugerem que as faces têm características configuracionais fortes que tornam provável uma codificação e representação em memória como estruturas totais e não como uma série de partes ou características. Yin (1969, citado por McNeil e Warrington, 1996) mostrou que os sujeitos eram mais precisos a reconhecer faces do que a reconhecer outro tipo de objectos. Contudo, quando eram apresentadas faces e objectos invertidos, o desempenho era diferencialmente prejudicado pela inversão, sendo que o reconhecimento piorava mais nas faces do que nos outros objectos.
A prosopagnosia, o prejuízo no reconhecimento de faces na ausência de outros prejuízos cognitivos, é geralmente tomada como evidência de que as faces são representadas por um sistema neuronal separado dos sistema(s) que mediam o reconhecimento de outros objectos. Farah (1992, citado por McNeil e Warrington, 1996), propôs uma abordagem geral de dois sistemas de reconhecimento de objectos que inclui observações a partir de pacientes com prosopagnosia. Um dos sistemas analisa e representa objectos como conjuntos de partes e é responsável pelo reconhecimento de palavras e objectos. O outro sistema analisa objectos como um todo e é apropriado para as faces, tal como para certos tipos de objectos. Dados empíricos desenvolvidos por esta autora têm suportado, na globalidade, esta abordagem.
Sergent, Otha e MacDonald (1992, citado por McNeil e Warrington, 1996) estudaram o reconhecimento de faces em sujeitos normais e sujeitos com prosopagnosia, tentando elucidar se as faces são representadas e acedidas diferentemente de outro material visuo-espacial, ao nível neuronal.Os seus resultados não foram totalmente inconsistentes com a análise de Farah (1992, citado por McNeil e Warrington, 1996). Estes mesmos autores, utilizando a técnica de PET scanning com sujeitos normais, enquanto estes desempenhavam tarefas de reconhecimento de faces e objectos, chegaram a resultados que indicam que algumas partes do cérebro estão activadas durante o processamento de ambos, objectos e faces; mas, certas áreas no hemisfério direito (córtex temporal anterior) estavam activadas só durante o processamento de faces. O padrão inverso também foi obtido (McNeil e Warrington, 1996). Assim, o reconhecimento de faces e objectos parece partilhar mecanismos de processamento neuronal comuns, mas também assentam em áreas específicas do cérebro diferentes.
REPRESENTAÇÕES VISUO-ESPACIAIS DE DISPOSIÇÕES DE OBJECTOS NO AMBIENTE
A capacidade dos indivíduos se orientarem em ambientes familiares é baseada em representações mentais de ambientes, isto é representações de relações entre objectos e as suas localizações no espaço. As diferenças que podem existir no modo como a informação sobre objectos visuais e sobre disposições de objectos é representada e acedida na memória é uma questão que tem interessado os investigadores. Será que, neste tipo de representações particulares é codificada especificamente informação visual, como na representação de objectos, ou elas incorporam mais conhecimento abstracto sobre relações espaciais?
Enquanto a informação sobre a estrutura, propriedades e identidades dos objectos é primordialmente obtida através do sistema visual, a informação sobre arranjos espaciais provém frequentemente de fontes não visuais, como quando paramos na rua para perguntar a direcção de um determinado local (Taylor e Tversky, 1992). Taylor e Tversky (1992) examinaram se as representações mentais dos ambientes tinham propriedades funcionais semelhantes, apesar das diferenças no modo como a informação é adquirida. Os sujeitos estudaram dois tipos diferentes de descrições: informação adquirida por descrições das ruas (fornecendo informação sequencial sobre aquilo que vai encontrando ao caminhar por um ambiente particular), e por descrições daquilo que se veria se se estivesse a observar o ambiente a partir de vista aérea. Os resultados mostraram que, em qualquer das condições, os sujeitos formam uma espécie de mapa cognitivo e que esta representação mental tem propriedades funcionais semelhantes, independentemente do modo como a informação foi estudada, e que não favorecem uma perspectiva ou outra. Uma vez que, responder a partir da localização aérea ou da localização na rua impõe perspectivas diferentes, pode-se dizer que os mapas mentais que os sujeitos construíram, nas várias condições, parecem ser abstractos o suficiente para permitir responder a questões de inferências de ambas as perspectivas com igual facilidade (Taylor e Tversky, 1992). Por isso é que essas autoras chamaram à representação modelo mental e não imagem:"Este tipo de representação difere das representações propostas no trabalho clássico sobre imagens mentais...que são como percepções e a partir de um ponto de vista particular. Esses modelos mentais espaciais são, então, como descrições estruturais de objectos...,que são representações das partes de um objecto e das suas relações espaciais centradas no objecto, ou seja, livres de perspectivas, em vez de centradas no observador..." (Taylor e Tversky, 1992, pág. 289); e que surgiram para resolver o problema de como somos capazes de reconhecer objectos de diferentes perspectivas. Para as descrições espaciais, de diferentes perspectivas, surge um problema semelhante que faz estas autores proporem uma solução semelhante.
Podemos aprender muito sobre um objecto, num só momento, enquanto geralmente recebemos a informação sobre um ambiente ao longo do tempo, enquanto exploramos ou ouvimos descrições. Se as condições de codificação de informação sobre ambientes se estendem temporalmente, para obter uma representação cognitiva coerente, o indivíduo tem que ser capaz de integrar uma série de detalhes isolados sobre os objectos e as localizações. Franklin, Tversky e Coon (1992, citado por Taylor e Tversky, 1992) forneceram evidência de que descrições, de um mesmo espaço, provenientes de perspectivas espaciais e temporais diferentes, podem ser integradas num único modelo interno.
Uma linha de investigação sugere que a informação espacial é organizada hierarquicamente e influenciada por conhecimento semântico abstracto. Essa natureza hierárquica conduz a distorções na memória, revelada por erros de julgamentos sobre as localizações relativas de sítios bem conhecidos. Segundo Taylor e Tversky (1992), as pessoas em vez de armazenarem, por exemplo, uma imagem mental dos Estados Unidos, armazenam informação abstracta sobre onde é que os vários
estados estão localizados uns em relação aos outros e onde é que as cidades estão localizadas dentro de cada estado. Portanto,a organização espacial da informação nos mapas cognitivos não obedece aos princípios da geometria Euclidiana. Frankline Tversky (1990, citado por Taylor e Tversky, 1992) mostraram que certas áreas dos mapas cognitivos, relativamente à orientação espacial de um observador, eram mais facilmente acedidas do que outras. Se as representações mentais dos ambientes especificassem a distância métrica num formato visuo-espacial, então a informação sobre qualquer localização num ambiente seria igualmente acessível. Em vez disso, os resultados sugerem que os sujeitos localizam os objectos na representação mental em relação aos eixos do corpo, certos eixos são mais salientes do que outros.
Ao que parece, as representações visuo-espaciais fornecem um formato variado e flexível para a codificação de informação sobre o mundo em memória. E a natureza da informação acedida a partir das representações de objectos espaciais e acontecimentos é sensível às exigências das tarefas.
Enquanto as imagens mentais preservam as propriedades visuais (informação estrutural, relacional e, às vezes, métrica) dos seus objectos externos correspondentes, revelando uma equivalência funcional ás representações perceptivas e resultando da activação de algumas das mesmas áreas do cérebro, as representações em memória, que suportam o reconhecimento de objectos, codificam informação sobre os eixos, as partes e outros atributos visuais distintivos dos objectos, juntamente com a especificação da estrutura global e relações entre as unidades primitivas. Ao contrário, as representações mentais dos ambientes parecem preservar apenas relações abstractas sobre as disposições espaciais dos objectos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEHRMANN, M., Winocur, G., Moscovitch, M. (1992). Dissociations between mental imagery and object recognition in a brain damaged patient. Nature, 359, 636-637.
BIEOERMAN, 1.,Cooper, EE. (1991). Priming contour-deleted images: Evidence for intermediate representations in visual object recognition. Cognitive Psychology, 23, 393-419.
BRANOIMONTE, M.A., Gerbino, W. (1993). Mental image reversal and verbal recoding: When ducks become rabbits. Memory and Cognition, 21, 23-33.
CAVE, K., Pinker, S., Giorgi, L, Thomas, C.E, Heller, LM., Wolfe, J.M., Lin, H. (1994). The representations of location in visual images. Cognitive Psychology, 26 (1),1-32.
CHAMBERS, O., Reisberg, O. (1992). What an image depicts depends on what na image means. Cognitive Psychology, 24, 145-174.
FARAH,M.J. (1985). Psychophysical evidence for a shared representation medium for mental images and percepts. Journal of Experimental Psychology: General, 114, 91-103.
FARAH, M.J., Hammond, K.M., Levine, D.N., Calvanio, R. (1988). Visual and spatial mental imagery: Dissociable systems of representation. Cognitive Psychology, 20, 439-462.
GOOOALE, M.A., Milner, A.O. (1996). Separate visual pathways for perception and action. In A.W. Ellis e A.W. Young (Eds.), Human cognitive neuropsychology: A textbook with readings. UK: Psychological Press.
KOSSLYN, S.M., Flynn, R.A., Amsterdam, J.B., Wang, G. (1990). Components of high-Ievel vision: A cognitive neuroscience analysis and accounts of neurological syndromes. Cognition, 34, 203-277.
KOSSLYN, S.M., Alpert, N.M., Thompson, W.L, Maljkovic, V., Weise, S.B., Chabris, C.F., Hamilton, S.E., Rauch, S.L., Buonanno, S. (1993). Visual mental imagery activates topographically organized visual cortex: PET investigations. Journal of Cognitive Neuroscience, 5, 263-287.
MCNEIL, J.E., Warrington, E.K. (1996). Prosopagnosia: A face-specific disorder. In A.W. Ellis e A.W. Young (Eds.), Human cognitive neuropsychology: A textbook with readings. UK: Psychological Press.
MECKLlNGER, A., Muller, N. (1996). Dissociations in the processing of "what" and "where" information in working memory: An event-related potentials analysis.Journal of Cognitive Neuroscience, 8 (5),453-473.
PETERSON, M.A., Kihlstrom, J.F., Rose, P.M., Glisky, M.L (1992). Mental images can be ambiguous: Reconstruals and reference-frame reversals. Memory and Cognition, 20, 107-123.
ROEDIGER, H.L (1990). Implicit memory: Retention without remenbering. American Psychologist, 45, 1043-1056.
ROUW, R., Kosslyn, S.M., Hamel, R. (1997). Detecting high-Ievel and low-Ievel properties in visual images and visual percepts. Cognition, 63, 209-226.
SCHATER, D.L, Cooper, LA. (1993). Implicit and explicit memory for naval visual objects: Structure and function. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19,995-1009.
SHEPARD, R.N., Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. Science, 171, 701-703.
TARR, M.J., Pinker, S. (1989). Mental rotation and orientation-dependence in Shape recognition. Cognitive Psychology, 21, 233-282.
TAYLOR, H.A., Tversky, B. (1992). Spatial mental models derived from survey and route descriptions. Journal of Memory and Language, 31,261-292.
WALKER, P., H)tch, G.J., Dewhurst, S.A., Whiteley, H.E., Brandimonte, M.A. (1997). The representation of nonstructural information in visual memory: Evidence from image combination. Memory and Cognition, 25 (4),484-491.
- BEHRMANN, M., Winocur, G., Moscovitch, M. (1992). Dissociations between mental imagery and object recognition in a brain damaged patient. Nature, 359, 636-637.
- BIEOERMAN, 1.,Cooper, EE. (1991). Priming contour-deleted images: Evidence for intermediate representations in visual object recognition. Cognitive Psychology, 23, 393-419.
- BRANOIMONTE, M.A., Gerbino, W. (1993). Mental image reversal and verbal recoding: When ducks become rabbits. Memory and Cognition, 21, 23-33.
- CAVE, K., Pinker, S., Giorgi, L, Thomas, C.E, Heller, LM., Wolfe, J.M., Lin, H. (1994). The representations of location in visual images. Cognitive Psychology, 26 (1),1-32.
- CHAMBERS, O., Reisberg, O. (1992). What an image depicts depends on what na image means. Cognitive Psychology, 24, 145-174.
- FARAH,M.J. (1985). Psychophysical evidence for a shared representation medium for mental images and percepts. Journal of Experimental Psychology: General, 114, 91-103.
- FARAH, M.J., Hammond, K.M., Levine, D.N., Calvanio, R. (1988). Visual and spatial mental imagery: Dissociable systems of representation. Cognitive Psychology, 20, 439-462.
- GOOOALE, M.A., Milner, A.O. (1996). Separate visual pathways for perception and action. In A.W. Ellis e A.W. Young (Eds.), Human cognitive neuropsychology: A textbook with readings
- KOSSLYN, S.M., Flynn, R.A., Amsterdam, J.B., Wang, G. (1990). Components of high-Ievel vision: A cognitive neuroscience analysis and accounts of neurological syndromes. Cognition, 34, 203-277.
- KOSSLYN, S.M., Alpert, N.M., Thompson, W.L, Maljkovic, V., Weise, S.B., Chabris, C.F., Hamilton, S.E., Rauch, S.L., Buonanno, S. (1993). Visual mental imagery activates topographically organized visual cortex: PET investigations. Journal of Cognitive Neuroscience, 5, 263-287.
- MCNEIL, J.E., Warrington, E.K. (1996). Prosopagnosia: A face-specific disorder. In A.W. Ellis e A.W. Young (Eds.), Human cognitive neuropsychology: A textbook with readings.
- MECKLlNGER, A., Muller, N. (1996). Dissociations in the processing of "what" and "where" information in working memory: An event-related potentials analysis.Journal of Cognitive Neuroscience, 8 (5),453-473.
- PETERSON, M.A., Kihlstrom, J.F., Rose, P.M., Glisky, M.L (1992). Mental images can be ambiguous: Reconstruals and reference-frame reversals. Memory and Cognition, 20, 107-123.
- ROEDIGER, H.L (1990). Implicit memory: Retention without remenbering. American Psychologist, 45, 1043-1056.
- ROUW, R., Kosslyn, S.M., Hamel, R. (1997). Detecting high-Ievel and low-Ievel properties in visual images and visual percepts. Cognition, 63, 209-226.
- SCHATER, D.L, Cooper, LA. (1993). Implicit and explicit memory for naval visual objects: Structure and function. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19,995-1009.
- SHEPARD, R.N., Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. Science, 171, 701-703.
- TARR, M.J., Pinker, S. (1989). Mental rotation and orientation-dependence in Shape recognition. Cognitive Psychology, 21, 233-282.
- TAYLOR, H.A., Tversky, B. (1992). Spatial mental models derived from survey and route descriptions. Journal of Memory and Language, 31,261-292.
- WALKER, P., H)tch, G.J., Dewhurst, S.A., Whiteley, H.E., Brandimonte, M.A. (1997). The representation of nonstructural information in visual memory: Evidence from image combination. Memory and Cognition, 25 (4),484-491.
Endereço para correspondência:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Jul 2014 -
Data do Fascículo
Ago 2000