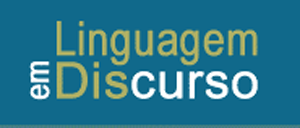Resumos
Este artigo, resultado de investigação sobre a relação entre discurso e prática social, analisa a referência ao atendimento preferencial feita no texto do Estatuto do Idoso e no depoimento voluntário de seis idosos, buscando compreender o interdiscurso mobilizado nessas enunciações, recuperado em texto publicitário. Tomamos como base teórico-metodológica de análise teorias do discurso, especificamente o dialogismo bakhtiniano, conforme leituras de Authier-Revuz (2004) sobre esses pressupostos, e a Análise do Discurso na perspectiva de Pêcheux (2008) e Orlandi (1996, 1998, 2003). Os resultados da análise permitem-nos compreender como a existência da lei ainda aponta para os discursos que circundam negativamente o universo da velhice.
Interdiscursividade; Estatuto do Idoso; Análise do Discurso
This article, the result of an investigation on the relationship between discourse and social practice, analyzes the reference to the preferential as specified in the text of the Elder's Statute and in the voluntary testimony by six seniors, aiming to understand the interdiscourse mobilized in such enunciations, recovered in an advertising text. The theoretical-methodological perspectives of analysis are the theories of the discourse, specifically Bakhtinian dialogism according to the readings of Authier-Revuz (2004), and Discourse Analysis in the perspective of Pêcheux (2008) and Orlandi (1996, 1998, 2003). The results of the analyses enabled the understanding of how the existence of the law still points to the discourse that surrounds the universe of the old age in a negative way.
Interdiscursivity; Elderly Statute; Discourse Analysis
Este artículo, resultado de investigación sobre la relación entre discurso y práctica social, analiza la referencia al atendimiento preferencial hecha en el texto del Estatuto del Anciano y en el testimonio voluntario de seis ancianos, buscando comprender el inter discurso movilizado en esas enunciaciones, recuperado en texto publicitario. Tomamos como base teórico-metodológica del análisis teorías del discurso, específicamente el dialogismo bakhtiniano, conforme lecturas de Authier-Revuz (2004) sobre esos supuestos, y el Análisis del Discurso en la perspectiva de Pêcheux (2008) y Orlandi (1996, 1998, 2003). Los resultados del análisis nos permiten comprender como la existencia de la ley aun apunta para los discursos que circundan negativamente el universo de la ancianidad.
Inter discursividad; Estatuto Del Anciano; Análisis del Discurso
ARTIGOS DE PESQUISA RESEARSH ARTICLES
Atendimento preferencial no Estatuto e na voz do idoso: uma análise discursiva
Preferential treatment in the Statute and the voice of the elderly: a discursive analysis
Atendimiento preferencial en el Estatuto y en la voz del anciano: un análisis discursivo
Janete Silva dos Santos
Universidade Federal do Tocantins Palmas, Tocantins, Brasil. Professora adjunta do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras/UFT. Doutora em Linguística Aplicada. Email: janetesantos@uft.edu.br
RESUMO
Este artigo, resultado de investigação sobre a relação entre discurso e prática social, analisa a referência ao atendimento preferencial feita no texto do Estatuto do Idoso e no depoimento voluntário de seis idosos, buscando compreender o interdiscurso mobilizado nessas enunciações, recuperado em texto publicitário. Tomamos como base teórico-metodológica de análise teorias do discurso, especificamente o dialogismo bakhtiniano, conforme leituras de Authier-Revuz (2004) sobre esses pressupostos, e a Análise do Discurso na perspectiva de Pêcheux (2008) e Orlandi (1996, 1998, 2003). Os resultados da análise permitem-nos compreender como a existência da lei ainda aponta para os discursos que circundam negativamente o universo da velhice.
Palavras-chave: Interdiscursividade. Estatuto do Idoso. Análise do Discurso.
ABSTRACT
This article, the result of an investigation on the relationship between discourse and social practice, analyzes the reference to the preferential as specified in the text of the Elder's Statute and in the voluntary testimony by six seniors, aiming to understand the interdiscourse mobilized in such enunciations, recovered in an advertising text. The theoretical-methodological perspectives of analysis are the theories of the discourse, specifically Bakhtinian dialogism according to the readings of Authier-Revuz (2004), and Discourse Analysis in the perspective of Pêcheux (2008) and Orlandi (1996, 1998, 2003). The results of the analyses enabled the understanding of how the existence of the law still points to the discourse that surrounds the universe of the old age in a negative way.
Keywords: Interdiscursivity. Elderly Statute. Discourse Analysis.
RESUMEN
Este artículo, resultado de investigación sobre la relación entre discurso y práctica social, analiza la referencia al atendimiento preferencial hecha en el texto del Estatuto del Anciano y en el testimonio voluntario de seis ancianos, buscando comprender el inter discurso movilizado en esas enunciaciones, recuperado en texto publicitario. Tomamos como base teórico-metodológica del análisis teorías del discurso, específicamente el dialogismo bakhtiniano, conforme lecturas de Authier-Revuz (2004) sobre esos supuestos, y el Análisis del Discurso en la perspectiva de Pêcheux (2008) y Orlandi (1996, 1998, 2003). Los resultados del análisis nos permiten comprender como la existencia de la ley aun apunta para los discursos que circundan negativamente el universo de la ancianidad.
Palabras-clave: Inter discursividad. Estatuto Del Anciano. Análisis del Discurso.
1 INTRODUÇÃO
Há dez anos, precisamente em outubro de 2003, o governo federal sancionava o Estatuto do Idoso, com 118 artigos que versam sobre os direitos mais elementares já garantidos a qualquer cidadão (Todos são iguais perante a lei, [...] garantindo-se a 1 1 Dado o recorte delimitado de nossa investigação, não nos ateremos aqui a refletir sobre a pluralidade de leituras que artigos das leis (Constituição Federal, Código Civil etc.), inseridos em nosso texto, possam ensejar, pois limitamos nossa análise ao item I do artigo 3º do Estatuto do Idoso. inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade), e nem sempre efetivados, na Constituição Federal (BRASIL, 2003a) e os direitos mais específicos. Conforme o Estatuto, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. O referido documento é de suma importância, conforme o imaginário social, para legitimar os direitos de uma faixa etária que, na sociedade, vive, em geral, à mercê da boa vontade daqueles aos quais estão sujeitos. Entretanto, a produção e a relação da lei com seus produtores, promotores e usuários são uma construção da linguagem, ou seja, uma produção e uma relação mediadas pelo simbólico, daí constituir-se a lei (Estatuto) num discurso que, como tal, evoca e ao mesmo tempo silencia outros discursos, não sendo sua existência a manifestação neutra de valores sociais nem garantia de cumprimento automático, pois essa lei pressupõe uma direção para essa justiça, mobilizando discursos de outros lugares para que essa justiça se efetive. Indispensável é o esforço de toda a sociedade para que ela seja incorporada em suas ações cotidianas, visto que a legitimação de qualquer lei não é um mero corolário da obediência cega às suas prescrições, mas um processo cultural, que se constrói através de ações práticas inseridas no jogo instaurado entre o "discurso novo" (novos efeitos de sentido) e sua resistência.
Assim, esta investigação, fazendo um recorte no texto selecionado, detendo-se no parágrafo único do artigo 3º, que descreve o que compreende a garantia de prioridade em relação às pessoas privilegiadas pela lei, objetiva analisar o discurso que sustenta a noção de atendimento preferencial feita nesse recorte e no discurso do sujeito-alvo (o idoso) sobre essa referência, buscando compreender o interdiscurso nela mobilizado bem como seus efeitos na construção imaginária do discurso do próprio idoso. No que concerne à escolha do recorte, corroboramos a posição de Lagazzi (2008) ao explicar que "recortar é selecionar significantes significativos do funcionamento discursivo, é estabelecer relações significativas entre elementos significantes em diferentes materialidades" (p.1).
Nosso interesse é investigar os efeitos de sentido da noção de atendimento preferencial dirigida aos idosos, uma vez que esse discurso tem percursos anteriores, pois também é produzido em outros acontecimentos enunciativos, em outras condições sócio-históricas, mobilizando outros sujeitos enunciadores e enunciatários, outras formações discursivas, outras vozes (AUTHIER-REVUZ, 2004), o que, por sua vez, produz efeitos de sentido outros. Isso porque "os discursos se entrecruzam, se esbarram e as formulações se abrem em possibilidades de rearranjos significativos" (LAGAZZI, 2008, p. 2).
Nosso corpus vem, assim, constituído de dois registros: recorte do texto do Estatuto e transcrição livre de entrevistas em áudio feitas com idosos da cidade de Campinas. Enfatizamos aqui que a AD materialista, nas palavras de Lagazzi (2011, p. 498), "é um dispositivo de leitura que busca compreender a interpretação em suas diferentes condições possíveis, na relação com os diferentes efeitos de sentido produzidos, para determinar as posições-sujeito que sustentam os gestos de interpretação".
Desse modo, propomo-nos a refletir sobre a interdiscursividade mobilizada no recorte privilegiado na análise, à luz do dialogismo bakhtiniano, conforme nos informam Flores e Teixeira (2005) e Authier-Revuz (2004), bem como da polifonia ducrotiana, discutida também em trabalhos de Eni Orlandi (1996, 1998, 2003) e do próprio Ducrot (1977, 1987), incluindo os postulados estabelecidos por Pêcheux e retomados em Orlandi (1996) e os apresentados em Pêcheux (2008), fundador da AD aqui focada, procurando compreender a emergência de sentidos novos no acontecimento enunciativo em foco, considerando que a enunciação é um fenômeno social da linguagem atravessada pela historicidade (GRIGOLETTO, 2002), que estabelece a relação entre posições sociais (sujeito), a partir do interdiscurso de outras enunciações.
2 SUPORTE DE ANÁLISE
Ao focar a análise de um discurso não se busca analisar uma voz individual, única, considerando que os atores do discurso são sujeitos construídos socialmente, cada um é, segundo Bakhtin (1997b), um eu social, enunciando assim, cada ator ou sujeito, a partir de um emaranhado de vozes que o constituem.
Bakhtin (1997b) vai colocar em discussão o caráter polissêmico do signo em relação dialética com uma espécie de sentido uno, uma vez que sua significação se constrói historicamente, de tal modo que a língua é vista como o lugar em que a ideologia concretamente se manifesta: é na materialidade da língua que o ideológico se realiza. Mas, enquanto em Bakhtin a tônica está na interação verbal entre sujeitos, o que põe em destaque a enunciação e seu caráter responsivo como a ininterrupta relação dialógica entre enunciados que, para ele, são réplicas irrepetíveis, em AD o foco está na relação entre sujeitos, o que põe em relevância a enunciação e os efeitos de sentido entre formações discursivas (FD), entre posições-sujeito, conceito a ser discutido mais adiante. Para o postulado bakhtiniano, o sujeito se constitui na interação com o outro, mediante os discursos que os atraem, e seria mais consciente de suas escolhas, fazendo, assim, uso de sua vontade, enquanto que, para a AD, isso é uma ilusão, pois o sujeito, como efeito de sentido, afetado internamente pelo inconsciente e externamente pela ideologia, apenas se imagina exercendo sua vontade própria, sua escolha. Essas breves comparações apontam algumas das fronteiras entre essas duas concepções de discurso e sujeito: a bakhtiniana e a de filiação francesa na linha proposta por Michel Pêcheux.
Flores e Teixeira (2005) enfatizam que o diálogo entre enunciados (noção bakhtiniana) ocorre porque "todo discurso está imediata e diretamente determinado pela resposta antecipada, pois, ao constituir-se na atmosfera do já-dito, ele se orienta tanto para o espaço interdiscursivo como para o discurso-resposta que ainda não foi dito, mas foi solicitado a surgir, sendo já esperado" (p. 75). Em AD, a noção de sujeito cindido, segundo Flores e Teixeira, vai corroborar as posições lacanianas, visto que o par EU/OUTRO se compõe de parceiros imaginários, daí a fala heterogênea de um sujeito dividido, ou seja, o sujeito seria determinado por uma ordem simbólica: o significante, a lei, a linguagem, o inconsciente (FLORES; TEIXEIRA, 2005, p. 175).
Authier-Revuz (2004), que investiga nos dados linguísticos as marcas do que Bakhtin define como dialogia (interdiscursividade) e polifonia (intertextualidade), chama a heterogeneidade (constitutiva da linguagem) perceptível no discurso de heterogeneidade mostrada. Em Bakhtin (1997a), a dialogia diz respeito à propriedade dialógica da linguagem, pois a presença do outro é sempre acionada pela língua; a polifonia, por sua vez, é a concorrência de vozes numa dada enunciação, que também estabelece o diálogo indireto com o outro, através do confronto com outras vozes.
Conforme Authier-Revuz (2004) analisa, a heterogeneidade mostrada seria uma forma de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva da linguagem. Assim, o discurso direto e o indireto, as glosas (explicações no discurso oral ou escrito), as aspas, as referências, o uso de itálico, de negrito, de grifos, seriam uma espécie de chamada de atenção que o locutor faz sobre a voz alheia inserida em sua enunciação, isto é, ele assinala (marca) essa presença constitutiva do outro em seu próprio discurso. Nos artigos legais, essas marcas são muitas vezes apagadas para dar efeito de discurso novo, ao se inserir nele (discurso novo) definições cunhadas em outros lugares (outras leis) sem apontar explicitamente tais empréstimos.
Embora nos prendamos ao enunciado de um artigo, podemos dialogar com outros, como subsídio para a análise. Por exemplo, do ponto de vista da polifonia, outras leis são retomadas, reescritas, inserindo-se nelas incisos e parágrafos em função do novo estatuto. O texto organiza-se, assim, polifonicamente, fazendo ecoar outros textos, ainda que de modo impreciso, como se percebe nessas linhas do artigo 275 do Código Civil (BRASIL, 2002), em relação à pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, que no estatuto será cuidadosamente predicada de idosa:
CAPÍTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Art. 72. O inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea h:
"Art. 275. ............................................................................
II ..................................................................................
h) em que for parte ou interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos."
Orlandi (1998), explicando o que Pêcheux define como discurso, efeito de sentidos entre locutores, informa que os sujeitos são posições manifestadas a partir do lugar social de onde falam, as quais decorrem de relações ideológicas. A ideologia, na linha althusseriana (cf. BRANDÃO, 2002), põe em destaque a relação imaginária que os indivíduos mantêm com sua realidade. O modo de interação que os indivíduos mantêm com suas reais condições de vida projeta esse imaginário. A dinâmica da ideologia não permite ao sujeito perceber que, ao enunciar, está inserido em práticas histórico-discursivas preexistentes, por isso "O sujeito se imagina uno, fonte do dizer e senhor de sua língua; por isso que, ao enunciar, parecer normal 'à sua consciência' ocupar a posição social na qual se percebe" (MARIANI, 1998, p. 25).
O histórico, nessa perspectiva, é "produção simbólica ininterrupta que na linguagem organiza sentidos para as relações de poder presentes em uma formação social, produção esta sempre afetada pela memória do dizer e sempre sujeita à possibilidade de ruptura no dizer" (MARIANI, 1998, p. 24). Na ordem do discurso, tais formações discursivas, determinando o que pode e deve ser dito, representam, por sua vez, formações ideológicas que àquelas corresponderiam. Orlandi (1996, p. 108) assim esclarece essas noções:
[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc. não existe em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas é determinado pelas posições ideológicas postas em jogo no processo social-histórico em que as palavras, expressões e preposições [sic] são produzidas (isto é, reproduzidas).
Orlandi (1998) lembra ainda que, ao analista, não cabe analisar o sentido do texto e sim como o texto produz sentido. Para tanto, flagrar o interdiscurso (conjunto das formações discursivas), a memória do dizer, o já-dito, é crucial nesse trabalho, objetivo específico de nosso estudo, uma vez que o(s) legislador(es) e o porta-voz das leis são também sujeitos efeitos social, histórica e ideologicamente marcados, com filiações discursivas mobilizadas em suas enunciações frente aos fenômenos da vida, neste caso, a instituição do Estatuto como acontecimento resultante de sua articulação com o simbólico: a linguagem.
Dada a releitura da noção de inconsciente da psicanálise lacaniana feita pela AD (MUSSALIM, 2001, p. 102-141), o sujeito, movido inconscientemente pela(s) ideologia(s) de sua própria formação discursiva, tem a ilusão de ser origem de seu dizer e de que é livre para dizer o que quiser. Todavia, são as condições de produção do discurso que determinam (ou condicionam) o que pode e deve ser dito em uma dada enunciação, considerando o lugar social de onde o sujeito enuncia (ORLANDI, 2003).
A enunciação é aqui considerada "o acontecimento sócio-histórico da produção do enunciado" (GRIGOLETTO, 2002, p. 58), visto que implica uma tomada da palavra por uma posição-sujeito que enuncia a partir do(s) já-dito(s) possível(is) de ser(em) articulado(s) nessa dada enunciação, sem disso ter consciência. E sendo o discurso efeito de sentidos porque é acontecimento (PÊCHEUX, 2008), a enunciação do Estatuto, objeto de nossa análise, constitui-se como um acontecimento que, de acordo com o que explica Pêcheux (p. 23), faz aflorar "uma rede de relações associativas implícitas".
O interdiscurso é, para a AD, a memória discursiva que possibilita a prática enunciativa; "é aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente" (ORLANDI, 2003, p. 31). Mas falar a partir do préconstruído não significa estar condenado à mera repetição de sentidos, pois estes "não apenas retornam, eles se projetam em outros sentidos, constituindo outras possibilidades dos [sic] sujeitos se subjetivarem" (p. 54). Ainda a esse respeito, a autora distingue três formas de repetição: (i) empírica (mnemônica), efeito papagaio, só repete; (ii) formal (técnica), paráfrase; (iii) histórica, permite deslocamento, historiciza o dizer e o sujeito, trabalha o equívoco, a falha, "atravessando as evidências do imaginário e fazendo o irrealizado irromper no já estabelecido" (2003, p. 54).
O terceiro tipo de repetição, a nosso ver, corrobora as propostas anteriores sobre a fuga do sujeito ao assujeitamento passivo, isto é, a um assujeitamento sem manifestação de resistência. Desse modo, analisar um dado discurso implica não apenas buscar as possíveis filiações discursivas nele presentes, mas também compreender como o deslocamento dos já-ditos produz sentidos novos, considerando sua repetição histórica.
3 COMO O DISCURSO OFICIAL (DES)FAVORECE O IDOSO
O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003b) é o documento oficial destinado a amparar, por força de lei, um cidadão que, com a idade, vai perdendo muitos dos direitos que todo cidadão deve ter, conforme reza o caput do artigo 5º da constituição brasileira (BRASIL, 2003a): "Todos são iguais perante a lei, [...] garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]". O artigo 3º deste documento estabelece que
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (2003b, p. 8)
Este artigo condensa, podemos dizer, direitos que poderiam ser atribuídos também a outros cidadãos (É obrigação [das pessoas e do Estado] assegurar [...] direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, à liberdade etc.), independentemente de sua faixa etária, não fosse pela presença enfática do modalizador com absoluta prioridade e do referente alvo substantivado e simultaneamente adjetivado por Idoso. Mas, como se pode observar, este artigo reitera um dado constitucional sinalizando direitos que, a despeito de constarem numa lei maior, não se efetivam como prática a favor de um cidadão que, agora muitas vezes identificado à criança, não pode gerir a própria existência. A partir deste artigo, desenrola-se, discursivamente, toda uma conduta exigida para o cumprimento da lei voltada especialmente para os idosos (cujo contraponto identitário são os cidadãos sempre mais jovens, aqueles capazes de cuidar e de lutar por seus direitos sem maiores dependências), com detalhamento tanto de sua execução quanto de punições quando essas exigências forem negligenciadas.
Nesse artigo, dos oito itens do parágrafo único, que especifica o que compreende a garantia de prioridades em relação ao idoso, o primeiro, recorte priorizado em nossa análise, acusa a necessidade de atitude preferencial a ser dada a essa faixa etária por parte de setores públicos e privados:
I atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (2003b, p. 8).
Para que haja efeito de lei específica e nova, urge aparecer na materialidade linguística do referido texto como o atendimento preferencial deve ser efetivado para manifestar a característica almejada, apesar de o sintagma nominal atendimento preferencial vir seguido de qualificadores na forma de adjetivo: imediato e individualizado. Assim, não basta conceder ao idoso o direito a atendimento preferencial, pois, dado o modo como aparece no documento, favorecendo gesto de leitura plural, implica a pressuposição de que isso já deveria ser naturalizado tacitamente. Em ouras palavras, há um efeito de que isso já deveria ocorrer, mas, como não ocorre, deve ser efetivado sem mais possibilidade de adiamentos, quer por órgãos públicos, quer por privados, os quais simbolizam e materializam relações de poder estabelecidas nas relações entre as pessoas, interpeladas como sujeitos nos processos enunciativos.
Na AD, o sujeito é afetado pelo inconsciente e pelas condições de produção, que são sócio-históricas, e que determinam (ou condicionam) a emergência do enunciado X e o apagamento do enunciado Y, uma vez que a posição-sujeito é que permite dizer X e não Y e o dizer de um modo e não de outro, considerando-se que não é uma voz original e individual que fala, não é um indivíduo que ali se faz ouvir. Há, sim, um entrelaçamento de vozes (BAKHTIN, 1997a) que faz emergir determinados enunciados em detrimento de outros. Está aí presente a interdiscursividade. Os sentidos são produzidos exatamente porque já há uma base de sustentação que permite essa emergência. A pressuposição é determinante como marca de interdiscursividade.
Assim como todo discurso sempre remete a outro(s) discurso(s), pois construído sempre na relação com já-ditos, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003b, p. 8), no item I, ao materializar na língua o discurso do "atendimento preferencial" [imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população], em relação aos idosos, pressupõe que em outro lugar, em outra prática social, em favor de outros sujeitos, dito por outra posição-sujeito, o "atendimento preferencial" é dito, acontece, mas não em relação aos idosos. É importante, por isso, enfatizar que a figura do governo assume a enunciação do Estatuto, mesmo não tendo sido ele (o Estatuto) produzido efetivamente pela figura do governo (compreendendo aqui os três poderes), que, por sua vez, não é também uma voz individual, tanto no sentido político quanto discursivo. Sabe-se que o estatuto é produzido, na verdade, por membros da sociedade governada, no sentido político do termo governante/governado, pois é por esses membros governados que a necessidade é sentida e, por isso, a providência reivindicada, todavia, para que efetivamente tenha força de lei, é necessária a assunção, por parte do governo, do acontecimento enunciativo.
Essa relação de força, discursivamente manifesta, possibilita dizer que só pode oferecer atendimento preferencial quem está numa posição privilegiada, tendo autoridade para tal, e, ao fazer isso, estende, por sua vez, privilégio em direção a outro(s). Os sujeitos envolvidos nessa interação verbal são vários, mas aparecem à nossa consciência como duas entidades (dissociadas) apenas: o governo e a sociedade, resultado do efeito imaginário (funcionamento ideológico), que organiza o caos dando a ilusão da unicidade e originalidade do sujeito, da coerência e da transparência do dizer, da dualidade da troca enunciativa.
O governo é o enunciador, aquele que enuncia. Todavia, é necessário mencionar que assume também as vozes de governados, sem que isso seja claro aos interlocutores, que toma a palavra, dirigindo-a a outro(s), no caso, à sociedade (o enunciatário), i.e., aos membros da sociedade como um todo. Mas entre esses membros encontra-se também o próprio governo, no sentido de setor responsável por fazer cumprir a lei, além da categoria social dos idosos, cerne da emergência do texto.
Dado nosso aporte teórico, podemos dizer que tal entrelaçamento de vozes aponta a heterogeneidade constitutiva da linguagem (AUTHIERREVUZ, 2004) e como o discurso habita e movimenta os sujeitos, sujeitando-os à língua(gem) como prática histórico-discursiva, constituindo-os em sujeitos que se movimentam na e por ela, assumindo discursos, vozes, posições de outros sujeitos conforme a posição social de onde enunciam, sem disso ter clareza ou mesmo, às vezes, noção. A fim de encontrarmos fios que possam nos conduzir ao interdiscurso reiterado no discurso do atendimento preferencial presente no Estatuto, retomaremos, agora como indagações, as pressuposições elencadas anteriormente: em que outro lugar, em que outra prática social, em favor de quais outros sujeitos, dito por que outra posição-sujeito, o atendimento preferencial aparece?
Em Castro e Oliveira (2012, p. 183) podemos encontrar alguns apontamentos que nos informam sobre a questão:
[...] a publicidade seria a grande embalagem do sistema capitalista em que vivemos. Historicamente [...] nas décadas de 1970 e 1980, predominou na publicidade brasileira o apelo ao prestígio e à tecnologia, convergente com a ideologia do progresso que enaltecia os valores capitalistas da concorrência e da "modernidade tecnológica". [...] enquanto a credibilidade da ideologia do progresso esteve em alta, os bens e serviços eram promovidos para conferir prestígio ao usuário. (grifo dos autores).
Vê-se assim que é no discurso capitalista da publicidade, otimizando esses "bens e serviços para conferir prestígio aos usuários", que podemos buscar vestígios do oferecimento de um tipo de atendimento preferencial que importa ao trabalho de análise.
Mestrinelli (2008, p. 8), ao analisar a narrativa de um texto publicitário do Banco Real, publicado na revista Época (de 19/05/2008, p. 52, 53), que utiliza como personagem-protagonista da narrativa um sujeito bem estabelecido socialmente, oferece-nos dados que dão sustentação ao que buscamos articular em nosso gesto de leitura. Segundo identifica a autora, a propaganda do Banco Real recorre à ênfase do discurso do atendimento preferencial (Van Gogh) como um valor agregado ao serviço bancário que valoriza a pessoa humana, que lhe é especial, isto é, valoriza o cliente a quem ela quer alcançar (e, ressalte-se, não é qualquer cliente):
Especifica como o atendimento é feito e quais as vantagens em ser um cliente Real dos serviços Van Gogh (atendimento preferencial que considera aspectos econômicos, sociais e ambientais, serviços de atendimento gerencial até as 22 h, 365 dias por ano, fornecido pelo Disque Real). Por meio da história de vida de Marcelo [Rosenbaum], o texto comprova que apóia Marcelo como profissional e como ser humano. (grifo nosso).
Assim, deslocando o foco do Estatuto, ao nos voltarmos para outras práticas discursivas, como o discurso publicitário, não é difícil perceber como nele circulou/circula amplamente o discurso do atendimento preferencial. Não é difícil, pois, recuperar imagens que, até há pouco tempo, por exemplo, eram (e ainda são) vistas, nos bancos: materializadas nas plaquetas sobre as mesas de gerentes, as chamadas orientando clientes para o atendimento preferencial, ou atendimento exclusivo, ou atendimento especial junto à figura deste profissional de agência bancária, forma última que se fixou mais recorrentemente hoje. Essas estratégias discursivas se fortalecem cada vez mais porque o "discurso publicitário tem sido, na era acirrada do capitalismo, um elemento fundamental para persuadir o público-alvo que é responsável pela instauração do consumismo" (CAMARGO, 2004, p. 1).
Desse modo, pelo uso desses discursos, propaga-se que o cliente de banco portador de uma conta corrente mais substancial recebe (tem direito a) atendimento diferenciado, com acomodações mais confortáveis e com menos tempo para espera de atendimento etc. Esse discurso, mesmo que por outra nomeação, continua vigoroso pela força que o capital atrela a quem dele pode se beneficiar: nas salas Vip de aeroportos, nos cartões de crédito mais bem avaliados, nos acessos limitados a determinados serviços etc.
O discurso publicitário e/ou midiático, por sua vez, põe em jogo, através da linguagem, a relação de poder que fervilha no discurso capitalista. O discurso capitalista, fazendo uso da máquina midiática, via publicidade, relaciona forças contraditórias, impregnando a sociedade de seus valores, num embate contínuo e tácito de aceitação e resistência, em relação a ele. O acontecimento enunciativo, então, põe em cena as posições-sujeito em confronto e permuta permanentes entre o dizer X e o apagar Y, desta e não daquela maneira.
Desse modo, o discurso do atendimento preferencial, no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003b), através das cadeias discursivas, do entrecruzamento de vozes, filia-se a esse outro discurso (o publicitário), que promove largamente a noção de atendimento preferencial (ou exclusivo, ou especial), reiterando essa voz discursiva, trazendo-a, porém, de um contexto neoliberal (do capitalismo/publicidade) para o contexto legal (da lei). Essa transposição de contexto enunciativo dos sentidos é chamada de metáfora discursiva na AD (ORLANDI, 2003). Entretanto, por mais que o pré-construído, a memória discursiva, estabeleça esse já-dito neste outro lugar (o Estatuto), o sentido não se repete pura e simplesmente, mas, afetado pela historicidade da enunciação (repetição histórica), desloca-se e configura-se como novo sentido.
Como isso se dá, conforme nosso gesto de interpretação, dentro da abordagem da AD? Podemos dizer que no discurso publicitário, filiado ao discurso capitalista, predominante na sociedade moderna, que divide os membros da sociedade em patrões (privilegiados, detentores do poder econômico) e proletários (força de trabalho desfavorecida; subalternos), o atendimento preferencial, legalizado de fato (não de direito) tacitamente, é destinado a membros de nossa sociedade que gozam de prestígio social, ou seja, que já desfrutam de privilégios; são classes de pessoas favorecidas econômica e/ou socialmente que, no imaginário social, a ele (atendimento preferencial) fazem jus. Para esclarecer melhor, trazemos novamente aqui, como exemplo, além do tratamento prático-discursivo dado aos usuários de serviços bancários, o tratamento prático-discursivo oferecido por agências de viagem, por lojas de grife etc., prolíferos no serviço privado e mesmo no público: a sala vip, o cartão de crédito melhor credenciado, a cordialidade e a prioridade no atendimento, entre outras comodidades, que não são dirigidas preferencialmente (às vezes, nem mesmo esporadicamente) aos menos afortunados.
Entretanto, no Estatuto, o atendimento preferencial é dirigido ao idoso. Na formalidade da lei, a referência feita às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos dá-se através do adjetivo 'idoso' (que tem muitos anos/idade), evitando-se o uso popular do adjetivo 'velho' (muito idoso), dados os efeitos negativos que pode evocar (desgastado, antiquado; improdutivo). Mas quem é o idoso em nossa sociedade? Como nela ele significa?
Diferentemente de outras culturas, como as orientais (Japão, China) por exemplo, em que o idoso (ou o velho) goza, culturalmente, de respeito (o que é uma forma de prestígio) junto à família e, por extensão, à sociedade em geral, pelo reconhecimento do muito que contribuiu com sua força de trabalho e pela sabedoria de vida que acumulou e que pode partilhar com os mais jovens, na sociedade ocidental capitalista o idoso (ou o velho) configura-se como uma das muitas classes oprimidas na sociedade. Bosi (1994, p. 18), ao discutir a situação da velhice em nosso meio, sistematiza algumas formas de opressão de que padece o idoso:
Como se realiza a opressão da velhice? De múltiplas maneiras, algumas explicitamente brutais, outras tacitamente permitidas. Oprime-se o velho por intermédio de mecanismos institucionais visíveis (a burocracia da aposentadoria e dos asilos), por mecanismos psicológicos sutis e quase invisíveis (a tutelagem, a recusa do diálogo e da reciprocidade que forçam o velho a comportamentos repetitivos e monótonos, a tolerância de má-fé que, na realidade, é banimento e discriminação), por mecanismos técnicos (as próteses e a precariedade existencial daqueles que não podem adquiri-las), por mecanismos científicos (as "pesquisas" que demonstram a incapacidade e a incompetência sociais do velho).
Importa observar que Bosi projeta nesses questionamentos imagens não de um idoso ativo, produtivo, que sustenta a si e/ou a família ou que se autodirige, e sim de um idoso sempre em desvantagem, dependente, ou, muitas vezes, até posto à margem da vida social, o que implica tratar-se, ao nosso ver, principalmente do idoso menos favorecido social ou economicamente e para o qual, conforme nosso modo de interpretação, dirige-se efetivamente o tipo de atendimento preferencial constante no texto do Estatuto. Essa condição do idoso em nossa sociedade, em especial do menos favorecido, pode ser presenciada em várias cenas do cotidiano, como é o caso do acesso a assentos em ônibus. Apesar das placas indicativas de assento reservado ao idoso, há em certos ônibus cartazes com a seguinte assertiva: Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo2 2 Isso ainda pode ser encontrado em ônibus que circulam em Barão Geraldo, distrito de Campinas. . Um forte indício de que o idoso ainda não tem seus direitos (direitos garantidos por lei) respeitados.
Assim, conforme nossa análise, podemos argumentar que, enquanto no discurso publicitário capitalista o atendimento preferencial tem efeito de direito adquirido por força da condição social prestigiada, no discurso do Estatuto o atendimento preferencial, para o idoso, tem efeito de um favor concedido ao sujeito desamparado (ou marginalizado socialmente), pois, como bem discutido em trabalhos de Ducrot (1977; 1987) sobre a pressuposição como elemento essencial da enunciação, o desrespeito ao idoso é condição prévia para a emergência do Estatuto: se há lei é porque há desrespeito. É o que vemos implícito no artigo 8º do referido documento: "O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente". Por mecanismos de análise como esses, podemos perceber como a lei (discurso), por si só, não é garantia de que o que se diz efetiva-se automaticamente como favorável a quem dela espera se beneficiar, pois o discurso novo, ao mesmo tempo em que pode se fortalecer, afirmar-se, através do já-dito, precisa também enfraquecer ou quebrar a resistência de discursos anteriores, de seu interdiscurso, para se estabelecer como efeito novo de sentido que se impõe ao já cristalizado em outro lugar, nesse caso, assentado mediante os valores do capital, que desprestigia os que são improdutivos como força de trabalho e produção de renda. Assim, a ruptura pretendida se dá por efeito da lei e, portanto, acionando-se mecanismos de coerção, mediante um outro dever-ser. A lei se justifica, pois, pela certeza de procedimentos que a tornam necessária, uma vez que ninguém enuncia a justiça se esta se faz presente ou se esta se encontra sob ameaça. Assim, a defesa dos direitos dos mais velhos se dá pela constatação do desrespeito nas práticas cotidianas. A afirmação do novo, nesse caso, faz ecoar um discurso outro, anterior, já legitimado e aceito, reproduzindo, nesse confronto polifônico, outras vozes de poder na sociedade.
Como lei, ultrapassam-se outros processos de entendimento, o que implica em pena em caso de infração. Numa sociedade excludente, o acolhimento se dá mediante a coerção, sendo o infrator penalizado judicialmente, com pagamento de multas, ainda que de valores aparentemente simbólicos, diante da gravidade da pena, como se pode ler abaixo:
Art. 5º A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. (2003b, p. 10)
4 COMO O IDOSO LIDA COM O ATENDIMENTO PREFERENCIAL
Como assinalado anteriormente, e considerando que a AD assenta-se em dispositivos metodológicos qualitativos e interpretativos para análise, consultamos cidadãos (seis ao todo) na cidade de Campinas com idade igual ou superior a 60 anos, a fim de que se posicionassem em relação ao atendimento preferencial a que têm direito por força de lei. Partindo do pressuposto de que os sujeitos se inscrevem em diferentes formações discursivas, as entrevistas deveriam revelar divergências relativas ao modo como os idosos interpretam a lei e as situações nas quais esta é ou poderia ser mobilizada na garantia de seus direitos.
A escolha dos lugares especificados em que as entrevistas ocorreram foi motivada por nosso reconhecimento de que no imaginário socialmente construído há nuances de efeitos acerca de a quem se aplicaria com maior urgência a proteção (ou concessões) do Estatuto, ou quem dela necessitaria mais efetivamente. Apesar de esse documento, como lei, acolher a faixa etária que compreende toda e qualquer pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, adjetivada de idoso (independente de raça, cor, origem ou classe social, escolaridade, poder aquisitivo etc.), nem toda pessoa idosa se identifica com o sujeito projetado pelo Estatuto, a saber, como um sujeito com limitações (quer social, quer financeira, quer de saúde etc.) ou mesmo como um sujeito dependente de amparo legal desse tipo.
Antes de apresentarmos nossa análise desse registro, relacionamos um quadro-resumo com pergunta (do pesquisador) e resposta (do informante/idoso), no qual são contemplados também a característica socioeconômica de cada informante (identificado por C de cidadão/cidadã) e o local onde a entrevista foi realizada. Ao apresentarmos o local da entrevista, acreditamos deixar implícita a aleatoriedade da escolha dos informantes e o fluxo das falas dos entrevistados. Evitamos fazer entrevistas com consultas prévias por dois motivos: (i) garantir-se maior espontaneidade: ao ser interpelado de surpresa sobre um assunto que lhe diz respeito, o idoso exporia sua percepção do fenômeno com maior espontaneidade sem que houvesse um tempo maior para pensar nas implicações referentes às suas declarações; (ii) sem aviso prévio o entrevistado poderia sentir-se mais à vontade para falar. Insistimos em levar tais questões em conta, mesmo considerando pressupostos da AD, para a qual o sujeito não consegue controlar seu dizer.
C1, ao ser interpelado, demonstra conhecimento sobre o atendimento preferencial a que os idosos têm direito, e sua resposta foca pontualmente, e apenas, a perspectiva de sua relação com esse discurso, ou seja, inclui-se no grupo de idosos que necessita do amparo da lei para questões práticas da vida, ao fazer uso de transporte coletivo, sem se dispor a explicitar melhor seu comentário (nos ônibus tá regular). A forma linguística regular enunciada por C1 pode ter efeito de normalidade ou mesmo de falta de excelência no serviço prestado pelos coletivos. Todavia, ao usar a negação para descrever o quadro a que se refere, Muitos ônibus não param/não há lugar pra idoso no ponto, acusa em seu discurso o desrespeito ao direito do idoso.
o atendimento preferencial nos ônibus tá regular . Muitos ônibus não param no ponto e a preferência... não há lugar pra idoso no ponto
C3 e C4 falam da perspectiva de usuários de serviços bancários, para os quais o benefício da lei ajudaria a diminuir o tempo de espera nesses estabelecimentos.
no banco?/O público, ele gosta... eles dão apoio (C3)
eu... tem direito, por exemplo, se eu vou no banco, eu entro na fila dos idosos e, no caso de tirar a, a senha, eu pego a senha dos idosos e eu entro... (C4)
Dado o modo de enunciação de C4, infere-se que a lei não a favorece como direito conquistado em todos os espaços, como no banco, cujas regras de usufruto lhe parecem claras, já que, nos ônibus, aparece como obrigação não percebida como uma orientação justa: entidades/pessoas destinam-lhe uma atenção especial apenas por imposição legal; as entidades/pessoas só o fazem por imposição, o que justifica sua atitude de recusa em usufruir livre e continuamente desse direito. C3 não se insere no grupo de indivíduos que necessitam de transporte coletivo, daí não se referir a essa contingência. C4, ao ser questionado também sobre já ter ou não passado por constrangimento ao procurar usufruir de seu direito, insere-se no discurso religioso para expressar o alívio por, até então, não ter enfrentado situação conflituosa: não, não, não, graças a Deus, não. Também, quando perguntado se já usou seu direito, ao enunciar a negação incisivamente "nunca pensei/nunca exigi" (cf. recortes no quadro-resumo), como se naquele momento é que tivesse refletido sobre as possibilidades, e antes afirmar que "fica esperando desocupar o assento", sinaliza a não naturalidade, na prática, de efetivação desse discurso, daí seu crédito a esse discurso se dar no campo da desconfiança.
eu uso ônibus mas eu nunca usei não [a cadeira]/ ah, assim, porque se tiver um banco livre eu vou lá e sento, se não tiver, eu fico em pé, esperando desocupar / não, não, não costumo [exigir]
Se considerarmos que, em determinados horários, muitos ônibus estão cheios e são desconfortáveis, e se levarmos em conta o tempo gasto entre casa e trabalho, com trabalhadores cansados e irritados, o acesso de um idoso que vem e toma o lugar de quem não se encontra em condições assim tão favoráveis não provoca, decerto, nos rostos de alguns usuários, largos sorrisos de aprovação. Assim, a indiferença ou sisudez dos demais usuários constrange o idoso, impedindo-o, muitas vezes, de usufruir de seu direito. Se os transportes fossem melhores e mais eficientes, como casas bancárias, por exemplo, que criam um caixa especial e não obrigam os idosos a ir cortando fila, a situação seria menos conflitante.
C5 e C6, em relação aos demais entrevistados, mostram manter uma relação mais simétrica com os direitos ainda não sedimentados no imaginário e na prática social das pessoas. Por reconhecer que o discurso do atendimento preferencial ainda não está de todo estabelecido na mente e nas ações práticas das pessoas, C5 e C6 não esperam que os outros por si sós efetivem seu direito: ambos fazem, eles mesmos, valer esse direito, ao reconhecer e enfrentar a possibilidade de má vontade por parte dos demais cidadãos:
respeitam sim, sempre me dão lugar pra mim... eu sento e respeitam sim, apesar de que eu ando sempre documentada, só pra ver, né, se alguééém reclamar , é, eu tando com o instituto [estatuto=carteira] do idoso, eu tenho direito pela lei federal de entrar pela porta de trás e sair pela porta de trás, certo? Então... (C5)
olha, eu sou cara de pau , se eu vejo a fila, vou direto para a que tenho direito, se tiver que passar a frente, passo ... e, olha, eu sou sincero, porque eu tô gostando, que no meu tempo de mais novo não tinha isso , o velho ficava numa fila comum, dava uma dó tremenda na gente...(C6)
C5 e C6, como sugerido pelas partes destacadas na materialidade linguística recortada para análise, apesar de elogiarem o procedimento dos que contribuem na prática para o cumprimento da lei, remetem os interlocutores, em seu discurso, aos contradiscursos pressupostos pela ameaça de não cumprimento dessa lei. C6, ao ser questionado se já sofreu constrangimento ao tentar usufruir de seu direito, ampara-se no discurso religioso como modo de agradecimento pela proteção que a lei de fato não lhe assegura sem tensões (não, por enquanto, graças a Deus, não,). Ao temporalizar sua negação pelo modalizador por enquanto, mais indícios aparecem em seu discurso sobre a insegurança em que a lei ainda flutua na prática social. Bastante significativa para nossa tese também é a afirmação de C5 ao dizer que, para defender seus direitos, precisa ser cara de pau, expressão linguística associada, a depender do contexto enunciativo, a comportamento grosseiro ou inadequado, no sentido de inaceitável. Quem se sente legitimado em um direito não carece de imaginar-se ou de projetar-se desse modo em tais condições. Ambos posicionam-se, desse modo, como sujeitos afetados pelas coerções sócio-históricas, mas assumindo-se também como sujeitos capazes de se contrapor às pressões que o meio lhes impõe, ousando fazer valer sua voz na arena discursiva, por meio da forma que lhes parecer possível.
C2 é a voz que, na materialidade linguística manifesta mediante a entrevista, articula sem rodeios, como se pode conferir nos excertos negritados, alguns dos conflitos, por nós observados no cotidiano, que suscitaram a presente pesquisa. Dada a posição social que deve ocupar por sua formação cultural e por sua recusa em ser passivamente foco de preconceito contra a faixa etária a que tem noção de pertença, em meio às contradições sociais, C2 é taxativo ao manifestar seus conflitos identitários, acusando o contradiscurso implícito no interdiscurso que perpassa o discurso do atendimento preferencial dirigido ao idoso, apesar de enunciar como se o referente em pauta fosse algo ou alguém sempre fora dele mesmo (do sujeito que enuncia):
Olhe, eu sou contra o atendimento preferencial . Acho que, se houvesse respeito pelas pessoas, o idoso também seria respeitado, sem precisar de amparo de lei oficial /Porque sempre há um constrangimento para o idoso que usa o atendimento preferencial.
Ao enunciar que é contra o atendimento preferencial, C2 opõe-se não ao atendimento preferencial em si, mas ao modo como muitas vezes é praticado ou às consequências desagradáveis que vivencia quem, em certas condições, a ele apela ou dele tenta beneficiar-se: Porque há sempre um constrangimento para o idoso que usa o atendimento preferencial. No discurso de C2 não há modalização que sugira ausência de constrangimento, muito ao contrário, ele é dado como certo, como sempre presente. Quem a ele (atendimento preferencial) apela o faz por força da necessidade, quem dele tenta beneficiar-se arrisca tomá-lo como naturalmente acessível, garantido como direito, mas as experiências de muitos beneficiários nem sempre corroboram o apagamento dos conflitos, contraditoriamente, alimentados com a instauração da lei.
Em síntese, nossa investigação partiu da hipótese de que o usufruto do atendimento preferencial por parte do sujeito-idoso não se dá de forma pacífica, mesmo com a sanção da lei. É algo que precisa ser incorporado no dia a dia pela sociedade, num esforço contínuo, para que se evitem os constrangimentos denunciados explícita ou implicitamente por idosos, a exemplo dos que foram por nós entrevistados.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa investigação, pautada em dispositivos teóricos da AD materialista, procurou refletir sobre os efeitos de sentido da noção de atendimento preferencial, em relação aos idosos, presente no Estatuto do Idoso. Para tanto, buscou o(s) outro(s) lugar(es) onde o discurso do atendimento preferencial viceja, procurando compreender os efeitos dessa metáfora discursiva, ou seja, como o(s) sentido(s) transferido(s) de um contexto de enunciação a outro desloca(m)-se, produzindo efeito de sentido novo, considerando-se aqui os acontecimentos enunciativos como uma prática linguístico-discursivo-sócio-histórica.
Os mecanismos de abordagem aqui mobilizados permitiram-nos analisar efeitos de sentido do discurso do atendimento preferencial produzidos em contextos enunciativos distintos, apontando de que forma a sociedade assimila, em outros contextos, como natural esse discurso em relação às pessoas de classes sociais já favorecidas, ao contrário do que ocorre em relação aos idosos, principalmente aqueles menos favorecidos economicamente, o que reforça a interpretação de que a emergência do Estatuto se dá como forma de enfrentar mais uma das várias discrepâncias da vida em sociedade, pois nem todo idoso se identifica como aquele que carece desse amparo institucional específico.
Ao observarmos, no dia a dia, a situação do idoso mais desamparado socialmente e suas queixas em filas de banco, do INSS, de hospitais ou de outras instituições públicas (ou privadas) de atendimento à população, ou ainda quando reivindicam o direito de assento reservado em ônibus e/ou de gratuidade de locomoção nesses veículos, por exemplo, é perceptível o constrangimento por que muitos deles passam, nessas ocasiões, para usufruir-se do direito ao atendimento preferencial, como reza a lei.
Tais cenas manifestam como a prática social não reconhece pacificamente, nem de fato nem de direito, o direito que ao idoso cabe, pois enquanto o atendimento preferencial não se naturalizar em relação a eles como algo legítimo (ou a questão seria de se desestabilizar o imaginário que ainda desprestigia a figura do idoso em nossa sociedade?), muitos constrangimentos essa categoria ainda padecerá para poder gozar verdadeiramente de seus direitos. Mas estamos pontuando aqui principalmente uma parcela (ou uma considerável parcela) dessa faixa etária em processo natural de envelhecimento, a saber, a parcela que não goza de privilégios sociais ou econômicos, pois é esta parcela mais vulnerável que enfrenta todo tipo de preconceito atribuído ao cidadão idoso. Se é direito adquirido, o idoso não deveria sofrer constrangimento ao/para usufruir dele.
Desse modo, a existência da lei ainda aponta para os discursos que circundam negativamente o universo da velhice a lentidão, a improdutividade na contramão de uma sociedade que preconiza a qualidade total, o melhor empenho, o maior lucro, o menor tempo. Na cultura capitalista, o idoso, mormente o idoso com limitações financeiras ou sociais, é projetado como um entrave, como o que toma o lugar do ágil, que, por sua vez, tem efeito de aquele que faz o que a sociedade espera, que produz, que tem pressa para fazer mais e mais eficientemente. Nessa relação de poder, nem sempre o fato de o idoso ser aquele que tem mais experiência (e, por isso, pode ser mais útil, mais eficiente que o jovem em determinadas funções) recebe a devida consideração.
Numa cultura menos agressiva do ponto de vista econômico ao contrário da cultura contemporânea, que ainda negativiza o valor humano da pessoa em processo natural de envelhecimento, processo, aliás, evocado com nuances bastante pessimistas e determinísticas em versos de Cecília Meireles (Retrato): Eu não tinha este rosto de hoje/ assim calmo, assim triste, assim magro,/Eu não tinha estas mãos sem força/tão paradas e frias e mortas/[...]/Eu não dei por esta mudança,/tão simples, tão certa, tão fácil não haveria a exclusão desse segmento social (de pessoas idosas). Não haveria uma lei para dizer o que é justo ou injusto em relação ao idoso, mormente em relação ao idoso mais vulnerável socialmente: em vez de naturalizado o preconceito e todas as ações opressoras e injustas decorrentes dele, seria naturalizada a delicadeza com os sujeitos fisicamente (ou ainda psicologicamente) mais frágeis que, por imposições de ordem biológica, podem ter, em determinada fase da vida, um outro ritmo, um outro modo de estar no mundo. Entretanto, como as sociedades não se organizam sem interesses de classe, sem instauração de poder assimétrico, as disputas estabelecidas, implícita ou explicitamente nos embates discursivos, não podem ser apagadas nas posições-sujeito que se manifestam a favor ou contra instrumentos institucionais que visem a tentar minimizar, com ou sem eficiência, as discrepâncias econômicas e sociais nas quais os sujeitos-cidadãos se veem construídos e por elas constituídos. O que anima é saber que a resistência ao discurso discriminatório é possível e resulta em mudanças, mesmo que nem sempre manifestas de modo evidente e satisfatório.
Recebido em: 17/09/12.
Aprovado em: 24/07/13.
- AUTHIER-REVUZ, J. Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
- BAKHTIN, M. Estética da criação verbal Trad. M. Ermantina G. G. Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997a.
- BAKHTIN, M. (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem 8. ed. São Paulo: Hucitec, 1997b.
- BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 10. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- BRANDÃO, H. H. N. Introdução à Análise do Discurso 8. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
- BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil São Paulo: Síntese, 2002. 383 p.
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal: Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003a. 382p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso Brasília: Ministério da Saúde. Editora MS, 2003b.
- CAMARGO, A. N. A imagem do sujeito no discurso publicitário de automóveis. In: ENCONTRO DO CÍRCULO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS DO SUL, 6., 2004, Florianópolis, SC. MIOTO, C. et al. (Orgs.). Anais... Florianópolis, Celsul, 2006. Disponível em: <http://www.celsul.org.br/Encontros/06/Individuais/17.pdf>
- CASTRO, G.; OLIVEIRA, C. de. O discurso da responsabilidade social nas empresas contemporâneas: valorização da humanização das marcas nas campanhas publicitárias. Revista Comunicação Midiática, São Paulo, v.7, n.1, p. 173-191, jan./abr. 2012.
- DUCROT, O. Dizer e não dizer. Princípios de semântica linguística. São Paulo: Cultrix, 1977.
- ______. (1969) Pressupostos e subentendidos: A hipótese de uma semântica linguística. In: ______. O dizer e o dito Campinas: Pontes, 1987.
- FLORES, V. do N.; TEIXEIRA, M. Introdução à linguística da enunciação São Paulo: Contexto, 2005, p. 73-87.
- GRIGOLETTO, M. A resistência das palavras: discurso e colonização britânica na Índia. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
- LAGAZZI, S. A equivocidade na imbricação de diferentes materialidades significantes In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL, 23, 2008, Goiânia, GO. Resumo expandido. Goiânia, Anpoll, 2008. p.1-3. Disponível em < http://dlm.fflch.usp.br/sites/dlm.fflch.usp.br/files/Suzy%20Lagazzi.pdf> Acesso em jul. 2012.
- ______. A equivocidade na circulação do conhecimento científico. Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 11, n. 3, p. 497-514, set./dez. 2011.
- MARIANI, B. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais (1922-1989). Rio de Janeiro: Revan; Campinas: Editora da Unicamp, 1998.
- MESTRINELLI, T. F. A argumentação do tipo apolíneo e do tipo dionisíaco em texto publicitário de revista: a tese de adesão inicial em frase-título. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (INTERCOM), 31., 2008, Natal-RN. Anais... Natal, Intercom, 2008. p.1-12.
- MUSSALIM, F. Análise do discurso. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Linguística v. 2: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. p.101-141.
- ORLANDI, E. P. Discurso & leitura 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
- ______. (Org.). A leitura e os leitores Campinas: Pontes, 1998.
- ______. Análise do discurso – princípios e procedimentos. 5. ed. Campinas: Pontes, 2003.
- PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. 5. ed. Campinas: Pontes, 2008.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Set 2013 -
Data do Fascículo
Ago 2013
Histórico
-
Recebido
17 Set 2012 -
Aceito
24 Jul 2013