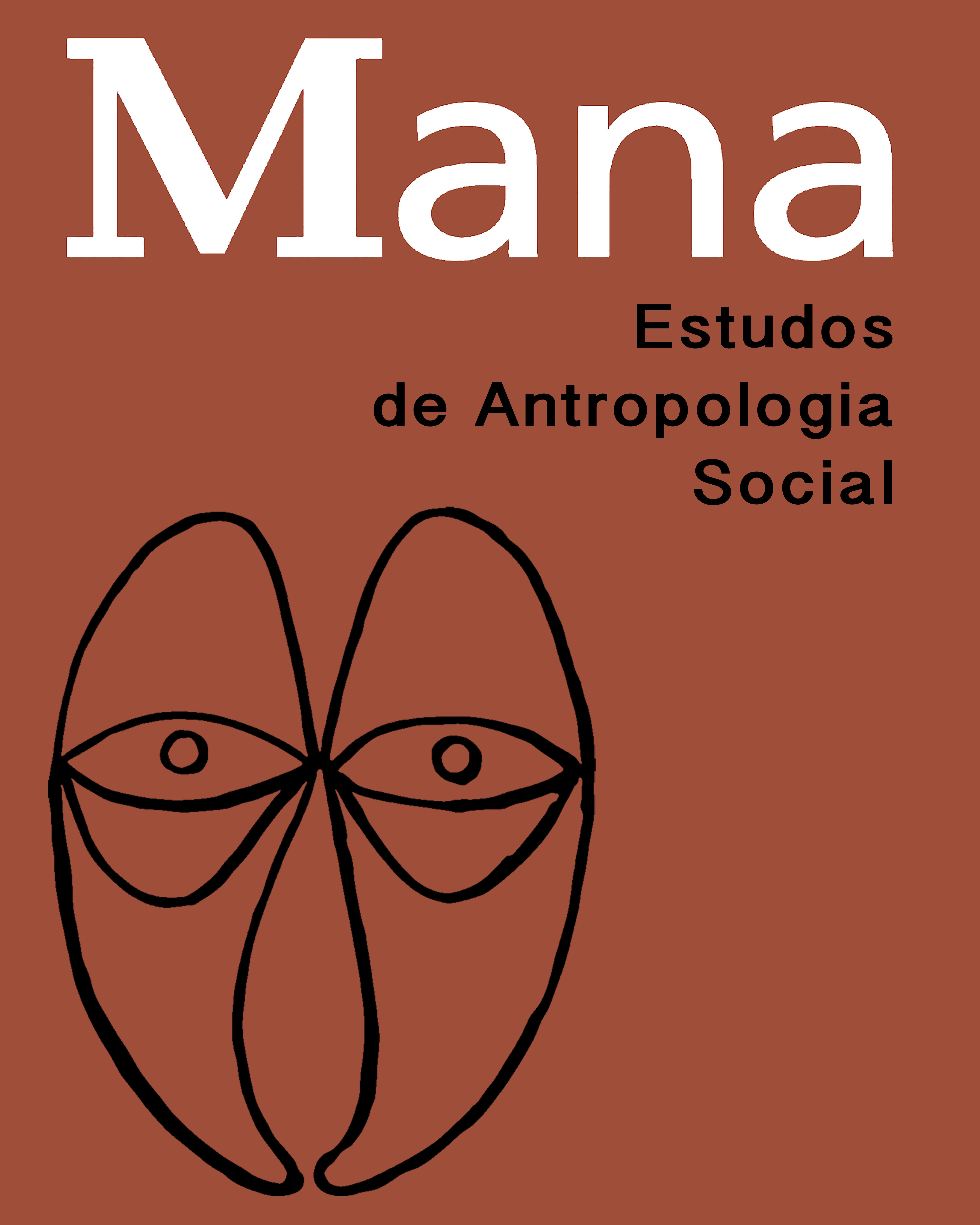Resumo
A tese de Louis Herns Marcelin tem sido relida por mim em um contexto de pesquisa sobre violência e conflitos por terra em comunidades tradicionais de Pinhão, Paraná. Neste trabalho, reflito sobre a noção de “configuração de casas” e as questões que suscita para um campo onde casas são indissociáveis de terras e de lutas por terras. Levando em consideração a centralidade que as mães e suas atividades assumem na produção dessas configurações, problematizo os modos com que Marcelin aborda as relações de gênero no Recôncavo Baiano. Busco assim elaborar um diálogo entre a discussão do autor, as experiências das mães que vivem os conflitos em Pinhão e as etnografias recentes sobre gênero, maternidade, violência e terra no Brasil.
Palavras-chave:
Configuração de casas; Terra; Conflito; Gênero
Resumen
La tesis de Louis Herns Marcelin ha sido releída por mí en un contexto de investigación sobre la violencia y los conflictos por la tierra en las comunidades tradicionales de Pinhão, Paraná. En este trabajo, reflexiono sobre la noción de "configuración de casas" y las preguntas que esto suscita al pensar en un campo donde las casas son inseparables de la tierra y de las luchas por la tierra. Teniendo en cuenta la centralidad que las madres y sus actividades asumen en la producción de estas configuraciones, problematizo algunas de las formas en las que Marcelin aborda las relaciones de género en el Recôncavo Baiano. Por lo tanto, busco desarrollar un diálogo entre la discusión del autor, las experiencias de las madres que viven los conflictos en Pinhão y etnografías recientes sobre género, maternidad, violencia y tierra en Brasil.
Palabras clave:
configuración de casas; tierra; conflicto; género
Abstract
Louis Herns Marcelin’s Ph.D. thesis has been a key source of inspiration for my work with traditional communities, land conflicts, and violence in Pinhão, Paraná. In this article, I reflect on the notion of “house configuration” and the questions that it raises for my fieldwork, where houses are inseparable from lands and from land struggles. Considering the importance of mothers and their activities for these configurations, I intend to engage Marcelin’s approach to gender relations in the Recôncavo Baiano. I aim to build a conversation between the author’s argument, the experiences of mothers who live through land conflicts in Pinhão, and recent ethnographies of gender, motherhood, violence, and land in Brazil.
Keywords:
house configuration; land; conflict; gender
A tese de Louis Herns Marcelin (1996MARCELIN, Louis Herns. 1996. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.) tem sido relida por mim em um contexto de pesquisa sobre violência e conflitos por terra em comunidades tradicionais de Pinhão, Paraná. As casas, lugares onde passo a maior parte do tempo em meu trabalho de campo, são expressão da terra enquanto lugar de determinada(s) família(s) e de criação da vida social. Elas são entidades vivas, que demandam cuidados, incorporam pertencimentos e historicidades. Suas formas e transformações traduzem as territorialidades daquelas comunidades e dos movimentos sociais em que se organizam a fim de ocupar, reocupar e reivindicar terras. Assim, as casas são também manifestos e lugares por onde a luta pela terra se realiza, o que as torna alvos, sempre ameaçados de destruição e violação - seja por meio de despejos, incêndios, tiros, ou das mortes de membros da família. Essas vivências dos conflitos através das casas são enfatizadas especialmente pelas mulheres, o que tem me levado a refletir sobre os modos com que o gênero compõe a terra em disputa e as próprias experiências de violência.
Na etnografia de Marcelin, a casa representa um modo de habitar o mundo e constituir pessoas, sendo assim o ponto de partida da família e da organização social. Para além de refletir sobre as oposições que estruturam a residência e seus cômodos, o autor enfatiza as condições de gênese da casa, levando em consideração valores correspondentes a um contexto de dominação. Trata-se, afinal, de famílias negras em um país cuja colonização teve como base a escravização de africanos e de seus descendentes, legitimada por um ideário racista que persiste e que adquire concretude na negação de direitos básicos, no impedimento de acesso a empregos e salários, no alto índice de homicídios. Embora os conflitos por terra no Brasil e no interior do Paraná impliquem as relações raciais e o racismo, ainda não me dediquei a pensar as casas camponesas em Pinhão através dessa lente. Mesmo assim, a perspectiva de Marcelin se torna uma importante fonte de diálogo etnográfico à medida que, em meu campo, as casas são forjadas segundo formas de colonização, apropriação e acumulação da terra que também envolvem a violação de corpos e modos de viver.
De acordo com Marcelin (1996:80MARCELIN, Louis Herns. 1996. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.):
[...] a casa como construção física não é separada dos corpos que a habitam ou que nela transitam, nem das redes de pessoas que a modelam. Essas redes de pessoas no seio de uma casa constituem redes domésticas na unidade social (Stack 1974) e física que é a casa.1 1 O autor faz referência à autora Carol Stack e sua obra All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community (1974). Essas redes domésticas que se constroem na dinâmica da casa e em sua cosmologia são, por sua vez, ligadas a uma dinâmica de redes de casas, interligadas umas às outras. A casa, nesse contexto analítico e sociocultural, é pensada como um processo, inseparável da permanente construção dos laços que se traduzem em termos de parentesco.
O autor chama essas redes de “configuração de casas” (:81), processos relacionais entre agentes familiares oriundos e membros de diferentes casas, através dos quais a vida doméstica se realiza. Marcelin questiona a pertinência da noção de “grupo doméstico” para se compreenderem aquelas famílias, já que tanto elas quanto a domesticidade são continuamente tecidas em rede, a casa não correspondendo a uma entidade fechada, e seus membros não se limitando aos seus moradores permanentes.
Entre campesinatos e comunidades tradicionais, a criação e a circulação contínua de pessoas através da casa e de suas redes implicam um processo de constituição da própria terra. A etnografia de Marcelin e as críticas teóricas que suscita me incitam a realizar o mesmo movimento analítico para a família camponesa, reconhecendo o dinamismo e o caráter processual das casas, as quais compõem terras com múltiplas qualidades (terrenos, lotes, fazendas, posses, acampamentos, assentamentos, faxinais, rocios), e que são também lares. O conceito de configuração de casas permite, assim, redimensionarmos a terra como ente constituído por tramas relacionais e por movimentos de pessoas, que fazem com que esteja em constante formação e articulação com outras terras.
Ao observar essa relacionalidade e os arranjos entre casas, Marcelin se recusa a estabelecer limites prévios para a família, replicando assim as concepções de seus interlocutores sobre as diferentes formas que o coletivo familiar adquire e que exprimem nos princípios do “sangue” e da “consideração”. As múltiplas conformações da “família” e suas manifestações territoriais são abordadas também por Ana Claudia Marques (2002MARQUES, Ana Claudia. 2002. Intrigas e questões: vingança de família e tramas sociais no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume-Dumará .), John Comerford (2003COMERFORD, John. 2003. Como uma Família: Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo Rural. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.) e Jorge Villela (2004VILLELA, Jorge Mattar. 2004. O povo em armas: violência e política no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume Dumará.). Nesses trabalhos, são os conflitos que produzem tal relacionalidade, fazendo, desfazendo e refazendo as famílias e seus laços com os lugares onde vivem, dando assim novos sentidos à trama de parentes.
Em Pinhão, a casa é o lugar de realização de uma luta pela terra que é feita e vivida em família. Essa luta se constituiu em oposição a uma madeireira que, entre os anos 1940 e 1970, titulou em seu nome boa parte do interior do município. As famílias que viviam naquelas áreas foram pressionadas a assinar contratos, nos quais se reconheciam moradoras da empresa. Outras conseguiram trabalho junto à firma e se mudaram para as casas de suas serrarias e fazendas, tornando-se também suas moradoras. Entre esses funcionários que recebiam casas para morar com suas famílias estavam os guardas ou jagunços, vigilantes armados contratados para controlar os sujeitos que viviam nas terras adquiridas pela empresa. Suas principais tarefas eram restringir atividades produtivas e o acesso a caminhos, cobrar o arrendo e demarcar, com sua presença, a propriedade da terra. Muitos jagunços eram nascidos em Pinhão e tinham vínculos com as comunidades que deveriam vigiar, ou acabavam por estabelecer relações de amizade e parentesco com as famílias de posseiros. Esses laços eram possibilitados por uma proximidade que ensejava conversas, trocas de alimentos, ajudas em situações de trabalho e saúde - atos que eram muitas vezes realizados nas casas e que incluíam mulheres e crianças.
O processo de apropriação e acumulação levado adiante pela madeireira implicou um rearranjo dos modos de habitar e das redes de lares e parentes em Pinhão. Pessoas, terras e comunidades passaram a ser constituídas também pelas relações com a empresa, fossem elas de aliança ou contraposição. Assim, dentro de uma mesma família, era possível encontrar sujeitos que eram ameaçados por jagunços, outros que trabalhavam para a madeireira esporadicamente ou mesmo moravam em uma de suas casas, e outros que atuavam efetivamente como guardas. Boa parte dos assassinatos e das ameaças de morte ocorriam dentro dos terrenos familiares ou nas estradas que ficam em suas imediações. Além disso, casas poderiam ser vigiadas, alvejadas, ou mesmo queimadas, deixando de existir. Famílias podem, ainda, ser despejadas, o que implica a derrubada de suas casas.
A noção de configuração de casas nos convida então a refletir sobre como essas violações da casa e dos seus moradores reverberam sobre uma rede mais ampla de terras que são também lares. Tiros disparados contra uma casa podem ter partido da arma do compadre de um familiar que vivia em outra comunidade, onde trabalhava para a madeireira. Ou um jagunço que ameaçava um posseiro de morte poderia ser um primo distante, mas morador da mesma comunidade. Ou o jagunço que tentava tirar famílias das terras adquiridas pela empresa buscava, na verdade, colocar seus próprios familiares naquelas terras. Se, como argumenta Veena Das (2007DAS, Veena. 2007. Life and words: violence and the descent into the ordinary. Berkeley: University of California Press.), a violência é incorporada ao cotidiano como um conhecimento venenoso, que perturba as relações, essa incorporação se dá não só sobre os moradores da casa que sofre ameaças, mas se espraia pela “configuração”.
As histórias de violação, destruição, queima de casas e assassinatos nos conflitos em Pinhão foram muitas vezes problematizadas por minhas interlocutoras como experiências de mães, que lutam para serem reconhecidas como donas das terras onde vivem. A meu ver, Marcelin também está falando de um trabalho cotidiano de enfrentamento e criação do mundo feito pelas mães. Em sua tese, o parentesco entra no mundo pela mãe. Porém, a criação das crianças é realizada nos termos de uma ética coletiva, através da qual uma mãe é mãe de todas as crianças. A maternidade é assim matéria de engajamento público, constitutiva de uma domesticidade que não se restringe a uma esfera privada da existência. Além disso, nas casas onde os homens não estão presentes, os papéis geralmente designados a eles - como sustentar a casa e seus membros e responder por eles publicamente - passam a ser feitos pelas mulheres.
A maternidade e as agências das mulheres na produção de suas comunidades têm sido abordadas por antropólogas brasileiras que, recentemente, vêm discutindo as imbricações entre a casa e as políticas da terra em comunidades camponesas e quilombolas, como Ana Carneiro Cerqueira (2017CERQUEIRA, Ana Carneiro. 2017. “‘Mulher é trem ruim’: a ‘cozinha’ e o ‘sistema’ em um povoado norte-mineiro”. Estudos Feministas, 25 (2):707-731.), Yara Alves (2016ALVES, Yara de Cássia. 2016. A casa raiz e o voo de suas folhas: família, movimento e a casa entre os moradores de Pinheiro - MG. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.), Daniela Perutti (2015PERUTTI, Daniela. 2015. Tecer amizade, habitar o deserto: Uma etnografia do quilombo Família Magalhães (GO). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.), Graziele Dainese (2020DAINESE, Graziele. 2020. “Trabalhos, ajudas e gênero: um olhar desde as experiências das mulheres da Terceira Margem - Minas Gerais, Brasil”. In: Hernán M. Palermo & María Lorena Capogrossi, Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo. Buenos Aires: CLACSO, CEIL; CONICET; CIECS. pp. 1213-1246.). Nessas etnografias, a cozinha emerge como lugar de criação dos corpos, do parentesco e de intervenção social; a casa é um lugar estabilizado pelo trabalho da mãe; as atividades nomeadas ajudas - que por tanto tempo foram vistas como complementares e subordinadas ao trabalho dos homens - correspondem a um espaço produtivo de autonomia das mulheres, no qual elas tecem relações. Essas autoras nos desafiam a transcender as oposições público/privado, doméstico/político, produção/reprodução que estão no cerne dos estudos clássicos de parentesco e contribuíram para uma naturalização das mulheres e da maternidade - como o próprio Marcelin critica em sua tese.
Se em Marcelin a função de prover o lar pode ser desempenhada por homens e mulheres, é no domínio da maternidade e da sexualidade que as representações e a normatividade de gênero atuam na atribuição de responsabilidades e campos de experiência diferenciados. Conforme o autor, a representação da mãe como uma espécie de “deusa do lar”, que possibilita a casa e a domesticidade, exprime um ideal de feminilidade. O pai e a mãe precisam prover o lar, mas em sentidos diferentes. À mãe cabe a criação dos filhos. Além disso, enquanto é aceitável que os homens tenham relações sexuais fora dos seus casamentos, a sexualidade feminina “só pode se exprimir nos limites da união, uma vez que o homem preencha suas condições de marido, quer dizer, as de provedor, de protetor, de responsável” (Marcelin 1996:224). Em Pinhão, o desempenho da maternidade e da sexualidade é levado em conta nas narrativas que as mulheres fazem sobre as violências vividas nos conflitos por terra (Ayoub 2014AYOUB, Dibe. 2014. “Sofrimento, tempo, testemunho: expressões da violência em um conflito de terras”. Horizontes Antropológicos, 20 (42):107-131., 2018AYOUB, Dibe. 2018. “Land as Home: Women, Life and Violence in Land Conflicts”. Vibrant, 15 (3):1-19.). Há aqui algo próximo ao que Adriana Vianna e Juliana Farias (2011VIANNA, Adriana & FARIAS, Juliana. 2011. “A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional”. Cadernos Pagu, 37:79-116.) e Paula Lacerda (2012LACERDA, Paula Mendes. 2012. O “Caso dos meninos emasculados de Altamira”: Polícia, Justiça e Movimento Social. Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.) observam em seus trabalhos sobre violências vividas por mães cujos filhos foram assassinados: ao produzirem denúncias, essas mulheres levam suas casas e a maternidade para o centro de sua ação política. Agenciamentos de mães e problematizações da maternidade em situações de morte dos filhos também são observados por Eugênia Motta (2020MOTTA, Eugênia. 2020. “Uma casa boa, uma casa ruim e a morte no cotidiano”. Etnográfica, 24 (3):775-795.), que discute ainda a incorporação da violência pela casa.
Ao narrarem experiências de assassinato e queimas de casas, as mulheres de Pinhão reconhecem e avaliam lares e mães que guardam diferenças entre si, distinções que são também atravessadas pelos vínculos que guardam com a terra, pelas “configurações” que compõem essas terras-lares, pelas relações com os maridos, os lugares por onde circulam, as maneiras com que criam seus filhos, se têm relações com outros homens. Assim, uma questão que emerge do meu diálogo com Marcelin diz respeito ao tratamento dado às categorias “mãe” e “mulher”, concebidas pelo autor no singular, o que, a meu ver, pode contribuir para sua naturalização. A mãe é a representação de um ideal de feminilidade, mas a maternidade é também uma ética coletiva. Se as mães são mães de todas as crianças, como essas mulheres se diferenciam entre si? Todas as mães detêm a mesma autoridade e prestígio? Outra questão diz respeito à dicotomia público/privado e à sua permanência, quando, por exemplo, Marcelin afirma que a história da família de Dona Conceição é a história de uma luta permanente para se construir um domínio privado a partir do que lhes é oferecido no público (:231-232). As noções de público e privado dão conta da domesticidade que é produzida por essas famílias? Qual o conteúdo disso que se nomeia público e privado, e como diferenciar e separar esses âmbitos? Não seria essa diferenciação um pressuposto de teorias ocidentais que concebem a vida social a partir de uma lente que exclui as experiências de famílias negras e pobres e, sobretudo, das mulheres?
Talvez uma das maiores contribuições que Marcelin traz à antropologia seja o compromisso político que assume em seu projeto de conhecimento. Em sua etnografia, o autor se contrapõe a abordagens que, partindo de prenoções europeias, racistas e elitistas, insistiam em classificar as famílias afro-americanas como anômicas, incompletas, problemáticas. Ao descrever as experiências das famílias de Cachoeira, ele desvela um modo complexo de habitar e de produzir família em uma situação de dominação, e uma teoria etnográfica da casa e do parentesco. Minuciosa, a tese de Marcelin não se limita às perspectivas e aos conceitos de sua época. Não é à toa que, 25 anos depois de defendida, continua suscitando novos olhares e diálogos por parte de diversas pesquisadoras e diversos pesquisadores, com os mais variados interesses.
Referências bibliográficas
- ALVES, Yara de Cássia. 2016. A casa raiz e o voo de suas folhas: família, movimento e a casa entre os moradores de Pinheiro - MG Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.
- AYOUB, Dibe. 2014. “Sofrimento, tempo, testemunho: expressões da violência em um conflito de terras”. Horizontes Antropológicos, 20 (42):107-131.
- AYOUB, Dibe. 2018. “Land as Home: Women, Life and Violence in Land Conflicts”. Vibrant, 15 (3):1-19.
- CERQUEIRA, Ana Carneiro. 2017. “‘Mulher é trem ruim’: a ‘cozinha’ e o ‘sistema’ em um povoado norte-mineiro”. Estudos Feministas, 25 (2):707-731.
- COMERFORD, John. 2003. Como uma Família: Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo Rural Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
- DAINESE, Graziele. 2020. “Trabalhos, ajudas e gênero: um olhar desde as experiências das mulheres da Terceira Margem - Minas Gerais, Brasil”. In: Hernán M. Palermo & María Lorena Capogrossi, Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo Buenos Aires: CLACSO, CEIL; CONICET; CIECS. pp. 1213-1246.
- DAS, Veena. 2007. Life and words: violence and the descent into the ordinary Berkeley: University of California Press.
- LACERDA, Paula Mendes. 2012. O “Caso dos meninos emasculados de Altamira”: Polícia, Justiça e Movimento Social Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- MARCELIN, Louis Herns. 1996. A invenção da família afro-americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do Recôncavo da Bahia, Brasil Tese de Doutorado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- MARQUES, Ana Claudia. 2002. Intrigas e questões: vingança de família e tramas sociais no sertão de Pernambuco Rio de Janeiro: Relume-Dumará .
- MOTTA, Eugênia. 2020. “Uma casa boa, uma casa ruim e a morte no cotidiano”. Etnográfica, 24 (3):775-795.
- PERUTTI, Daniela. 2015. Tecer amizade, habitar o deserto: Uma etnografia do quilombo Família Magalhães (GO) Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.
- VIANNA, Adriana & FARIAS, Juliana. 2011. “A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional”. Cadernos Pagu, 37:79-116.
- VILLELA, Jorge Mattar. 2004. O povo em armas: violência e política no sertão de Pernambuco Rio de Janeiro: Relume Dumará.
Nota
-
1
O autor faz referência à autora Carol Stack e sua obra All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community (1974).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Set 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
16 Jul 2021 -
Aceito
17 Jul 2021