Resumo
Este artigo discute o percurso de busca e interação através do Tinder, aplicativo voltado à procura on-line por relacionamento íntimo. Com base em um estudo etnográfico acerca das experiências afetivo-sexuais de usuários e usuárias, serão enfocadas três dimensões neste percurso: como as pessoas se mostram (o perfil), como elas escolhem o outro (a seleção) e como começam a se relacionar on-line (a conversa). Através delas propõe-se observar especificidades do uso ligadas ao agenciamento tecnológico, à experimentação de si e aos vaivéns comunicacionais como traços marcantes da experiência possibilitada pelo aplicativo.
Palavras-chave:
Tinder; Experiência; Relacionamento afetivo-sexual
Resumen
Este artículo discute el camino de la búsqueda y la interacción a través de Tinder, una aplicación enfocada en la búsqueda on-line de relaciones íntimas. Basándose en un estudio etnográfico sobre las experiencias sexo-afectivas de los usuarios, se abordarán tres dimensiones en este camino: cómo se muestran las personas (el perfil), cómo eligen al otro (la selección) y cómo empiezan a relacionarse on-line (la conversación). A través de ellas se propone observar las especificidades de uso vinculadas a la agencia tecnológica, la experimentación de si y a los vaivenes en la comunicación como características destacadas de la experiencia que posibilita la aplicación.
Palabras clave:
Tinder; Experiencia; Relación sexo-afectiva
Abstract
This article discusses the process of searching and interacting through Tinder, a mobile dating app. Based on an ethnographic study of the affective-sexual experiences of its users, three dimensions of this process will be focused: how people present themselves (the profile), how they seek a partner (the selection), and how they begin to relate online (the conversation). Through these three dimensions, I observe the specificities of how the app is used, linked to technological agencying, experimentations of the self and communicative back and forth as important features of the experience made possible by the application.
Keywords:
Tinder; Experience; Affective-sexual relationship
Introdução
“Porque, afinal, as pessoas estão mais aqui nesse veículo do que na rua, hoje em dia. E se estão na rua, estão com isso aqui, dentro deles”, disse-me João1 1 João e todos os/as demais interlocutores/as citados/as tiveram seus nomes alterados. (39 anos, músico), numa conversa. Ele se referia ao celular, aparelho hoje massificado e que reconfigurou nosso cotidiano. Para Jair Ramos (2015:61RAMOS, Jair. 2015. “Subjetivação e poder no Ciberespaço: da experimentação à convergência identitária na era das redes sociais”. Vivência, 45:57-76.), a junção do Wi-Fi, das redes de dados e dos smartphones produziu “a máxima integração desse sujeito individualizado em uma rede ampla onde ele passa a desenvolver uma grande parcela de suas ações significativas”. Através dele acessamos conversas, notícias, compras... sexo, afetos.
A dinamicidade desses aparelhos é experienciada através dos aplicativos para dispositivos móveis (apps), programas que funcionam como ferramentas de acesso a serviços e de gestão da vida. Dentre os apps, este artigo tratará dos usos daqueles voltados especialmente para a busca de parceiros afetivos, sexuais ou amorosos: os apps de paquera.2 2 Usarei como sinônimo os termos apps de encontro, de paquera, de namoro e de relacionamento, denominações corriqueiras para tais programas. Populares no país a partir da década de 2010, tais programas combinam processamento algorítmico, geolocalização3 3 Recurso móvel de localização geográfica em tempo real por meio do GPS - Sistema de Posicionamento Global. Permite que os aplicativos acessem sua localização, possibilitando tanto ao usuário detectar locais do seu interesse - tomando como referência a sua própria localização ou outra por ele especificada - como possibilitando que outros o localizem. O recurso está presente em diversos programas para mobile, destinados a encontrar comércios, ruas, pessoas etc. e indicadores pessoais para que os/as usuários/as procurem pessoas para se relacionar. A geolocalização lhes confere um diferencial tecnológico em relação aos demais ambientes digitais para fins de relacionamento (chats, sites, outras redes sociais), pois possibilita a rápida procura de parceria, bastando ter um mobile conectado à internet.
Como se vivencia a socialidade e a intimidade através dessas tecnologias comunicativas? A partir desta questão, entre 2016 e 2017 realizei um estudo etnográfico sobre as experiências de usuários e usuárias do app de relacionamento Tinder, focalizando como ele se situava em suas relações de sociabilidade e vivência da intimidade.4 4 A pesquisa foi desenvolvida durante o curso do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do prof. Dr. Mauro Guilherme Pinheiro Koury, intitulada Curtir ou não curtir: experimentações a partir do Tinder. Verifiquei que, para aquelas pessoas, o Tinder figurou como uma alternativa a mais e um meio ativo nos devires da busca pelo outro. Entre vários fatores, a busca articulava expectativas de afinidade e reciprocidade, valorização da autonomia e da escolha, além de dimensões da experimentação de si, do outro e do próprio artefato tecnológico.
Tendo por base discussões fomentadas na pesquisa, neste artigo apresentarei alguns aspectos que apontam para especificidades no percurso da busca e da descoberta do outro relacional através desse aplicativo, que indicam um jogo caracterizado por idas e vindas comunicacionais, enquadres nas limitações e nas potencialidades da plataforma e experimentações da sedução, da negociação, da descoberta de si, do outro e da própria tecnologia, dimensões que serão pontuadas ao longo do texto. Esse jogo relacional será apresentado em três dinâmicas: a montagem do perfil no aplicativo, a escolha do outro relacional e a conversa on-line. Essas dinâmicas são operações necessárias para estar no Tinder. Em separado, elas foram citadas por quem vivenciou o aplicativo como práticas correntes no cotidiano daquela experiência; articuladas, elas mostram o processo mesmo de aprendizado sobre os modos de ser e fazer constitutivos daquele meio. Daí a opção por estruturar o artigo ao redor delas,5 5 Deixo de lado, assim, uma discussão sobre os encontros - outra dimensão da experiência proporcionada pelo app, e que demarca a saída do on-line para o off-line. Interessante comentar que o encontro presencial, apesar de ser uma finalidade identificada pelos idealizadores do aplicativo, nem sempre ocorre - e, em alguns casos, não faz parte dos objetivos de quem está usando o programa. porém pensando-as para além de uma divisão hermética, mas enquanto práticas e fluxos que se entrecruzam.
Nas descrições e nas análises que seguem, tento me afastar de concepções que assinalam os usos das novas tecnologias comunicativas para fins de relacionamento apenas como uma referência na busca por prazeres fugazes - transplantando ligeiramente para as relações ali desenvolvidas uma lógica mercadológica ou do individualismo como separação inevitável dos indivíduos.6 6 Vide: Bauman (2003, 2004); Illouz (2011); Camargo (2015), entre outros. Procuro, alternativamente, compreender formas de constituição de uma experiência compartilhada do exercício de socialidade, afetividade, sexualidade, articulada por uma plataforma digital específica, enquanto possibilidade de ação, criação e negociação, nas quais estão postas tanto as motivações, os projetos, as indicações pessoais do/a usuário/a como os critérios e as indicações dos outros relacionais e a própria agência maquínica.7 7 Situo a agência do aplicativo nos debates travados pelos estudos da ciência e da tecnologia (STS), antropologia e filosofia que, a partir da década de 1990, constituíram o que se chamou de virada ontológica - ou viradas ontológicas, conforme Jensen (2017). De formas distintas, tais estudos questionaram os grandes divisores nós-eles, sujeito-objeto, natureza-cultura, humanos-não humanos, propondo, alternativamente, as possibilidades de diversos modos de existência, agência e produção de realidades, inclusive por não humanos. Neste caso, trato da capacidade agentiva dos aparatos tecnológicos digitais, que propiciam determinados modos de uso e engajamento (Dijck 2013; Leitão & Gomes 2018), sendo, por isso, temas etnográficos relevantes.
Do mesmo modo, sem negar as diferenças nas experiências relativas a referências identitárias como gênero, idade, classe social, raça, optei por explorar aqui outros componentes de compartilhamento da experiência, ligados tanto às possibilidades de enquadre ou fuga do projeto e da estrutura sociotécnica do programa como às distintas formas de uso e engajamento nele. São elementos de semelhança que, correlacionados, propiciam tensões e reconfigurações relacionais com o outro, consigo e com o programa.
Neste artigo, minha pretensão não foi construir modelos definidores das experiências, senão destacar, dentro de um quadro mais ou menos geral do percurso de utilização desses aplicativos, formas e conteúdos (Simmel 2006[1917]SIMMEL, George. 2006[1917]. Questões Fundamentais da sociologia. Indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar .) atrelados que informam como elas estão se apresentando em face dos desafios de uma contemporaneidade marcada por tensões relacionais e inovações tecnológicas. Isto não como algo necessariamente negativo, mas como parte integrante da relacionalidade (Strathern 2014[1989]STRATHERN, Marilyn. 2014[1989]. “O conceito de sociedade está teoricamente obsoleto?”. In: STRATHERN, Marilyn, O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify.) que ali se verifica.
Para tal, neste texto trato brevemente dos modos como se deu a pesquisa e apresento o aplicativo. Adiante, abordo os dados dessas experiências a partir da descrição e da análise das dinâmicas de elaboração dos perfis, seleção dos interlocutores e conversa on-line, em diálogo com um instrumental teórico que atenta para a agência do indivíduo no mundo da vida (Schütz & Luckmann 2003SCHÜTZ, Alfred & LUCKMANN, Thomas. 2003. Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires: Amorrortu Editores. pp. 7-40.) e noções como projeto e campo de possibilidades (Velho 2003VELHO, Gilberto. 2003. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.). Concluo a discussão articulando esses elementos nas considerações finais.
Uma pesquisa no fluxo on-line/off-line
O meio digital vem integrando os estudos da antropologia desde os anos 1990. Segundo Segata (2016SEGATA, Jean. 2016. “Dos Cibernautas às Redes”. In: J. Segata & T. Rifiotis (orgs.), Políticas etnográficas no campo da cibercultura. Brasília: ABA Publicações; Joinville: Letradágua.), no Brasil eles se intensificaram no início dos anos 2000, quando da realização de trabalhos sobre a sociabilidade ocorrida nos espaços constituídos na internet. Se, naquela época, a tônica analítica estava no “ciberespaço” (Lévy 1999LÉVY, Pierre. 1999. Cibercultura. São Paulo: Editora 34.) enquanto um setor específico da vida, com a cotidianização da internet e a criação de uma “sociedade digital” (Miskolci 2016MISKOLCI, Richard. 2016. “Sociologia Digital: notas sobre pesquisa na era da conectividade”. Contemporânea, 6 (2):275-297.), as análises passaram a abordar o processo de digitalização, a produção de sentidos na/da internet, as complexas continuidades entre on-line e off-line numa atualidade continuamente conectada e em rede. Acompanhando a proliferação de dispositivos, de formas de uso e as mudanças nos modos de encarar as tecnologias comunicativas, os estudos antropológicos das relações desencadeadas na digitalização passaram a compor um campo hoje chamado antropologia digital (Miller & Horst 2015MILLER, Daniel & HORST, Heather A. 2015. “O Digital e o Humano: prospecto para uma Antropologia Digital”. Parágrafo, 2 (3).), no qual este estudo se situa.
Compreendendo que a digitalização implica significativas e profundas transformações sociais, forja formas específicas de experiências e correlaciona diferentes modos de agências (Di Felice 2012DI FELICE, Massimo. 2012. “Redes sociais digitais, epistemologias reticulares e a crise do antropomorfismo social”. Revista USP, 92:9-19.; Dijck 2013DIJCK, José van. 2013. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford: Oxford University Press.), a pesquisa se configurou como uma etnografia multissituada (Marcus 2001MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22):111-127.), na qual busquei acompanhar relações desenroladas em vários contextos e escalas de pesquisa. Nela, o campo foi delineado ao seguir certo fluxo8 8 Sigo aqui as indicações de Tim Ingold (2015), para quem a condição de ser no mundo inclui também a capacidade de os seres sentirem e responderem a um ambiente que está em constante fluxo. Ambiente no qual estão em relação coisas e pessoas que geram sua existência mútua, num processo dinâmico, contínuo e transformativo. entre pessoas e ambientes on e off-line possibilitado pelo uso do aplicativo. Na esteira das indicações feitas por pesquisadoras como Carolina Parreiras (2008PARREIRAS, Carolina. 2008. Sexualidades no ponto.com: espaços e homossexualidades a partir de uma comunidade on-line. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas.), Christine Hine (2015HINE, Christine. 2015. Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury.) e Débora Leitão e Laura Gomes (2011LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2011. “Estar e não estar lá, eis a questão: pesquisa etnográfica no Second Life”. Cronos, 12 (2):23-38.), não fiz a priori uma delimitação de espaços digitais e presenciais para o trabalho de campo.
Leitão e Gomes (2011:11LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2011. “Estar e não estar lá, eis a questão: pesquisa etnográfica no Second Life”. Cronos, 12 (2):23-38.) falam de um “deslizamento da imersão etnográfica”, uma expansão para além das fronteiras inicialmente delimitadas como “campo”. No caso das investigações da/na internet, essa circulação das/os pessoas/perfis pode se estender para outras plataformas digitais - como convergência entre plataformas, como migração da interação, como reverberação do tema pela web. Assim, seguir os deslizamentos possibilitados pelo Tinder implicou usá-lo ao longo dos trajetos do dia, nas noites e nas madrugadas, durante as viagens, ou migrar dele para outros ambientes digitais, tal qual faziam muitos dos/as meus/minhas interlocutores/as. O trabalho de campo abrangeu como locus on-line o Tinder, outros aplicativos comunicacionais, site e plataformas nas quais o aplicativo era tematizado. Os locus off-line foram as cidades de Salvador/BA, Florianópolis/SC e João Pessoa/PB, locais por onde eu transitei durante a pesquisa. Meus/minhas interlocutores/as estavam morando permanente ou temporariamente naquelas cidades, ou transitando por elas.
Conforme indicou Hine (2015HINE, Christine. 2015. Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury.), enquanto uma abordagem adaptativa, a etnografia possibilita perceber as particularidades de uso da tecnologia e se integrar a elas. Nesse sentido, a presença efetiva do etnógrafo on-line não se dá simplesmente com o login na plataforma; é preciso ser aceito na rede tanto para observá-la como para interagir com outros participantes, nos termos praticados naquele espaço. Num app de encontro no qual as interações se fazem a partir dos atos de escolher alguém ou ser escolhido por outros - como mostrarei adiante -, observar e interagir requer uma experimentação pessoal da tecnologia. Então, para efetivamente participar daquela plataforma, fiz um perfil no qual coloquei algumas fotos que julguei atrativas (para chamar a atenção de outros/as usuários/as), porém discretas (para manter a seriedade do propósito da pesquisa), e me apresentei textualmente como pesquisadora. No aplicativo, eu alterava configurações, observava os perfis, curtia pessoas, interagia com quem dava match,9 9 Na linguagem do aplicativo, o match ou combinação ocorre quando duas pessoas curtem mutuamente o perfil da outra. movimentos que se mostraram corriqueiros na vivência daquele ambiente.
No mais de um ano no qual me conectei diariamente àquela rede, mantive conversas on-line com dezenas de usuários/as, e os ambientes digitais foram úteis para prolongar conversas, estreitar laços, fazer entrevistas e obter dados sobre o programa. Tive, ainda, encontros presenciais com 12 destes, seis homens e seis mulheres, que se tornaram meus/minhas interlocutores/as principais. Todos tinham formação universitária, sendo sete estudantes de graduação ou pós-graduação. Além de estudantes, havia profissionais liberais, um músico, uma professora universitária e funcionários públicos federais. A formação e/ou a profissão apareceu como um ponto central em suas vidas e, apesar de não haver previamente um recorte explícito de classe na pesquisa, todos poderiam ser caracterizados como pertencentes a uma classe média urbana (Bourdieu 1999BOURDIEU, Pierre. 1999. “Condição de classe e posição de classe”. In: BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva.). Entre as entrevistadas, três estavam se relacionando com homens que conheceram através do aplicativo e os demais não estavam em relacionamento estável. Sete eram solteiros e cinco, divorciados ou separados. Uma mulher e um homem possuíam filhos. Dez dessas pessoas podem ser consideradas brancas ou de pela clara e duas morenas ou negras.
Através da cotidianidade experiencial da tecnologia, que produziu presença, participação e interação emocionalmente intensas, percebi que quanto mais imersa,10 10 Em Etnografia em Ambientes Digitais: perambulações, acompanhamentos e imersões, Leitão e Gomes tecem interessantes considerações sobre diferentes abordagens etnográficas em ambientes digitais, demandadas pelas diferenças estruturais das dinâmicas das distintas plataformas. Elas compreendem que, diferente das preambulações e acompanhamentos, a imersão se daria em arquiteturas digitais que proporcionam agenciamentos suficientemente fortes para influir nos regimes de self dos participantes, inclusive pesquisadores, o que não seria o caso dos aplicativos aqui estudados. Proponho, neste trabalho, que todo o processo dialógico de interação, aprendizado, construção de intensas relações é proporcionado por um campo que também aciona desejos íntimos, emoções e imaginações sobre o outro, criando um ambiente no qual a imersão - no sentido empregado pelas autoras - pode se estabelecer. Tal potencialidade parece estar tanto ligada aos fatores agenciadores das plataformas (propiciando continuidades ou descontinuidades com o ambiente off-line) como também aos modos (mais ou menos exploratórios ou penetrantes) pelos quais o pesquisador (ou usuário) se conecta a elas. Larissa Pelúcio também dá pistas nesta direção, ao indicar como “vai-se construindo relações densas” (2016:322) nos diálogos iniciados nos aplicativos e ao tematizar o componente das tensões e das negociações das expectativas e dos desejos em campo, um jogo no qual se está testando, avaliando e impactando as subjetividades envolvidas na relação, inclusive a da pesquisadora. mais compreendia como atuar lá, como as relações ocorriam e as formas de seduzir o outro (ou de evitá-lo, quando o contato era impróprio), numa plataforma que me geolocalizava on-line, me notificava da interação de outros ao longo do dia e acionava outros a interagirem comigo. Esse learning-by-doing, no qual tanto habilidades técnicas como comportamentais estavam sendo por mim experienciadas enquanto uma prática etnográfica, como indicou Hine (2015HINE, Christine. 2015. Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury.), me permitiu refletir sobre como infraestrutura tecnológica e relacionalidade se interconectavam nas interações ali desenroladas. Numa plataforma de encontros, para me manter ativa, foi preciso estar disponível, logada, presente no aplicativo de paquera, de troca de mensagens nas redes sociais. Foram presenças diferenciadas que demandaram ações e interações distintas, pois cada ambiente digital produz seus modos específicos de integrar pessoas.
O Tinder, por exemplo, permite filtrar a procura a partir de uma definição pessoal de sexo, do/s sexo/s de seu interesse, da distância de busca e faixa etária. Ao me identificar no aplicativo como mulher e buscar por homens e mulheres (na época as duas opções dadas pelo programa), quando se sucederam os matches e as conversas, percebi que me eram expostos perfis de homens que buscavam mulheres e de mulheres que buscavam mulheres. Logo, seguindo os enquadres da plataforma, eu estabeleceria relações com públicos de orientações sexuais diversas, pois o aplicativo me categorizou como buscadora dessa diversidade. Esse enquadre da plataforma me mobilizou a deslizar para o off-line para buscar, especialmente, as interlocutoras do sexo feminino, uma vez que estabeleci como recorte da pesquisa usuários/as na faixa etária entre 20 e 44 anos, que procuravam ou já haviam procurado no Tinder parceria afetivo-sexual do sexo oposto.11 11 Na época da pesquisa, em ciências sociais e relacionadas ao contexto brasileiro foram poucas as publicações que encontrei sobre o uso desses apps. No geral, as pesquisas neste campo tematizavam homens que buscavam homens em plataformas específicas para eles (vide: Miskolci 2014; Maia & Bianchi 2014; Kurashige 2014, entre outros). Devido a essa lacuna documental e por compreender que havia diferenças entre a prática do hookup documentada para esse público e as experiências heteronormativas no aplicativo, fiz essa delimitação. Interessante notar que, recentemente, usuários/as vêm acusando o Tinder de promover a transfobia (Vide: https://www.agazeta.com.br/entretenimento/famosos/tinder-e-acusado-de-transfobia-por-artista-e-usuarios-relatam-exclusao-de-perfis-0720) - uma mostra de que as experiências LGBTI+ nesses apps continuam a ser um instigante tema para pesquisas.
Para seguir pontuando algumas das características do Tinder que apontam para os modos particulares como ele pode interferir no estabelecimento das relações - inclusive as de pesquisa -, apresentarei, rapidamente, como fazer para acessá-lo.
Andarilhando entre “xis”, “corações” e “estrelas”
O Tinder foi lançado em 2012, nos Estados Unidos. Em 2013, época do lançamento no Brasil, Justin Mateen, seu cofundador, reforçou a ideia daquela como uma plataforma de descoberta social, voltada para conectar novas pessoas com interesses comuns de modo simples e rápido, proporcionando interação virtual e encontros face a face. Em suas palavras: “O aplicativo traz a experiência da interação humana”,12 12 Vide: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/12/11/interna_tecnologia,402827/ aplicativo-tinder-vira-febre-no-brasil-confira-entrevista-com-o-cofundador.shtml. e está “focado em descoberta social e formação de novos relacionamentos”.13 13 Vide: https://olhardigital.com.br/pro/noticia/criador-do-tinder-brasileiro-e-ocupado-demais-para-encontrar-nam oro/ 38499. Este seria o diferencial do aplicativo em face das demais redes sociais, para ele centradas em conectar pessoas já conhecidas.
Para quem tem curiosidade ou interesse em usar esse aparato de descoberta de novas pessoas - que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos -, a instalação é, de fato, simples. Após executar o programa, suas funcionalidades estarão acessíveis assim que o iniciante fizer login através de uma conta da rede social Facebook.14 14 Lembro ao leitor que tecnologias comunicativas como os apps de paquera podem sofrer rápidas alterações infraestruturais ou de layout. As descrições que seguem retratam o programa tal qual se encontrava no momento da pesquisa. Compulsoriamente, o programa converge informações dessa rede: nome do usuário, idade, amigos em comum com o outro, páginas curtidas, algumas fotos e a profissão. As duas últimas podem ser alteradas posteriormente, as demais não podem ser mudadas no Tinder. Além disso, ao usuário é facultado trocar as fotos (o programa comporta até seis delas), local de trabalho/estudo, sexo das pessoas que busca, distância máxima de você, faixa etária dos pretendentes, configurações de notificação, deixar seu perfil à mostra ou oculto na rede e escrever um texto de perfil (até 500 caracteres). Sua localização - na versão gratuita e mais usada - não pode ser alterada. Há, ainda, uma possibilidade de convergência com outras redes sociais (Instagram, Spotify) do/a usuário/a.
Percebi, ao longo das conversas, que em meio à simplicidade da instalação muitos desses recursos de edição e configuração não eram utilizados, em especial no início do uso, muitas vezes por desconhecimento da sua existência. Assim, mesmo informações que poderiam ser alteradas, a exemplo das fotos, permaneciam no default do programa, ou seja, as fotos que o app selecionou do Facebook. Por exemplo, quando Gregório (31 anos, profissional liberal) e eu demos match, numa de suas fotografias ele estava carregando um garoto, que depois me contou ser seu filho. Na conversa, confessou que não sabia que aquela foto estava no perfil, pois não tinha revisado as fotos que o aplicativo selecionou da rede social: “Olha a minha cara de quem configura Tinder? [risos] A foto que ele puxou do Facebook ficou”. Descobriu que ela estava lá porque uma de suas combinações perguntou se era filho ou sobrinho. Ele se assustou ao saber que a foto do filho estava lá exposta, e tirou-a. “Aí eu descobri que se podia adicionar fotos no Tinder, né?”, explicou.
Em todo caso, depois da instalação. o neófito rapidamente terá um perfil pré-formatado no app (com configurações default), que já pode ser usado após o programa identificar sua localização geográfica. Esse “eu” fica on-line mesmo que a pessoa não esteja, deixando-o acessível a outras pessoas - a não ser que o/a usuário/a configure o programa para ficar “oculto na rede”.
A cada vez que se abre o aplicativo prontamente se inicia o modo de busca, ou seja, aparece sua imagem de perfil e a informação Procurando pessoas ao seu redor, para logo depois surgir na tela a foto principal de um dos perfis de usuários que estão no seu filtro de buscas. Abaixo de cada perfil de pretendente estão os símbolos de dislike/não curtir ( super like ( e like/curtir, ♥ em ordem, da esquerda para a direita, como mostra a Figura 1. Deslizando a foto para um desses lados ou para cima, o usuário rejeita, indica abertamente o interesse ou aceita o perfil que acaba de ver. Se, a qualquer tempo, o outro também aceitar seu perfil, há o match e se abre a possibilidade de conversa num chat privado - como regra básica deste jogo, o interesse precisa ser recíproco para haver a possibilidade de diálogo. Clicando no perfil à sua frente é possível ver foto, nome, idade, distância, profissão e local de estudo/trabalho (quando deixados visíveis) e texto de apresentação (quando escrito).
Operando por trás dos filtros de busca definidos pelo/a usuário/a (gênero, idade, distância), conforme ele permanece logado, dá likes ou dislikes para os demais perfis, o programa age definindo, através de algoritmos, quais serão as pessoas que lhe aparecerão como potenciais candidatas - e para aqueles que você aparecerá.15 15 Em 2019, o Tinder publicou em seu blog notas sobre o Powering Tinder, método pelo qual o algoritmo do programa funciona (Vide: https://blog.gotinder.com/powering-tinder-r-the-method-behind-our-matching/). Não me aprofundarei aqui nessa operação algorítmica. Indico apenas que ela produz efeitos sobre as interações dos/as usuários/as, ao passo que o uso pode alterá-la.
Quando abordamos os algoritmos que compõem o programa enquanto aspectos culturais “compostos por práticas humanas coletivas” (Seaver 2017:05SEAVER, Nick. 2017. “Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic systems”. Big Data & Society, 1 (12)., tradução minha), ou seja, concretizados a partir das práticas usadas pelas pessoas para se engajarem com eles, é possível encarar o Tinder como ambiente dotado da intenção projetada16 16 Projeto aqui, no sentido empregado por Velho (2003:40), como “conduta organizada para atingir finalidades específicas”, um modo de antecipação futura da trajetória. Projetar não é um ato linear, homogêneo ou estanque, pois se concretiza em referência à multiplicidade de alternativas de interação com outros, dentro de um campo de possibilidades. “Campo de possibilidades trata do que é dado com as alternativas construídas do processo socio-histórico e com o potencial interpretativo do mundo simbólico da cultura. O projeto no nível individual lida com a performance, as explorações, o desempenho e as opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade” (Velho 2003:28). de estimular a descoberta social on-line, cujo significado simbólico marcante alude à busca e ao encontro afetivo-sexual. A facilitação do contato, da expressão de si e da autorrevelação para um outro que provavelmente não se encontraria sem a mediação tecnológica são marcas características do aplicativo para os/as usuários/as que conheci.
Entretanto, essa intenção projetada vai sendo ressignificada pelas pessoas que o usam e o fazem operar conforme suas trajetórias de vida, interesses, contextos específicos nos quais estão imersos e possibilidades de engajamento que o aparato propicia. Nas palavras de João: “É pra isso que ele foi criado. [...] Como a criatividade é imensa, as pessoas vão utilizando pra outras coisas também”. Afonso (31 anos, profissional liberal), por exemplo, compilava os contatos que fazia por lá para futuros usos comerciais. Percebe-se, ainda, que seu uso pode operar ativamente na reelaboração de projetos individuais, além de fazer com que tais projetos entrem em contato mutuamente, coadunem ou embatam - inclusive com a intenção projetada da tecnologia, por vezes forçando alterações nela.
Ao longo das próximas seções, tratarei de tópicos que se me mostraram profícuos para compreender como as pessoas se aproximam e interagem através do app. Devido à centralidade da elaboração do perfil como passo sem o qual não se pode vivenciar o Tinder, eu me deterei mais nesta dimensão.
O perfil
Na reportagem intitulada “Veja cinco dicas para se dar bem nos aplicativos de paquera nesse Dia dos Namorados”,17 17 Vide: https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/veja-cinco-dicas-para-se-dar-bem-nos-aplicativos-de-paquera-nesse-dia-dos-namorados.ghtml. uma coach dava dicas para dar certo no app - dar certo, naquele contexto, era encontrar parceria afetiva, como ocorreu com um casal descrito na matéria. Este é um dos inúmeros textos e vídeos encontrados na web roteirizados como manuais de aconselhamento, com lições de como obter sucesso nos aplicativos de paquera. Na reportagem citada, a coach seguia essa linha:
Lembre-se de usar o seu perfil para deixar os seus objetivos claros (e facilite a vida do seu par ideal). Você pode fazer isso de forma leve e bem-humorada nas informações que escreve sobre você e também nas suas fotos, que devem ser um espelho do tipo de relacionamento que você espera encontrar.
Pergunte-se: alguém que realmente quer um relacionamento vai me levar a sério ao olhar as minhas fotos? O que as minhas imagens estão dizendo sobre as minhas intenções?
Esses manuais me trouxeram questionamentos: Como as pessoas estão organizando seus perfis no Tinder? Como as imagens/fotos sobre si estão sendo pensadas - se estão?
As imagens, pelo modo como o aplicativo está estruturado, tornam-se elementos centrais na montagem do seu perfil e na escolha dos perfis alheios. Lígia (21 anos, universitária), sobre seu processo de escolha de perfis para interação, comentou que a fisionomia seria a primeira barreira seletiva: “Por que o próprio aplicativo, ele a induz, ele a obriga a dizer: ‘Olhe, o seu primeiro critério vai ser a fisionomia’”. É sobre este e outros elementos de expressão e impressão que tratarei neste tópico.
Utilizando metáforas dramatúrgicas do jogo e do ritual para abordar a apresentação, ou melhor, a representação de um eu na interação com o outro ou outros, Erving Goffman (1985[1959]GOFFMAN, Erving. 1985[1959]. A representação do Eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes ., 2011[1967]GOFFMAN, Erving. 2011[1967]. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis: Vozes .) pontua, em especial, os papéis da expressão - a correspondência a expectativas de padrões de expressão e a tentativa de preservação social da imagem - e da impressão - a que se tem do/s outro/s relacional/ais e a tentativa de orientar e controlar a impressão que se causa no/s outro/s - no jogo interacional. Tais rituais apresentam aspectos verbais e não verbais que compõem o esforço de manter uma atitude coerente, numa dada cena social, e a perspectiva de o indivíduo controlar e regular a conduta do outro relacional. São importantes também para o jogo de cena social o cenário no qual a interação ocorre e a resposta do público à performance do ator.
Trago para reflexão sobre os aplicativos de encontro alguns parâmetros do jogo relacional apontados por Goffman, perceptíveis on-line mesmo com a indisponibilidade dos componentes não verbais característicos das interações presenciais - posturas corporais, sinais faciais, olhares etc.18 18 Outros autores o fizeram em relação ao uso de redes sociais. Vide: Thibes 2013; Bon 2015; Carvalheiro, Prior & Morais 2015. Entretanto, contrariando a ideia de ordem social preconizada por este autor e convergindo na direção das proposições de Barth (2000BARTH, Fredrik. 2000. “A análise da cultura das sociedades complexas”. In: T. Lask (org.), O Guru, o Iniciador e Outras Variações Antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. pp. 107-139.) e Ingold (2015INGOLD, Tim. 2015. “Antropologia não é Etnografia”. In: T. Ingold, Estar Vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes .) sobre o caráter processual da vida social, a preservação de uma fachada19 19 “O termo fachada pode ser definido como o valor positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assume durante um contato particular” (Goffman 2011[1967]:13). a partir da sustentação de uma linha coerente, nos perfis e nas interações, não pode ser descrita como regra no uso do Tinder. O jogo entre o transmitir e o manipular de informações sobre si mesmo e a interpretação das informações que os outros transmitem acabam por fazer parte de vaivéns comunicacionais que caracterizam as experiências no Tinder. E esse jogo começa pela existência do perfil, sua metaidentidade na plataforma.
Em princípio, convido o leitor a pensar as fotografias, texto descritivo e demais elementos que compõem o perfil como marcas de expressão que produzem determinadas e múltiplas impressões sobre si mesmo e o que se pode querer naquele ambiente. Se, por um lado, tais elementos são passíveis de serem racionalizados no instante de fazer ou refazer o perfil, por outro, nem todo perfil é racionalizado pelo/a usuário/a - há quem permaneça no default, na lógica algorítmica projetada do programa. Além disso, no momento em que esse perfil (default ou alterado) está on-line torna-se não governável; já não se tem domínio sobre ele, e pode causar as mais diversas impressões e interpretações no público. Segundo Carter e Asencio (2018:4CARTER, Michael & ASENCIO, Emily. 2018. “Identity Processes in Face-to-Face and Digitally Mediated Environments”. Sociological Perspectives, 62 (2):1-20., tradução livre), relações mediadas podem produzir menor controle sobre performance e feedback do público, pois não se tem a “oportunidade dos ajustes simultâneos”. O sucesso dessa performance é medido a posteriori pela resposta da audiência.
O Tinder solicita dos/as buscadores/as avaliação e resposta rápidas a essa performance não governável: o perfil à sua frente apenas é sucedido por outro se o/a usuário/a emitir um sinal positivo (curtir/super like) ou negativo (não curtir). Como observou Carolina (37 anos, professora universitária): “No Tinder você vê cada foto [perfil], tem que decidir na hora sobre cada foto. Você só passa pra próxima se você decidir”. Desse modo, estando os aspectos não controláveis necessariamente anteriores à interação verbal, eles, tomados em seu conjunto ou nos detalhes, dão indicações simbólicas essenciais para a escolha dos seus interlocutores em potencial (para os seus likes). Lígia, ao exemplificar como percebia perfis “interessantes”, que a estimulavam a dar like, reforça esta ideia. Para ela, fisionomia, posicionamento político, interesses, estilo de fotografia revelados pelo perfil “já dizem o essencial sobre você”.
Goffman aponta que os aspectos expressivos não governáveis podem ser usados para reforçar ou legitimar os aspectos governáveis. Na dinâmica do aplicativo, por um lado, é possível manipular os aspectos não governáveis (seu perfil), se a resposta a ele não está sendo condizente com o que se espera - ter matches ou atrair pessoas que julgue adequadas para você, por exemplo. De outro modo, gestos involuntários, aquelas ações “insignificantes e inadvertidas” capazes de transmitir impressões inapropriadas à cena social (Goffman 1985[1959]:191) - e podemos tomar as fotografias e demais conteúdos do perfil como dotados da possibilidade de imprimir tais gestos -, são passíveis de desacreditar a sua representação e macular a imagem que se desejaria construir. Assim, perfis podem ser constituídos simultaneamente pela manipulação voluntária e por gestos involuntários.
Profícuos são os estudos que, sob diferentes aspectos, retratam o papel ativo da participação em redes sociais e outros espaços on-line na construção, na reconfiguração ou na experimentação identitária dos seus participantes, em especial no que concerne à manipulação da imagem social através de perfis, avatares, fotografias.20 20 Vide: Illouz 2011; Ramos 2015; Beleli 2015; Leitão & Gomes 2018. O ambiente virtual favorece a performatividade do self e, no caso do Tinder, observando a diversidade dos perfis e as possibilidades de edição dadas pelo aplicativo, não há dúvida de que essa manipulação é facilitada tecnicamente e, em dada medida, praticada pelos/as buscadores/as. Contudo, essas são alternativas que o usuário pode explorar, ou não.
Muitos pessoas com as quais conversei, em princípio, alteraram pouco ou não mexeram no perfil default. Modificaram-no, por iniciativa própria ou com a ajuda de amigos mais experientes no aplicativo, no geral, quando houve alguma situação-problema, a exemplo de matches insuficientes ou insatisfatórios. Quando o fizeram, adicionar uma frase ou escrever mais sobre si mesmo/a figurou como uma atividade mais corriqueira do que alterar fotografias.
Mesmo sendo um elemento central para a fachada do/a usuário/a do Tinder, alterar fotografias pode ser especialmente problemático. João, por exemplo, confidenciou ter dificuldades em tirar selfies, por isso não tinha fotos recentes no app. Para ele, as que ali se encontravam davam certo, tinham um feedback positivo expresso pelos seus matches. Já Lígia, em cujo perfil estavam fotos de default - pois não sabia que o Tinder as havia coletado do Facebook -, disse se assustar ao se dar conta delas: eram exóticas e inapropriadas para aquele ambiente. Mas, mesmo assim, não as alterou: “Se tá dando certo, né? Dando match direto!”. Joaquim (40 anos, funcionário público), ao contrário, decidiu alterá-las depois de algum tempo usando o app, tanto pela falta de combinações como por mudar seus objetivos de uso - antes era só curiosidade, depois quis vivenciar diferentes possibilidades relacionais. Em seu perfil fake, Carolina postou apenas a foto de uma paisagem e escreveu suas intenções de experimentação relacional/sexual. Para ela, deu certo: “Era impressionante como recebia cinco a dez super likes por dia, fora os matches!”. Nesses casos, configurar ou não o perfil relacionou-se a aspectos como a eficácia em função de certo resultado - o número ou a qualidade das combinações, o dar certo, as interações pretendidas.
Além disso, na mesma plataforma onde podemos ver perfis montados com uma variedade de fotografias bem trabalhadas e/ou descrições estimulantes, como ressaltou Lígia, há outros cuja única fotografia está desfocada ou reflete apenas o rosto de uma pessoa comum, sem retoques, maquiagens, nem descrição, ou ainda outros em que foto e texto fazem um apelo sexual mais ou menos explícito. No mesmo perfil é possível ver fotos, textos e outras informações que mostram facetas diversas da pessoa, com alusões tanto ao exibicionismo como à simplicidade, por exemplo. E todos esses tipos informam recortes identitários ou de interesse que coabitam, num trânsito de ocultamento e revelação que se mostrou parte do jogo Tinder.
Se é possível haver uma intensa manipulação da imagem para enquadrá-la em parâmetros estratégicos mercadológicos, midiáticos ou espetacularizados de supervalorização de um eu virtual mais competitivo num mercado amoroso,21 21 Vide: Couto, Souza &Nascimento 2013; Camargo 2015; Pelúcio 2016. sugiro que elementos como o aprendizado do exercício da socialidade característica do aplicativo e do manuseio de suas funcionalidades técnicas, as motivações e os projetos para usá-lo e a importância que tem para o/a usuário/a enquanto um investimento relacional/afetivo sejam também fontes de composição das experiências por ele mediadas que vão além da racionalização do perfil com base em certos elementos estratégicos,22 22 Estratégia, segundo Certeau (1998:99), é o “cálculo (ou a manipulação) das relações de força” feito por um sujeito “de querer e poder”, uma racionalização possível quando se tem consciência do que lhe é próprio, logo, se pode “gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças”. Já na tática esse cálculo da ação ocupa um lugar de não autonomia, é feito “golpe por golpe, lance por lance”, aproveitando as ocasiões e respondendo proativamente a elas. Tomo de empréstimo esse par não como oposição, mas em sua possibilidade de gradação, como uma matriz de possibilidades em que ambos os movimentos são dinamicamente tensivos e combináveis. especialmente a valorização material ou estética. Nos casos que acompanhei, a manipulação dos perfis, quando acontecia, estava em função de um jogo relacional que triangulava indivíduo-aplicativo-outros relacionais e ia se modificando à medida que o jogo seguia, combinando conhecimento tecnológico, parâmetros pessoais de satisfação com a experiência e retroalimentação pelos outros. Tais possibilidades conferem ao uso do aplicativo um panorama diverso e polimórfico que inviabiliza pensá-lo em termos de uma homogeneização das experiências.
Evidencio assim que, em paralelo com a possibilidade de manejo estratégico do mostrar-se, esses perfis podem ser construídos com uma perspectiva tática do que está à mão, seja porque não se dispõem de outras fotos (como João), seja porque não se sabe (ou não se sabe que pode) alterar as configurações para inserir novas (como Gregório), seja porque deixar o default do aplicativo foi uma opção confortável (como Lígia), ou porque manipular recursos de personalização imagética no aplicativo não se faz tão importante quanto estar participando dele como um espaço de sociabilidade (a ludicidade de passar e observar as figurinhas, como muitos chamam os perfis, enquanto um passatempo, pode coexistir com uma busca por parceria afetivo/sexual, por exemplo).
Se, conforme alguns estudos e mesmo os manuais de aconselhamento on-line, o sucesso no Tinder está relacionado aos cuidados com o perfil (uma manipulação racionalizada, prudente, competente), fazê-lo pode estar atrelado a fatores cuja solução nem sempre está disponível (ou é relevante), em dadas circunstâncias, ao/à usuário/a comum - como a habilidade ou o maquinário para tirar fotos melhores, ou o conhecimento sobre as formas de edição do aplicativo. No uso cotidiano da ferramenta, tática e estratégia vão se combinando, num movimento tensivo atualizado a partir do decurso das experiências e das experimentações no/do ambiente. A estratégia, quando ocorreu, também apareceu como um componente de aprendizado da socialidade, da técnica, das autodescobertas, que se dá pela interação e pela negociação com os outros - neste sentido, a sucessão de conversas e seleções, que veremos adiante, também compõem elementos de incentivo à reconfiguração dos perfis.
Retomo Barth (2000BARTH, Fredrik. 2000. “A análise da cultura das sociedades complexas”. In: T. Lask (org.), O Guru, o Iniciador e Outras Variações Antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. pp. 107-139.), quando argumenta em favor da observação da multiplicidade de padrões interconectados existentes nos contextos que denominamos cultura ou sociedade. Retomo também as palavras do João, quando falou da diversidade que compõe a plataforma: “Também tem esse aspecto de um jogo, né? Você vê, vai admirando as belezas, as feiúras, as... Tudo, né? Os muitos tipos e pessoas que estão ali, né?”. Esses “muitos tipos e pessoas” acabam por destacar aspectos simbólicos de referências identitárias ou de interesses pessoais, em função de elementos múltiplos que nem sempre aludem a um projeto pré-elaborado de exibição competitiva num mercado afetivo, ou à criação de uma imagem sobrevalorizada. Essas referências podem, pelo contrário, destacar singularidades pessoais - tão passíveis de mudança e dotadas de ambivalência como as próprias motivações23 23 Vide Santos (2018) para saber mais sobre tais motivações, assim como a possibilidade de estas serem múltiplas e modificadas em função do momento de vida e expectativas íntimas dos/as interlocutores/as. que as suportam. Singularidades que likes e matches apontam como possibilidade de aceitação e parceria.
Para Sherry Turkle (1995TURKLE, Sherry. 1995. Life on the screen: Identity in the age of Internet. New York: Simon & Schuster.), a comunicação on-line compõe formas particulares de intimidade ao permitir que as pessoas vejam e experimentem aspectos diversos delas mesmas, vivam a multiplicidade do self. Os ambientes digitais proporcionam a experimentação. Seguindo nessa direção, quando se pensa a montagem do perfil enquanto um elemento também tático, percebe-se que ele faz parte de um jogo cambiante dentro de um campo de possibilidades cujos norteadores variam de acordo com as situações diversas nas quais as pessoas localizam a si mesmas para atrair as outras.
Pode-se, com isso, criar cenas distintas, às vezes contraditórias, destacando múltiplos vetores de identificação e sedução: a ideia de exposição de um “eu mais autêntico”24 24 Nas relações contemporâneas digitalmente mediadas, a possibilidade de facilitar a autorrevelação ao outro e a expressão de um eu mais autêntico já foram exploradas em estudos que tematizaram outras redes sociais (Nascimento 2007; Dela Coleta; Dela Coleta & Guimarães 2008; Vieira & Cohn 2008; Silva & Takeuti 2010). Trago essa discussão aqui não para debater a natureza de um self real versus um self digital. A intenção é mostrar formas de apresentação do eu que podem passar tanto pela performance de fantasias identitárias como pela ampliação ou a valorização de aspectos identitários existentes ou traços bibliográficos específicos. e “sem filtros”; utilizar o ocultamento parcial ou total de sua própria imagem e mobilizar um apelo visual ou textual específico (à criatividade, à sensualidade, ao sexo, a traços de personalidade); ressaltar um eu antigo, mais bem apessoado e menos condizente com o atual; revelar relações e âmbitos da vida aos quais se dê valor - família, amigos, viagens, um corpo bonito, bens materiais; ou se mostrar como um fake que, conforme Parreiras (2008:116PARREIRAS, Carolina. 2008. Sexualidades no ponto.com: espaços e homossexualidades a partir de uma comunidade on-line. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas.), “são construções próprias do on-line, mas que, de algum modo, dialogam com o off-line. [...] [Uma vez que] convenções e um repertório fornecido pelo off-line fornecem as bases para sua existência. São, então, personagens que reivindicam ser autênticos”.
Assim, Gregório optou por não expor o filho em suas fotos porque, segundo afirmou, seus objetivos ali não implicavam incitar vínculos emocionais alusivos à condição de pai. Também Clarice (27 anos, universitária) não expôs fotografias de suas crianças no app. Colocou apenas uma foto de rosto e um texto de apresentação no qual se descreveu como “Mãe, mulher e engenheira”, pois queria homens que fossem sensíveis à sua condição de maternidade. Nessa mesma linha, um amigo me revelou colocar suas “piores fotos”, além de fotografias com o filho, em seu perfil, para assim atrair pessoas que se interessassem por quem ele é de fato - ou pelo recorte de si que ele informa ao outro como essencial naquele momento de sua vida. Joaquim construiu um perfil fake com a motivação de encontrar parceiras para efetivar, presencialmente, seu fetiche sexual.
Já Carolina se disse muito tímida, com pouca habilidade e disposição de paquerar em festas e locais de sociabilidade: “Não me encaixo no padrão estético que geralmente os caras que procuram nas festas vão querer. Não tô falando só de corpo, mas eu tô falando de maquiagem, montada, e não sei o quê”. Ela tem um círculo de amizades composto, em sua maioria, por pessoas casadas, daí ter a impressão de que não haver homens solteiros em sua faixa etária. O Tinder mostrou para ela que eles existiam, permitiu-lhe acesso a eles, filtrá-los e negociar desejos mútuos. Além do seu perfil usual, fez o fake inicialmente como uma experimentação virtual, sem pretensões presenciais. Em dado momento, se aproveitou de uma viagem e usou esse fake para concretizar presencialmente fantasias eróticas.
Enfim, os perfis, enquanto formas de expressão virtual de si, são também usados como modos de manifestar condições, interesses, ideologias, situações biográficas,25 25 Para Schütz (1979), os indivíduos vivenciam cotidianamente um fluxo de eventos e agem sobre eles a partir de sua situação biográfica determinada, o que torna sua experiência única dentre as outras, pois sua ação na interpretação do mundo e no próprio mundo é percebida através das lentes de suas vivências anteriores. Desta forma, seus atos são orientados tanto pelo seu estoque de conhecimentos - um acervo pessoal das experiências de dada situação que, uma vez vivida, é inserida em sua biográfica - quanto pelas dinâmicas culturais que lhe são basilares, sendo as primeiras proporcionadas em meio às segundas. ou seja, multiplicidades e singularidades mais ou menos reveladas, mais ou menos afinadas com versões analógicas. A autenticidade, nesse jogo Tinder, não pode ser direta ou simplesmente comparada com um recorte de verdade identitária off-line versus uma mentira ou meia-verdade on-line; muito menos com a midiatização do eu ou o mero consumo do outro. Ela se mostra, por outro lado, um exercício relacional de reposicionamento, que envolve a negociação da autoexposição consigo mesmo (o quanto se quer mostrar, o que se pode mostrar, os conhecimentos sobre como se mostrar naquele ambiente) e com o outro, que poderá gerar afinidades e atrair quem ou o que se quer - e quem o queira -, a partir dos enquadres e dos cruzamentos propiciados pela tecnologia.
A seleção
Uma frase comum que ouvi dos/as interlocutores/as foi: “se encontra de tudo no Tinder”. Este tudo em alusão à ampla diversidade cultural, de classe, étnica, de orientação sexual, mas também de propósitos, projetos, formas de se mostrar. Enquanto interface mediadora da interação entre indivíduos, o contato e o embate com os projetos de outros são constantes e cruciais para encontrar as afinidades que se deseja buscar.
Beleli (2015BELELI, Iara. 2015. “O imperativo das imagens: construção de afinidades nas mídias digitais”. Cadernos Pagu, 44:91-114.) também pontua esse caráter de racionalização das escolhas pelo aplicativo. Ela parte da ideia da existência do continuum on/off-line para mostrar como aspectos relativos ao capital social e cultural são visualizados ou imaginados através das fotografias, que remetem a estilos de vida que trazem ou não afinidades para a escolha de parcerias via Tinder por mulheres de classe média. Noutro artigo, a autora (2017BELELI, Iara. 2017. “Reconfigurações da intimidade”. Estudos Feministas, 25 (1):337-346.) propõe a categoria classe como principal marcadora da diferença na busca amorosa e sexual. O pertencimento econômico seria definidor das afinidades e percebido nos símbolos de consumo observados nas fotografias.
Em certa medida, Lígia, quando comentou sobre perfis com fotografias bem trabalhadas e descrições estimulantes, teceu comentários na direção dessa racionalização: há um processo seletivo no Tinder e, de alguma forma, as pessoas têm consciência disso. Verifiquei, entre interlocutores/as, que a seleção começa desde a eleição dos filtros de busca e se estende à observação dos perfis à procura de traços tipificados indicativos de afinidade ou rejeição, traços estes que, devido à diversidade de composição dos perfis, podem não ser facilmente identificados, ou podem ser muito sutis - como gestos involuntários.
Lígia disse configurar sua busca para homens entre 21 e 30 anos e que faz uma análise criteriosa dos perfis antes de selecioná-los ou passá-los adiante.
Quando a fisionomia agradava, eu clicava em cima [...] Se eu li, se eu tivesse lido algo de que eu não gostava, o critério de fisionomia não ganhava. Sabe? Eu já excluía. E se eu apertasse, visse algo de que eu gostava, eu ia ver as outras fotos. Aí eu ia fazer um balanço.
Rejeitava as fotos que mostrassem apenas um corpo sem rosto, ou mostrando estilos de vida com os quais ela não compactuava: “um cara com uma Corona num iate” ou “rapazes com posicionamento religioso radical”. Ou mesmo os que, de antemão, já definiam suas preferências e propósitos no Tinder porque, em suas palavras, “Eu tenho problemas com definições”. Elementos nem sempre pensados e calculados, destacados dos diversos cenários forjados nos perfis que se sucediam e a remetiam a (ou formavam novas) categorizações e tipificações, para ela atrativas ou repelidas em função de um imaginário de adequação ao seu próprio estilo de vida. Mas também retratou os matches que não se enquadravam nas suas preferências, porque no momento do like não estava suficientemente atenta.
Assim como Lígia, as pessoas recorrentemente descreveram a forma de escolher o outro pelo aplicativo como numa espécie de exercício de triangulação, no qual se observam informações e impressões de traços e referências relativos à beleza, à aparência ou aos traços físicos específicos (barba, olhar, cabelo); indicações de traços estilísticos (forma de vestir, aspecto plástico das fotos, modos que indicavam estilos de vida); identificação de qualidades socioeconômicas, culturais ou morais (fotografias ou descrições insinuando posses materiais, crenças religiosas ou políticas) e identificação dos propósitos no Tinder (indicações implícitas ou explícitas de propósitos sexuais ou afetivos, de busca por relacionamentos duradouros, por amizade, por ver o que rola). Do mesmo modo que os critérios aparecem como fundamentais, em dado momento eles são deixados de lado em prol de um relaxamento em face da ludicidade do aplicativo, da exigência por uma decisão ágil inerente a ele ou da conveniência do momento. Esse jogo paradoxal entre a observação atenta e imaginações de afinidades e um relaxamento de critérios seletivos faz parte do dia a dia do uso do Tinder.
Critérios estabelecidos a partir de tipificações também foram retratados por Gregório. Ele afirmou não curtir fotos de mulheres em lanchas ou demonstrando ter posição econômica elevada: “Pode ser bonita do jeito que for. E eu vou fazer o que com uma mulher de lancha, velho?!”. Assim como ele rejeitava essas referências simbólicas relativas a uma classe social mais abastada, já foi rejeitado por não possuir carro. Contou sobre uma ocasião em que uma pretendente se recusou a sair com ele por este motivo, e do constrangimento que sentiu em um encontro com uma crush26 26 Termo usado em contextos de paquera, que alude à pessoa por quem se tem afeto, se está paquerando/“ficando” ou se quer conquistar. Nos aplicativos de namoro, pode designar a pessoa com quem ocorreu um match. de maior poder aquisitivo. Além da classe, ele também descartava os perfis que indicassem ser a mulher cristã, querer relacionamento sério, ou que deixassem explícito que não queriam apenas curtição (algo que ele mesmo estava disposto a encontrar no app). Assim como na situação de Lígia, para além dos componentes econômicos, fatores de identificação social, moral, política ou mesmo um gosto muito específico podem se combinar e atuar como marcadores de diferença a inibir (ou proporcionar) um like.
Nota-se, porém, que critérios seletivos não são uniformes, na medida em que atravessados pelo potencial de metamorfose de projetos (Velho 2003VELHO, Gilberto. 2003. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.). Sua combinação pode ser compreendida como resultante da interpretação individual de dada situação a partir do ponto de vista dos seus próprios interesses, desejos, opções ideológicas, motivos forjados ao longo de suas trajetórias de vida. Segundo Schütz (1979SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.), a interpretação é condição para a percepção do mundo. Ao agir no mundo da vida, o indivíduo está em constante interpretação dos seus fatos passados e dos ocorridos aos outros, operação que lhe permite conferir sentido a esse mundo e se orientar nele.
Cada marca, signo etc. específico toma uma aparência física, mas nenhuma dessas aparências é em si uma marca, um signo etc. Sua aparência física é meramente um veículo de significado em potencial. Não importa a forma que tenha, uma aparência física torna-se marca ou signo somente em virtude do significado que um ser humano ou grupo de seres humanos lhe atribui. Não existem marcas e signos em si, mas somente marcas e signos para alguém (Schütz 1979:20SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.).
Em simultâneo, interpretação e atitude natural são operacionalizadas através do estoque de conhecimento e dos sistemas de relevância e tipificação. Estes últimos são signos sociais compartilhados norteadores para ação e classificação do mundo, transmitidos culturalmente pela socialização. Atuando como um filtro que categoriza e hierarquiza os elementos de cada situação, esses “amplos domínios de relevâncias” existem como um universo comum de discurso que ajudam a perceber a similaridade entre os eventos e a tipificar ações individuais. Esses sistemas gerais originam tipificações e estrutura de relevâncias individuais que serão usadas pelos indivíduos em suas interpretações e com base em seus próprios interesses e projetos.
Conforme este autor, é por meio do estoque de conhecimento que os indivíduos selecionam os elementos que julgam importantes para compor o sistema de relevância individual. Como o estoque de conhecimentos, esse código de referência particular é um elemento dinâmico, fluido, que vai incorporando novas experiências, outros questionamentos e distintas explicações. Ele se modifica e se alarga no tempo e na dinâmica da vida, e permite a interpretação, a vivência e o trânsito por experiências ambivalentes, como as vivenciadas no ambiente heterogêneo dos apps de relacionamento.
Assim, para Schütz (1979SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.), a produção de significados e os processos interpretativos se dão no embate entre trajetória individual e cultura. São as experiências que o indivíduo acumula ao longo de sua vida o material a formar seu estoque de conhecimentos e seus sistemas de relevância particulares, e a determinar o modo como essa realidade sociocultural se expressará na vida individual. A experiência é, portanto, esse fator agregador do estoque de conhecimentos próprio, que se encontra acessível em função da sua biografia e das vivências acumuladas.
Com base em suas análises e nas narrativas dos meus/minhas interlocutores/as, é possível avaliar que a escolha do outro no Tinder comporta aspectos específicos de aceitação e rejeição, identificação e divergência baseados na experiência biográfica, que dá o solo para as impressões que se têm daquele outro, determinando a continuidade ou a quebra das relações - seja enquanto o outro é um perfil/personagem incógnito, seja quando vai sendo desvendado nas conversas ou visto através das lentes de outras redes sociais que dão pistas sobre ele. É um exercício de seletividade que sinaliza um interesse inicial naquele/a perfil/pessoa, que pode ter fotos desfocadas, um corpo fora dos padrões estéticos, que indique preferências sexuais incomuns, ou seja tímida. A seleção mostra concordância, e ativa no outro uma imaginação de afinidade, aceitação mútua e atração. Esse elemento de imaginação de uma aceitação prévia à presencialidade apareceu como um dos diferenciais do Tinder em relação aos locais off-line de paquera.
De outro modo, o componente imaginativo (Illouz 2011ILLOUZ, Eva. 2011. Amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar .; Miskolci 2017MISKOLCI, Richard. 2017. Desejos digitais: uma análise sociológica da busca por parceiros on-line. Belo Horizonte: Autêntica.) que permeia os encontros on-line, combinado ao mecanismo de sucessão de perfis do Tinder, pode implicar uma outra forma de imaginação: a da abundância de parceiros. Nas palavras de Gregório: “A viagem do Tinder é essa ilusão de que você tem todo aquele leque de opções. Que você não tem. Saca? Aí, quando você compreende isso, tá massa. Mas aí a viagem é quando você não compreende isso. Né? Aí você acha: ‘Eita, tô bombando aqui!’”. Miskolci (2016MISKOLCI, Richard. 2016. “Sociologia Digital: notas sobre pesquisa na era da conectividade”. Contemporânea, 6 (2):275-297., 2017MISKOLCI, Richard. 2017. Desejos digitais: uma análise sociológica da busca por parceiros on-line. Belo Horizonte: Autêntica.), Beleli (2015BELELI, Iara. 2015. “O imperativo das imagens: construção de afinidades nas mídias digitais”. Cadernos Pagu, 44:91-114., 2017BELELI, Iara. 2017. “Reconfigurações da intimidade”. Estudos Feministas, 25 (1):337-346.) e Illouz (2011ILLOUZ, Eva. 2011. Amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar .) trataram de uma economia ou lógica da abundância de parceiros que permearia esses ambientes virtuais. A abundância implicaria, por um lado, uma maior seletividade nas escolhas, também pontuada por Gregório. Mas, seguindo adiante em seu discurso, ele indica que aprendeu a ver esta característica como uma ilusão quando percebeu que a escolha não é apenas sua. Percepção compartilhada por outros/as interlocutores/as. Assim, outro interessante aspecto desse momento é a referência ao caráter relacional da seleção, componente que complexifica uma interação que é sempre um vir a ser, uma incógnita, um potencial. Lígia explicita isso: “Tinham, tinham casos que eram desilusões, assim, eu achava muito interessante, aí ia conversar e não correspondia, ou deixava vácuo, ele não desenvolvia [...] em alguns casos não dava match. Aí eu ficava tristinha”.
O jogo, então, tem como regra a incerteza da ação comunicativa desse outro, no geral, vago e desconhecido, que pode se sentir seduzido a dar continuidade ao match, à conversa, ao encontro, ou pode descombinar ou deixar no vácuo,27 27 Em gíria corrente, deixar no vácuo é não responder a um chamado ou apelo. sem satisfação.
A conversa
Nesses aplicativos é possível escolher a imagem de si para apresentar aos outros, escolher (ou descartar) os demais perfis com base em critérios pessoais, tipificações e relevâncias, o match pode ocorrer, indicando que o outro aprovou seu perfil.28 28 Com isso noto que, a despeito da minha identificação como pesquisadora no perfil do app, eu não só escolhi os homens que entrevistei, mas também fui escolhida por eles, com base em suas próprias relevâncias e tipificações, uma vez que minha imagem informava certo tipo com o qual eles poderiam encontrar afinidades. É provável, então, que eu não tenha dado match com pessoas para as quais meu “tipo” acionasse interpretações de rejeição ou divergência. Nesse sentido, a minha própria escolha como pesquisadora, naquele meio, parece estar sempre circunstanciada pela seleção alheia. E, além disso, pela lógica algorítmica característica do app, que concede às interações através dele o componente de conectividade. A escolha, nesse caso, é um caminho multiarticulado entre processos seletivos humanos e maquínicos. Entretanto, apenas a iniciativa de conversar, seu desenrolar e, quando ocorre, o encontro presencial coroarão as buscas e as escolhas, que são individuais mas dependem das buscas e das escolhas do outro e do cruzamento tecnológico para se completarem. A conversa, quando se dá, permite testar a imaginação de afinidades obtidas pelo perfil.
Cecília (24 anos, universitária), ponderando sobre os aspectos da superficialidade do Tinder, comentou: “Ninguém sabe o que ninguém do Tinder quer [...] Não tem como saber. Você só vai saber conversando”. Para os/as usuários/as, a conversa é o mecanismo que vai dando a conhecer esse outro incerto. Numa relação que se inicia com base nessa incerteza sobre aquele então perfil virtual, a conversa serve de guia para a ação, para situar o outro e estabelecer um possível investimento na continuidade do contato on-line ou sua extensão para o off-line. João reafirmou esta ideia: “Você dar o coração ou o ‘x’ não quer dizer nada até você começar a conversar com a pessoa. [...] Muita gente, pela conversa, né, você vê. Você já sente algo”.
A leveza dos papos e a fluidez da conversa eram determinantes para Cecília continuar a dar atenção ao seu crush. Assim também o disseram outros/as entrevistados/as. É comum o diálogo ser iniciado com um script, que no geral abrange cumprimentos e perguntas pessoais básicas, como onde e com quem mora, o que gosta de fazer, com o que trabalha. Entre abordagens mais sutis, abordagem mais direcionada ou o apelo à criatividade, esse momento da conversa on-line é determinante como uma segunda barreira a demarcar ou a validar critérios de aceitação ou rejeição do interlocutor que não foram percebidos no perfil; é um momento de reafirmar ou abandonar certa imaginação anteriormente formulada.
Para Carvalheiro, Prior e Morais (2015CARVALHEIRO, José; PRIOR, Hélder & MORAIS, Ricardo. 2015. “Público, privado e representação online”. In: José R. Carvalheiro (org.), A nova fluidez de uma velha dicotomia: Público e privado nas comunicações móveis. Covilhã: UBI, LabCom. pp. 7-28.), percepção do outro e estabelecimento de ligações passam, por um lado, pelo que se diz nesses ambientes. Assim, no transcurso da conversa, critérios e motivações vão sendo revelados e testados. Carolina apontou que, com a experiência acumulada em sucessivos diálogos, era possível perceber, por exemplo, se o interesse da pessoa era apenas sexual, mesmo que este não fosse professado: “o próprio papo mostra isso, mostra essa intenção”. Por outro lado, a relação pode se estabelecer a partir do que se mostra sobre si, sua autoapresentação, que ajuda a gerar ou não empatia, a seduzir ou não. A conversa é “um jogo de desvendamentos” (2015:17CARVALHEIRO, José; PRIOR, Hélder & MORAIS, Ricardo. 2015. “Público, privado e representação online”. In: José R. Carvalheiro (org.), A nova fluidez de uma velha dicotomia: Público e privado nas comunicações móveis. Covilhã: UBI, LabCom. pp. 7-28.) mútuo.
O papo que flui é uma troca em proporções satisfatórias. Assim concluiu o estudo de Figueiredo (2016FIGUEIREDO, Lígia. 2016. Tinderelas: busca amorosa por meio de aplicativos para smartphones. Tese de Doutorado em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.) sobre usuárias do Tinder. Segundo ela, um dos atributos que mais gabaritavam as mulheres para exercer uma sociabilidade mais dinâmica naquele meio foi a modulação da revelação da intimidade proporcional à autorrevelação do outro. Ao atentar para esse componente da modulação da preservação/revelação da intimidade, Figueiredo toca num ponto essencial para a fluidez do papo a que meus/minhas interlocutores/as se referiam, e num aspecto determinante na vontade ou na escolha em conhecer pessoalmente. Aqueles que conseguiam melhor modular a autorrevelação de si e de suas afinidades com a do outro pareciam obter maior sucesso no processo de sedução. Vejamos como Gregório coloca a situação:
Mas, ah, tem conversa que bate, né? Tem conversa que... Algumas conversas você começa a conversar e o assunto vai rolando, vai surgindo, a pessoa devolve o assunto, você puxa e vai. Aí você se interessa pela pessoa, né? “Pô, é uma pessoa bacana”. [...] Tem conversa que flui bem massa. Eu falo: “Pô que massa”. É uma pessoa que eu sairia e que, se não rolar nada, tipo, contribuiu, trouxe um assunto novo, trouxe uma informação nova, e foi massa, foi agradável.
Conforme Schütz (1979SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.), o processo de escolha do outro está calcado num sentido comum culturalmente construído, em experiências passadas e no estoque de conhecimento delas derivadas, como visto anteriormente. O mesmo pode ser dito para esse processo de troca constituído nas conversas. Entretanto, o fluxo da ação é um projeto em aberto; ao serem rememoradas, as experiências passadas são continuamente interpretadas e reinterpretadas, inclusive, com base em seus propósitos atuais e no embate com os outros, que, como disse Gregório, podem contribuir com algo novo. Desta forma, as interações nesse ambiente permitem às pessoas se influenciarem mutuamente e deslocar e refazer projetos, ou se experimentarem (Turkle 1995TURKLE, Sherry. 1995. Life on the screen: Identity in the age of Internet. New York: Simon & Schuster.).
Desse modo, para Cecília, quando o papo não desenrolava, os critérios e as afinidades iniciais que levaram ao match já não eram suficientes. Contou-me de alguém com quem deu match e que satisfazia várias de suas predileções - “muito, muito, muito inteligente, de cabelo cacheado, com barba [...] Ele era alternativo, curtia música, curtia reggae, curtia rock, tava num doutorado”. Entretanto, o desenrolar da conversa foi tão decepcionante que a fez reformular suas predileções e criar novos modelos de seleção para matches futuros. Nesse sentido, as interações, mesmo as conversas virtuais, podem propiciar deslocamentos e (re)descobertas de si.
Diante da incerteza de um perfil vago e do desenrolar do match, a conversa segue um percurso exploratório no sentido de dar um formato, mesmo que ainda virtual, a ambos os perfis que interagem e vão se tornando, um para o outro, uma pessoa com a qual se possa seguir conversando, encontrar ou relacionar-se afetiva e/ou sexualmente. É na conversa que vai se delineando esse senso de situação, o enquadramento que confrontará as expectativas e as afinidades e dirá se a relação continuará e como (em que termos) continuará. A incerteza segue até o momento do encontro presencial, se e quando ele acontecer. Mas falar sobre esse encontro é tema para uma próxima conversa.
Considerações finais
No Tinder, buscas e interações seguem fluxos que correlacionam experiências on-line e uma diversidade de interesses, motivações, expectativas entre os envolvidos, relações estas que, conforme Velho (2003VELHO, Gilberto. 2003. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.), configuram um jogo tenso e conflituoso que abre um mundo de possibilidades de criação de espaços, atuações, situações muitas vezes díspares ou antagônicas, que têm no uso do aplicativo de encontros o seu solo.
O aplicativo se mostrou uma alternativa na busca de conversas, de conhecer pessoas, de ludicidade, de namoros, de sexo, que coexistem com outras num campo de possibilidades que envolvem diferentes ambientes virtuais e presenciais. Entretanto, o Tinder comporta mecanismos inerentes ao ambiente digital e à sua própria dinâmica enquanto plataforma específica, mecanismos estes que implicam modificações e diferenças em relação à interação iniciada na presencialidade. O modo como a seleção inicial se processa, por exemplo, é um deles: nesses apps, um perfil virtual, uma metaidentidade construída no aplicativo, seleciona outras metaidentidades ali forjadas, num movimento que pode incentivar tanto uma maior atenção como uma maior agilidade na escolha, já que apenas assim se pode passar ao perfil - escolha - seguinte. Essa escolha, por sua vez, pode ser feita em casa, antes de dormir, ou numa balada. E sua efetivação é circunstanciada pelo like - escolha - do outro em um momento qualquer em que ele se motive a usar o instrumento e ocorra um match.
O jogo relacional, assim, tem começo com a elaboração (ou possíveis reelaborações) de um perfil virtual próprio, no qual se sustentam determinadas faces, passando para a observação de outros perfis e seu enquadre a critérios que tentam correlacionar a imaginação de interesses e afinidades comuns, chegando, às vezes, a se estender para uma conversa na qual é possível tentar se mostrar, seduzir, demonstrar seus interesses, negociar com, desvendar esse outro, em geral um estranho, e avaliar a validade de um encontro presencial possível - ocorrências estas passíveis de serem levadas adiante ou morrer no match, ou no chat, dependendo dos vaivéns comunicativos estipulados e desenvolvidos, do que eles revelam ou ocultam.
No decorrer das interações, as minhas próprias e as dos meus informantes, ficou perceptível que não apenas a sucessão, mas também o refazer e a inter-relação dessas operações - montar seu perfil, analisar ou passar os perfis alheios e manter diálogos com as pessoas on-line -, que fazem parte da vivência do Tinder, acabam por implicar um processo de socialização, de aprendizado mesmo sobre os modos de ser e fazer naquele ambiente específico. Esse movimento permanente de fazer, desfazer e refazer perfis e interações pelo meio digital Tinder e nos encontros por ele proporcionados acarretam e retroalimentam conhecimentos que impactam tanto o uso dessa ferramenta como a extrapolam; vai-se aprendendo a lidar com tais situações e com situações semelhantes que capazes de ocorrer fora daquele ambiente. Experienciar o Tinder, portanto, não é tão somente performar a racionalização (das escolhas, das formas de se mostrar ao outro) ou o consumo do outro, é, antes, um exercício tateante e heterogêneo de experimentação de si, das potencialidades do próprio aplicativo e do outro relacional.
Referências bibliográficas
- BARTH, Fredrik. 2000. “A análise da cultura das sociedades complexas”. In: T. Lask (org.), O Guru, o Iniciador e Outras Variações Antropológicas Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. pp. 107-139.
- BAUMAN, Zygmunt. 2003. Modernidade Líquida Rio de Janeiro: Zahar.
- BAUMAN, Zygmunt. 2004. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos Rio de Janeiro: Zahar .
- BELELI, Iara. 2015. “O imperativo das imagens: construção de afinidades nas mídias digitais”. Cadernos Pagu, 44:91-114.
- BELELI, Iara. 2017. “Reconfigurações da intimidade”. Estudos Feministas, 25 (1):337-346.
- BON, Olga. 2015. “Interações sociais em ambientes digitais: um estudo sobre blogs de moda a partir de Goffman”. Novos Olhares, 4 (2):91-100.
- BOURDIEU, Pierre. 1999. “Condição de classe e posição de classe”. In: BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas São Paulo: Ed. Perspectiva.
- CAMARGO, Hertz. 2015. “As teias e os corpos: ensaio sobre o amor e o sexo no tempo das tecnologias”. In: H. W. de Camargo & S. R. V. Mansano, (orgs.), Consumo e modos de vida 2. ed. Londrina: Syntagma Editores. pp. 41-62.
- CARTER, Michael & ASENCIO, Emily. 2018. “Identity Processes in Face-to-Face and Digitally Mediated Environments”. Sociological Perspectives, 62 (2):1-20.
- CARVALHEIRO, José; PRIOR, Hélder & MORAIS, Ricardo. 2015. “Público, privado e representação online”. In: José R. Carvalheiro (org.), A nova fluidez de uma velha dicotomia: Público e privado nas comunicações móveis Covilhã: UBI, LabCom. pp. 7-28.
- CERTEAU, Michel de. 1998. A Invenção do Cotidiano Petrópolis: Vozes.
- COUTO, Edvaldo; SOUZA, Joana & NASCIMENTO, Sirlaine. 2013. “Grindr e Scruff: amor e sexo na cibercultura”. Simpósio em Tecnologias Digitais e Sociabilidade Salvador.
- DELA COLETA, Alessandra; DELA COLETA, Marilia & GUIMARÃES, José. 2008. “O Amor Pode Ser Virtual? O Relacionamento Amoroso pela Internet”. Psicologia em Estudo, 13 (2):277-285.
- DI FELICE, Massimo. 2012. “Redes sociais digitais, epistemologias reticulares e a crise do antropomorfismo social”. Revista USP, 92:9-19.
- DIJCK, José van. 2013. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media Oxford: Oxford University Press.
- FIGUEIREDO, Lígia. 2016. Tinderelas: busca amorosa por meio de aplicativos para smartphones Tese de Doutorado em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
- GOFFMAN, Erving. 1985[1959]. A representação do Eu na vida cotidiana Petrópolis: Vozes .
- GOFFMAN, Erving. 2011[1967]. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face Petrópolis: Vozes .
- HINE, Christine. 2015. Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and Everyday London: Bloomsbury.
- ILLOUZ, Eva. 2011. Amor nos tempos do capitalismo Rio de Janeiro: Zahar .
- INGOLD, Tim. 2015. “Antropologia não é Etnografia”. In: T. Ingold, Estar Vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição Petrópolis: Vozes .
- JENSEN, Casper. 2017. “New ontologies? Reflections on some recent ‘turns’ in STS, anthropology and philosophy”. Social Anthropology, 25 (4):525-545.
- LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2011. “Estar e não estar lá, eis a questão: pesquisa etnográfica no Second Life”. Cronos, 12 (2):23-38.
- LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2017. “Etnografia em Ambientes Digitais: Perambulações, Acompanhamentos e Imersões”. Revista Antropolítica, 42:41-65.
- LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2018. “Gênero, sexualidade e experimentação de si em plataformas digitais on-line”. Civitas, 18 (1):171-186.
- LÉVY, Pierre. 1999. Cibercultura São Paulo: Editora 34.
- MAIA, J. & BIANCHI, E. 2014. “Tecnologia de geolocalização: Grindr e Scruff redes geosociais gays”. Revista Logos, 2 (24).
- MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22):111-127.
- MILLER, Daniel & HORST, Heather A. 2015. “O Digital e o Humano: prospecto para uma Antropologia Digital”. Parágrafo, 2 (3).
- MISKOLCI, Richard. 2014. “Negociando visibilidades: segredo e desejo em relações homoeróticas masculinas criadas por mídias digitais”.Bagoas, 8 (11):51-78.
- MISKOLCI, Richard. 2016. “Sociologia Digital: notas sobre pesquisa na era da conectividade”. Contemporânea, 6 (2):275-297.
- MISKOLCI, Richard. 2017. Desejos digitais: uma análise sociológica da busca por parceiros on-line Belo Horizonte: Autêntica.
- NASCIMENTO, Carlize. 2007. Do amor em tempos de internet: análise sociológica das relações amorosas mediadas pela tecnologia Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade Federal do Paraná.
- PARREIRAS, Carolina. 2008. Sexualidades no ponto.com: espaços e homossexualidades a partir de uma comunidade on-line Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas.
- PELÚCIO, L. 2016. “Afetos, mercado e masculinidades contemporâneas: notas inicias de uma pesquisa em aplicativos móveis para relacionamentos afetivos/sexuais”. Contemporânea , 6 (2):309-333.
- RAMOS, Jair. 2015. “Subjetivação e poder no Ciberespaço: da experimentação à convergência identitária na era das redes sociais”. Vivência, 45:57-76.
- SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.
- SCHÜTZ, Alfred & LUCKMANN, Thomas. 2003. Las estructuras del mundo de la vida Buenos Aires: Amorrortu Editores. pp. 7-40.
- SANTOS, Sheila Cavalcante dos. 2018. Curtir ou não curtir: experimentações a partir do Tinder Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade Federal da Paraíba.
- SEAVER, Nick. 2017. “Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic systems”. Big Data & Society, 1 (12).
- SEGATA, Jean. 2016. “Dos Cibernautas às Redes”. In: J. Segata & T. Rifiotis (orgs.), Políticas etnográficas no campo da cibercultura Brasília: ABA Publicações; Joinville: Letradágua.
- SILVA, Vergas & TAKEUTI, Norma. 2010. “Romance na Web: formas de experimentar o amor romântico num namoro virtual”. RBSE, 26 (9):398-451.
- SIMMEL, George. 2006[1917]. Questões Fundamentais da sociologia. Indivíduo e sociedade Rio de Janeiro: Zahar .
- STRATHERN, Marilyn. 2014[1989]. “O conceito de sociedade está teoricamente obsoleto?”. In: STRATHERN, Marilyn, O efeito etnográfico e outros ensaios São Paulo: Cosac Naify.
- THIBES, Mariana & MANCINI, Pedro. 2013. “A apresentação do eu na sociabilidade virtual: a economia libidinal da amizade”. IDE, 35 (55):149-163.
- TURKLE, Sherry. 1995. Life on the screen: Identity in the age of Internet New York: Simon & Schuster.
- VELHO, Gilberto. 2003. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- VIEIRA, Cibele & COHN, Clarice. 2008. “Amor Contemporâneo e Relações na Internet. Ausência do Corpo nas Relações”. RBSE , 19:72-117.
Notas
-
1
João e todos os/as demais interlocutores/as citados/as tiveram seus nomes alterados.
-
2
Usarei como sinônimo os termos apps de encontro, de paquera, de namoro e de relacionamento, denominações corriqueiras para tais programas.
-
3
Recurso móvel de localização geográfica em tempo real por meio do GPS - Sistema de Posicionamento Global. Permite que os aplicativos acessem sua localização, possibilitando tanto ao usuário detectar locais do seu interesse - tomando como referência a sua própria localização ou outra por ele especificada - como possibilitando que outros o localizem. O recurso está presente em diversos programas para mobile, destinados a encontrar comércios, ruas, pessoas etc.
-
4
A pesquisa foi desenvolvida durante o curso do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do prof. Dr. Mauro Guilherme Pinheiro Koury, intitulada Curtir ou não curtir: experimentações a partir do Tinder.
-
5
Deixo de lado, assim, uma discussão sobre os encontros - outra dimensão da experiência proporcionada pelo app, e que demarca a saída do on-line para o off-line. Interessante comentar que o encontro presencial, apesar de ser uma finalidade identificada pelos idealizadores do aplicativo, nem sempre ocorre - e, em alguns casos, não faz parte dos objetivos de quem está usando o programa.
-
6
Vide: Bauman (2003BAUMAN, Zygmunt. 2003. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar., 2004BAUMAN, Zygmunt. 2004. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar .); Illouz (2011ILLOUZ, Eva. 2011. Amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar .); Camargo (2015CAMARGO, Hertz. 2015. “As teias e os corpos: ensaio sobre o amor e o sexo no tempo das tecnologias”. In: H. W. de Camargo & S. R. V. Mansano, (orgs.), Consumo e modos de vida. 2. ed. Londrina: Syntagma Editores. pp. 41-62.), entre outros.
-
7
Situo a agência do aplicativo nos debates travados pelos estudos da ciência e da tecnologia (STS), antropologia e filosofia que, a partir da década de 1990, constituíram o que se chamou de virada ontológica - ou viradas ontológicas, conforme Jensen (2017JENSEN, Casper. 2017. “New ontologies? Reflections on some recent ‘turns’ in STS, anthropology and philosophy”. Social Anthropology, 25 (4):525-545.). De formas distintas, tais estudos questionaram os grandes divisores nós-eles, sujeito-objeto, natureza-cultura, humanos-não humanos, propondo, alternativamente, as possibilidades de diversos modos de existência, agência e produção de realidades, inclusive por não humanos. Neste caso, trato da capacidade agentiva dos aparatos tecnológicos digitais, que propiciam determinados modos de uso e engajamento (Dijck 2013DIJCK, José van. 2013. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford: Oxford University Press.; Leitão & Gomes 2018LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2018. “Gênero, sexualidade e experimentação de si em plataformas digitais on-line”. Civitas, 18 (1):171-186.), sendo, por isso, temas etnográficos relevantes.
-
8
Sigo aqui as indicações de Tim Ingold (2015INGOLD, Tim. 2015. “Antropologia não é Etnografia”. In: T. Ingold, Estar Vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes .), para quem a condição de ser no mundo inclui também a capacidade de os seres sentirem e responderem a um ambiente que está em constante fluxo. Ambiente no qual estão em relação coisas e pessoas que geram sua existência mútua, num processo dinâmico, contínuo e transformativo.
-
9
Na linguagem do aplicativo, o match ou combinação ocorre quando duas pessoas curtem mutuamente o perfil da outra.
-
10
Em Etnografia em Ambientes Digitais: perambulações, acompanhamentos e imersões, Leitão e Gomes tecem interessantes considerações sobre diferentes abordagens etnográficas em ambientes digitais, demandadas pelas diferenças estruturais das dinâmicas das distintas plataformas. Elas compreendem que, diferente das preambulações e acompanhamentos, a imersão se daria em arquiteturas digitais que proporcionam agenciamentos suficientemente fortes para influir nos regimes de self dos participantes, inclusive pesquisadores, o que não seria o caso dos aplicativos aqui estudados. Proponho, neste trabalho, que todo o processo dialógico de interação, aprendizado, construção de intensas relações é proporcionado por um campo que também aciona desejos íntimos, emoções e imaginações sobre o outro, criando um ambiente no qual a imersão - no sentido empregado pelas autoras - pode se estabelecer. Tal potencialidade parece estar tanto ligada aos fatores agenciadores das plataformas (propiciando continuidades ou descontinuidades com o ambiente off-line) como também aos modos (mais ou menos exploratórios ou penetrantes) pelos quais o pesquisador (ou usuário) se conecta a elas. Larissa Pelúcio também dá pistas nesta direção, ao indicar como “vai-se construindo relações densas” (2016:322PELÚCIO, L. 2016. “Afetos, mercado e masculinidades contemporâneas: notas inicias de uma pesquisa em aplicativos móveis para relacionamentos afetivos/sexuais”. Contemporânea , 6 (2):309-333.) nos diálogos iniciados nos aplicativos e ao tematizar o componente das tensões e das negociações das expectativas e dos desejos em campo, um jogo no qual se está testando, avaliando e impactando as subjetividades envolvidas na relação, inclusive a da pesquisadora.
-
11
Na época da pesquisa, em ciências sociais e relacionadas ao contexto brasileiro foram poucas as publicações que encontrei sobre o uso desses apps. No geral, as pesquisas neste campo tematizavam homens que buscavam homens em plataformas específicas para eles (vide: Miskolci 2014MISKOLCI, Richard. 2014. “Negociando visibilidades: segredo e desejo em relações homoeróticas masculinas criadas por mídias digitais”.Bagoas, 8 (11):51-78.; Maia & Bianchi 2014MAIA, J. & BIANCHI, E. 2014. “Tecnologia de geolocalização: Grindr e Scruff redes geosociais gays”. Revista Logos, 2 (24).; Kurashige 2014, entre outros). Devido a essa lacuna documental e por compreender que havia diferenças entre a prática do hookup documentada para esse público e as experiências heteronormativas no aplicativo, fiz essa delimitação. Interessante notar que, recentemente, usuários/as vêm acusando o Tinder de promover a transfobia (Vide: https://www.agazeta.com.br/entretenimento/famosos/tinder-e-acusado-de-transfobia-por-artista-e-usuarios-relatam-exclusao-de-perfis-0720) - uma mostra de que as experiências LGBTI+ nesses apps continuam a ser um instigante tema para pesquisas.
-
12
Vide: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/12/11/interna_tecnologia,402827/ aplicativo-tinder-vira-febre-no-brasil-confira-entrevista-com-o-cofundador.shtml.
-
13
Vide: https://olhardigital.com.br/pro/noticia/criador-do-tinder-brasileiro-e-ocupado-demais-para-encontrar-nam oro/ 38499.
-
14
Lembro ao leitor que tecnologias comunicativas como os apps de paquera podem sofrer rápidas alterações infraestruturais ou de layout. As descrições que seguem retratam o programa tal qual se encontrava no momento da pesquisa.
-
15
Em 2019, o Tinder publicou em seu blog notas sobre o Powering Tinder, método pelo qual o algoritmo do programa funciona (Vide: https://blog.gotinder.com/powering-tinder-r-the-method-behind-our-matching/). Não me aprofundarei aqui nessa operação algorítmica. Indico apenas que ela produz efeitos sobre as interações dos/as usuários/as, ao passo que o uso pode alterá-la.
-
16
Projeto aqui, no sentido empregado por Velho (2003:40), como “conduta organizada para atingir finalidades específicas”, um modo de antecipação futura da trajetória. Projetar não é um ato linear, homogêneo ou estanque, pois se concretiza em referência à multiplicidade de alternativas de interação com outros, dentro de um campo de possibilidades. “Campo de possibilidades trata do que é dado com as alternativas construídas do processo socio-histórico e com o potencial interpretativo do mundo simbólico da cultura. O projeto no nível individual lida com a performance, as explorações, o desempenho e as opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade” (Velho 2003:28VELHO, Gilberto. 2003. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.).
-
17
Vide: https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/veja-cinco-dicas-para-se-dar-bem-nos-aplicativos-de-paquera-nesse-dia-dos-namorados.ghtml.
-
18
Outros autores o fizeram em relação ao uso de redes sociais. Vide: Thibes 2013THIBES, Mariana & MANCINI, Pedro. 2013. “A apresentação do eu na sociabilidade virtual: a economia libidinal da amizade”. IDE, 35 (55):149-163.; Bon 2015BON, Olga. 2015. “Interações sociais em ambientes digitais: um estudo sobre blogs de moda a partir de Goffman”. Novos Olhares, 4 (2):91-100.; Carvalheiro, Prior & Morais 2015CARVALHEIRO, José; PRIOR, Hélder & MORAIS, Ricardo. 2015. “Público, privado e representação online”. In: José R. Carvalheiro (org.), A nova fluidez de uma velha dicotomia: Público e privado nas comunicações móveis. Covilhã: UBI, LabCom. pp. 7-28..
-
19
“O termo fachada pode ser definido como o valor positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assume durante um contato particular” (Goffman 2011[1967]:13GOFFMAN, Erving. 2011[1967]. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis: Vozes .).
-
20
Vide: Illouz 2011ILLOUZ, Eva. 2011. Amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar .; Ramos 2015RAMOS, Jair. 2015. “Subjetivação e poder no Ciberespaço: da experimentação à convergência identitária na era das redes sociais”. Vivência, 45:57-76.; Beleli 2015BELELI, Iara. 2015. “O imperativo das imagens: construção de afinidades nas mídias digitais”. Cadernos Pagu, 44:91-114.; Leitão & Gomes 2018LEITÃO, Débora & GOMES, Laura. 2018. “Gênero, sexualidade e experimentação de si em plataformas digitais on-line”. Civitas, 18 (1):171-186..
-
21
Vide: Couto, Souza &Nascimento 2013COUTO, Edvaldo; SOUZA, Joana & NASCIMENTO, Sirlaine. 2013. “Grindr e Scruff: amor e sexo na cibercultura”. Simpósio em Tecnologias Digitais e Sociabilidade. Salvador.; Camargo 2015CAMARGO, Hertz. 2015. “As teias e os corpos: ensaio sobre o amor e o sexo no tempo das tecnologias”. In: H. W. de Camargo & S. R. V. Mansano, (orgs.), Consumo e modos de vida. 2. ed. Londrina: Syntagma Editores. pp. 41-62.; Pelúcio 2016PELÚCIO, L. 2016. “Afetos, mercado e masculinidades contemporâneas: notas inicias de uma pesquisa em aplicativos móveis para relacionamentos afetivos/sexuais”. Contemporânea , 6 (2):309-333..
-
22
Estratégia, segundo Certeau (1998:99CERTEAU, Michel de. 1998. A Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Vozes.), é o “cálculo (ou a manipulação) das relações de força” feito por um sujeito “de querer e poder”, uma racionalização possível quando se tem consciência do que lhe é próprio, logo, se pode “gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças”. Já na tática esse cálculo da ação ocupa um lugar de não autonomia, é feito “golpe por golpe, lance por lance”, aproveitando as ocasiões e respondendo proativamente a elas. Tomo de empréstimo esse par não como oposição, mas em sua possibilidade de gradação, como uma matriz de possibilidades em que ambos os movimentos são dinamicamente tensivos e combináveis.
-
23
Vide Santos (2018SANTOS, Sheila Cavalcante dos. 2018. Curtir ou não curtir: experimentações a partir do Tinder. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade Federal da Paraíba.) para saber mais sobre tais motivações, assim como a possibilidade de estas serem múltiplas e modificadas em função do momento de vida e expectativas íntimas dos/as interlocutores/as.
-
24
Nas relações contemporâneas digitalmente mediadas, a possibilidade de facilitar a autorrevelação ao outro e a expressão de um eu mais autêntico já foram exploradas em estudos que tematizaram outras redes sociais (Nascimento 2007NASCIMENTO, Carlize. 2007. Do amor em tempos de internet: análise sociológica das relações amorosas mediadas pela tecnologia. Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade Federal do Paraná.; Dela Coleta; Dela Coleta & Guimarães 2008DELA COLETA, Alessandra; DELA COLETA, Marilia & GUIMARÃES, José. 2008. “O Amor Pode Ser Virtual? O Relacionamento Amoroso pela Internet”. Psicologia em Estudo, 13 (2):277-285.; Vieira & Cohn 2008VIEIRA, Cibele & COHN, Clarice. 2008. “Amor Contemporâneo e Relações na Internet. Ausência do Corpo nas Relações”. RBSE , 19:72-117.; Silva & Takeuti 2010SILVA, Vergas & TAKEUTI, Norma. 2010. “Romance na Web: formas de experimentar o amor romântico num namoro virtual”. RBSE, 26 (9):398-451.). Trago essa discussão aqui não para debater a natureza de um self real versus um self digital. A intenção é mostrar formas de apresentação do eu que podem passar tanto pela performance de fantasias identitárias como pela ampliação ou a valorização de aspectos identitários existentes ou traços bibliográficos específicos.
-
25
Para Schütz (1979SCHÜTZ, Alfred. 1979. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. pp. 3-76.), os indivíduos vivenciam cotidianamente um fluxo de eventos e agem sobre eles a partir de sua situação biográfica determinada, o que torna sua experiência única dentre as outras, pois sua ação na interpretação do mundo e no próprio mundo é percebida através das lentes de suas vivências anteriores. Desta forma, seus atos são orientados tanto pelo seu estoque de conhecimentos - um acervo pessoal das experiências de dada situação que, uma vez vivida, é inserida em sua biográfica - quanto pelas dinâmicas culturais que lhe são basilares, sendo as primeiras proporcionadas em meio às segundas.
-
26
Termo usado em contextos de paquera, que alude à pessoa por quem se tem afeto, se está paquerando/“ficando” ou se quer conquistar. Nos aplicativos de namoro, pode designar a pessoa com quem ocorreu um match.
-
27
Em gíria corrente, deixar no vácuo é não responder a um chamado ou apelo.
-
28
Com isso noto que, a despeito da minha identificação como pesquisadora no perfil do app, eu não só escolhi os homens que entrevistei, mas também fui escolhida por eles, com base em suas próprias relevâncias e tipificações, uma vez que minha imagem informava certo tipo com o qual eles poderiam encontrar afinidades. É provável, então, que eu não tenha dado match com pessoas para as quais meu “tipo” acionasse interpretações de rejeição ou divergência. Nesse sentido, a minha própria escolha como pesquisadora, naquele meio, parece estar sempre circunstanciada pela seleção alheia. E, além disso, pela lógica algorítmica característica do app, que concede às interações através dele o componente de conectividade. A escolha, nesse caso, é um caminho multiarticulado entre processos seletivos humanos e maquínicos.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Set 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
03 Abr 2020 -
Aceito
05 Maio 2021
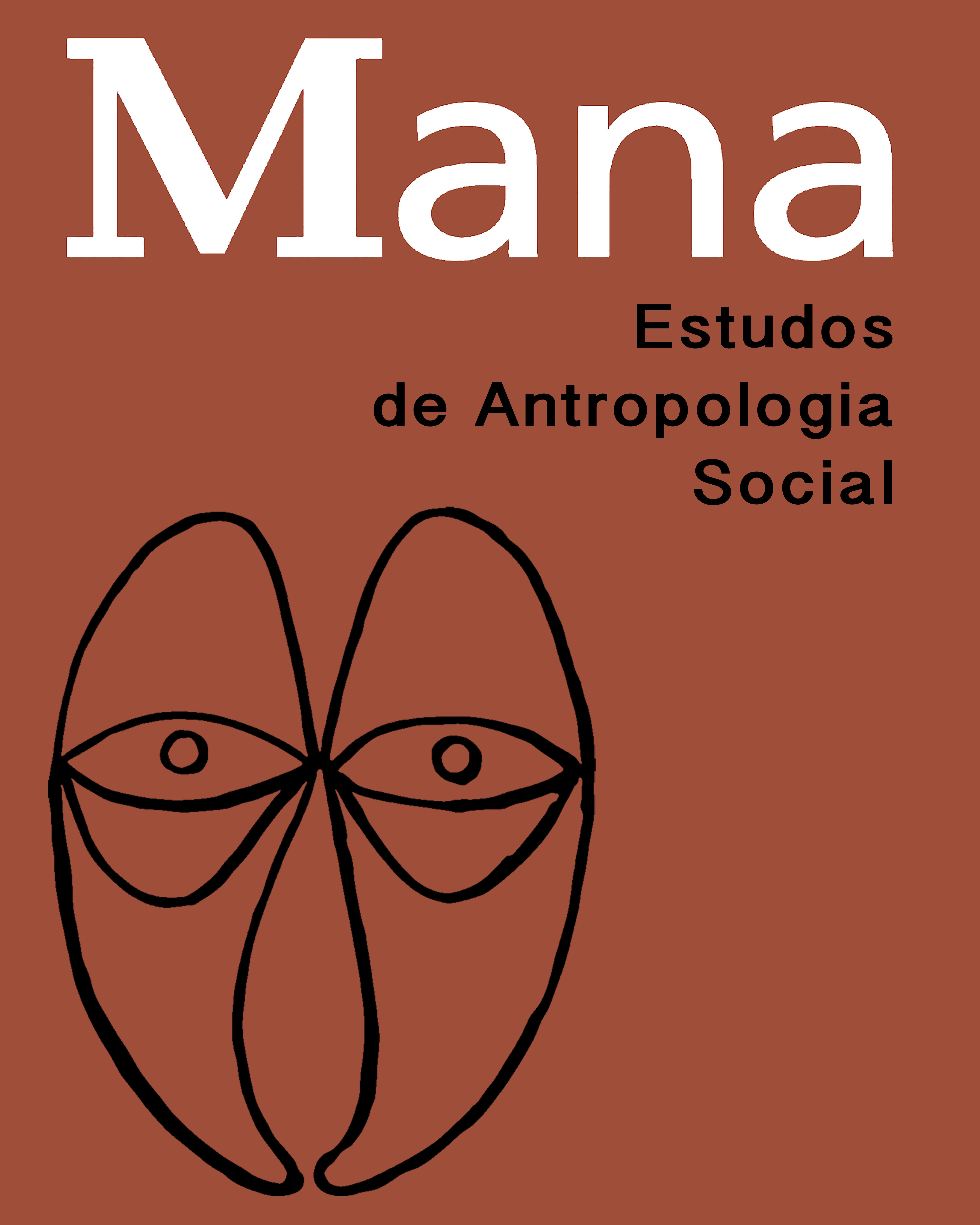


 Fonte: Tinder
Fonte: Tinder