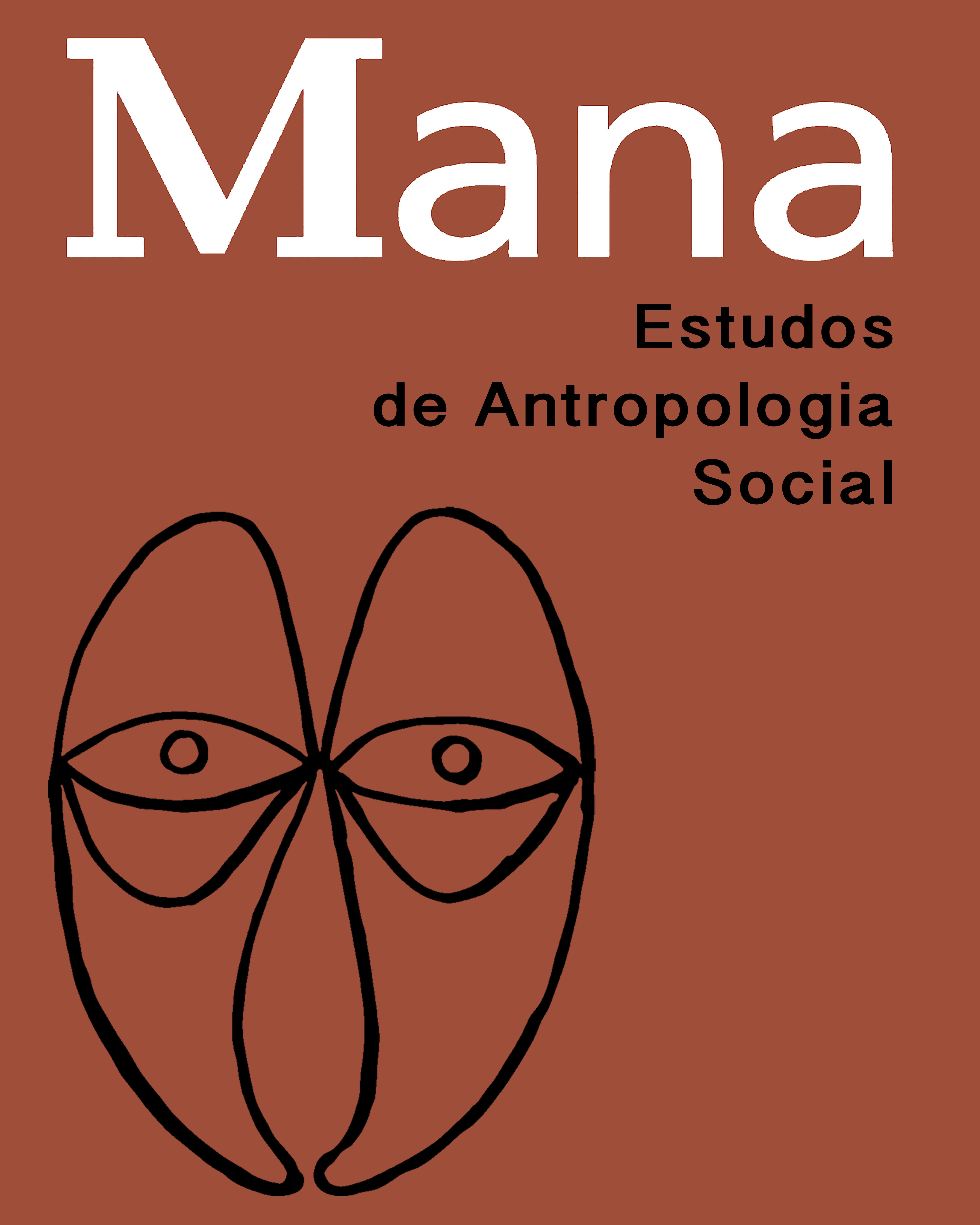A antropóloga Elana Buch, professora da Universidade de Iowa/EUA, recentemente publicou um artigo na revista Annual Review of Anthropology (2015BUCH, Elana. 2015. “Anthropology of Aging and Care”. Annual Review of Anthropology, 44 (1):277-293.) sintetizando debates antropológicos sobre envelhecimento e cuidado. A autora dialoga com trabalhos que observam como as relações de cuidado e interdependência constituem pessoas, criando diversas formas de envelhecer. Mas também com trabalhos que observam as divisões e as distinções articuladas junto das políticas de provimento de cuidado do envelhecimento, que colocam em cena distintos regimes de humanidade e necessidade de cuidado, atualizando e criando novas desigualdades nesses processos de interdependência. No lugar de optar por uma dessas abordagens, ou por apontar limites e saídas de cada uma delas, Buch se propõe a observá-las como aspectos complementares do que o cuidado relacionado ao envelhecimento pode produzir. Nesse esforço, a autora atualizou e provocou antigos debates no campo da antropologia do cuidado (care) e do envelhecimento.
Buch desenvolveu sua abordagem com maior densidade no livroBUCH, Elana. 2018. Inequalities of aging: paradoxes of independence in American Home Care. New York: New York University Press. 263 pp. objeto desta resenha. Em seus capítulos, remonta a um trabalho de pesquisa, realizado entre 2006 e 2008, em documentos, centros de treinamento e acompanhamento de cotidianos em casas de pessoas idosas que contratam serviços de home care públicos e privados em Chicago/EUA. Neles, a autora mescla o interesse por acompanhar práticas de cuidado cotidianas e habilidades relacionais constituídas com moralidades públicas sobre o cuidado ideal - que assegura a independência - e a composição de um conjunto de trabalhadoras que fazem tais atividades por salários que as localizam em posições de vulnerabilidade econômica. Em seu trabalho, a vulnerabilidade não tem um significado, ou personificação, único e óbvio.
O livro é intensamente etnográfico. Buch inicia-o com um relato, levando o leitor a olhar para como as cuidadoras usam seus corpos e suas experiências relacionais com idosos com os quais convivem para garantir modos de vida confortáveis e como, além disso, com seu trabalho, fazem com que tais idosos sejam observados em suas redondezas e relações enquanto pessoas independentes, que conseguem manter suas casas e modos de vida, mesmo que precisem de auxílios diários.
A autora, então, nos descreve dois programas estatais que manejam um banco de cuidadoras profissionais a serem contratadas para manter pessoas idosas vivendo em suas casas nos EUA, programas estes que são constantemente acusados de aumentar impostos, de possuir longas listas de espera e de representar um alto custo público. Todas estas razões servem ainda para que o salário das funcionárias contratadas seja mantido baixo. Tal provimento de salário, combinado com pouco acesso a benefícios de saúde, educação e habitação, localizam essas trabalhadoras - majoritariamente imigrantes e mulheres americanas negras - em classes baixas. E, por isso, dependentes do Estado, na narrativa pública americana.
Ao iniciar com essas duas problemáticas, a autora defende-se de supostas perguntas que localizariam seu trabalho na perspectiva dos problemas enfrentados por trabalhadoras de cuidado remuneradas, ou na perspectiva do problema de idosos que necessitam de auxílios e se veem sem possibilidades de acessá-los de forma qualificada. Afirma, em lugar disso, que ambos os problemas e dilemas estão interconectados.
Para tanto, nos apresenta o principal conceito com o qual vai desenvolver seu livro: o “trabalho generativo”. Ao optar pelo termo, pretende sublinhar duas concepções principais. Primeiro, que práticas cotidianas que sustentam vidas estão necessariamente conectadas com políticas econômicas e, segundo, que o trabalho generativo cria diferentes coisas; no caso analisado por ela, cria tanto pessoas e possibilidades de manter modos de vida como pobreza e desigualdade.
O livro divide-se em seis capítulos. Os dois iniciais nos apresentam os principais interlocutores da autora e seus dilemas. O primeiro deles dialoga com o que pessoas idosas endentem por bom cuidado e independência. Ele nos mostra como tais noções variam, especialmente porque se aproximam da possibilidade de manter modos de viver e certa continuidade pessoal, que pode envolver mais ou menos relações e os mais variados afetos. No próximo capítulo, Buch relata processos econômicos e políticos que empregaram de modo desproporcional mulheres negras e, posteriormente, imigrantes nos sustentos das casas e das pessoas nos EUA. A pobreza dessas mulheres e as ameaças aos seus cotidianos são trazidas ao texto, e elas continuam sendo intensificadas pelos baixos salários do emprego de cuidado. Buch também dialoga com habilidades constituídas por tais mulheres, exatamente por se dedicarem ao cuidado em suas casas e no trabalho, algumas, inclusive, por gerações.
O capítulo três é desenvolvido a partir de observações em cursos de formação de cuidadoras e de decisões de gestão sobre como distribuí-las, lidar com conflitos e avaliar cuidado. Ao passo que as agências parecem partir do pressuposto de que as mulheres possuem certos conhecimentos de como cuidar, os cursos formatam um tipo distinto de compromisso moral com o cuidado e determinadas condutas éticas de um trabalhador específico: o trabalhador americano. Ao mesmo tempo em que é demandado que cuidadoras se envolvam intimamente com seus clientes, elas devem fazê-lo sem se misturarem com sua vida pessoal: são orientadas a não trocar presentes, nem a estabelecer relações “íntimas demais”. Além disso, são quantificadas as necessidades a serem atendidas, rotinas a serem implementadas nas casas, o tipo de trabalho que devem ou não fazer e as roupas que têm a “estética correta”.
No capítulo seguinte, Buch nos leva aos dias, às interações e às resoluções de problemas. A partir de cenas cotidianas, nos mostra como cuidado é realizado com base nos cheiros, nos usos do corpo e nas tentativas de compreensão do que é a necessidade em cada casa. Em sua concepção, as capacidades de cuidado são, assim, corporificadas e dependem da experiência e da qualidade das relações. As formas de cuidar, por vezes, não dialogam com as padronizações recebidas pelos supervisores, envolvem relações não previstas, como comer junto, forjar determinada personalidade, lidar com preferências sobre a organização da casa. Ao mesmo tempo, as cuidadoras são orientadas e, por vezes, cotidianamente cobradas a não apresentarem seus dilemas pessoais, suas preferências, suas doenças. Por esta e outras razões trabalhadas no texto, as dinâmicas de home care parecem sustentar que as vivências e as preferências dos idosos atendidos devem prevalecer, enquanto as dessas mulheres que trabalham com eles devem se manter escondidas, forjando, assim, relações que devem romper reciprocidades.
No capítulo cinco, Buch aponta como a manutenção das casas faz parte da composição dos dias, dos modos de vida e dos sentidos de pessoa para seus interlocutores. Manter e permanecer na casa é, então, central para continuidades do senso de ser pessoa. As cuidadoras também se engajam nesse trabalho. Por outro lado, a quantidade de horas necessárias para conseguir um salário suficiente para sustentar suas próprias casas ameaça constantemente as suas possibilidades de permanecerem e montarem uma moradia estável. Ademais, Buch discute como as padronizações do que é atividade de cuidado e de quais rotinas devem ser atendidas pelas empresas não raro colocam as cuidadoras em situações difíceis. Como algumas atividades não fazem parte do seu escopo, acabam fazendo mais do que são remuneradas para fazer, em menos horas do que de fato demandariam para fazê-lo e são culpabilizadas por não seguirem os protocolos e as rotinas sugeridas.
No último capítulo, Buch nos mostra ocasiões em que as relações de cuidado se despedaçam e os sensos de independência explodem. Poucas trabalhadoras que conheceu gostariam de continuar na profissão, especialmente pelas condições e os salários. Dessa forma, a rotatividade é alta, o que exige das pessoas que contratam os serviços constantes adaptações a novos profissionais que não as conhecem, não sabem sobre as delicadezas da casa. Dilemas domésticos das cuidadoras atravessam os dias, como o cuidado das pessoas da casa, as dificuldades financeiras, as faltas e as demissões. Outros dilemas são os “presentes”, que são trocados mesmo sem permissão institucional. Ao serem descobertos, quebram as relações segundo uma narrativa de que pessoas idosas são “vulneráveis” a roubos, até mesmo quando estas argumentam que suas cuidadoras é que são “financeiramente vulneráveis” e de que foi sua a decisão dar os presentes.
A autora conclui de forma engajada com as políticas de seu campo e com as demandas de suas interlocutoras, sem quaisquer transcendências quanto a elas. Em diálogo com os dilemas que conheceu, sugere menos padronizações frias do cuidado e das necessidades a serem atendidas e mais atenção aos seus aspectos cotidianos, à intensidade dos tipos de atuação sensorial, física e de adaptação mútua e ao que é manter vidas e modos de vida. Por isso, propõe que o conhecimento de cuidadoras experientes seja tomado como centro dos cursos, incluindo aqueles que trazem de suas relações parentais. Sublinha os muitos motivos pelos quais o aumento nos salários importa nessas relações, projetando modos de “interdependência equitativa”. Indica que se coloque a interdependência como centro das narrativas morais e políticas sobre cuidado, não apagando os trabalhos generativos e a multiplicidade de “necessidades” nas trocas de cuidado. Por isso reforça que os problemas das cuidadoras e de pessoas idosas que necessitam de auxílios diários estão interconectados.
A intensidade descritiva do livro fortalece suas reflexões, nutrindo-nos de mais dimensões do que aquelas que a autora decide discutir. Nesse sentido, me parece, muito além de exemplificar a aplicabilidade do conhecimento etnográfico, o livro pulveriza de sentidos os termos cuidado e independência. Ao focar nos detalhes, nos dias e na intensidade das trocas, não fixa de forma estável quais personagens ou resultados se constituem e são constituídos por tais relações. Ademais, relaciona tal cotidiano ao contexto mais amplo de moralidade políticas e relações econômicas, localizando as relações. Em suma, é uma rica etnografia, provoca-nos a olhar a sério para os dias e os dilemas de um mundo.
Referência complementar
- BUCH, Elana. 2015. “Anthropology of Aging and Care”. Annual Review of Anthropology, 44 (1):277-293.
- BUCH, Elana. 2018. Inequalities of aging: paradoxes of independence in American Home Care New York: New York University Press. 263 pp.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
30 Abr 2020 -
Data do Fascículo
2020