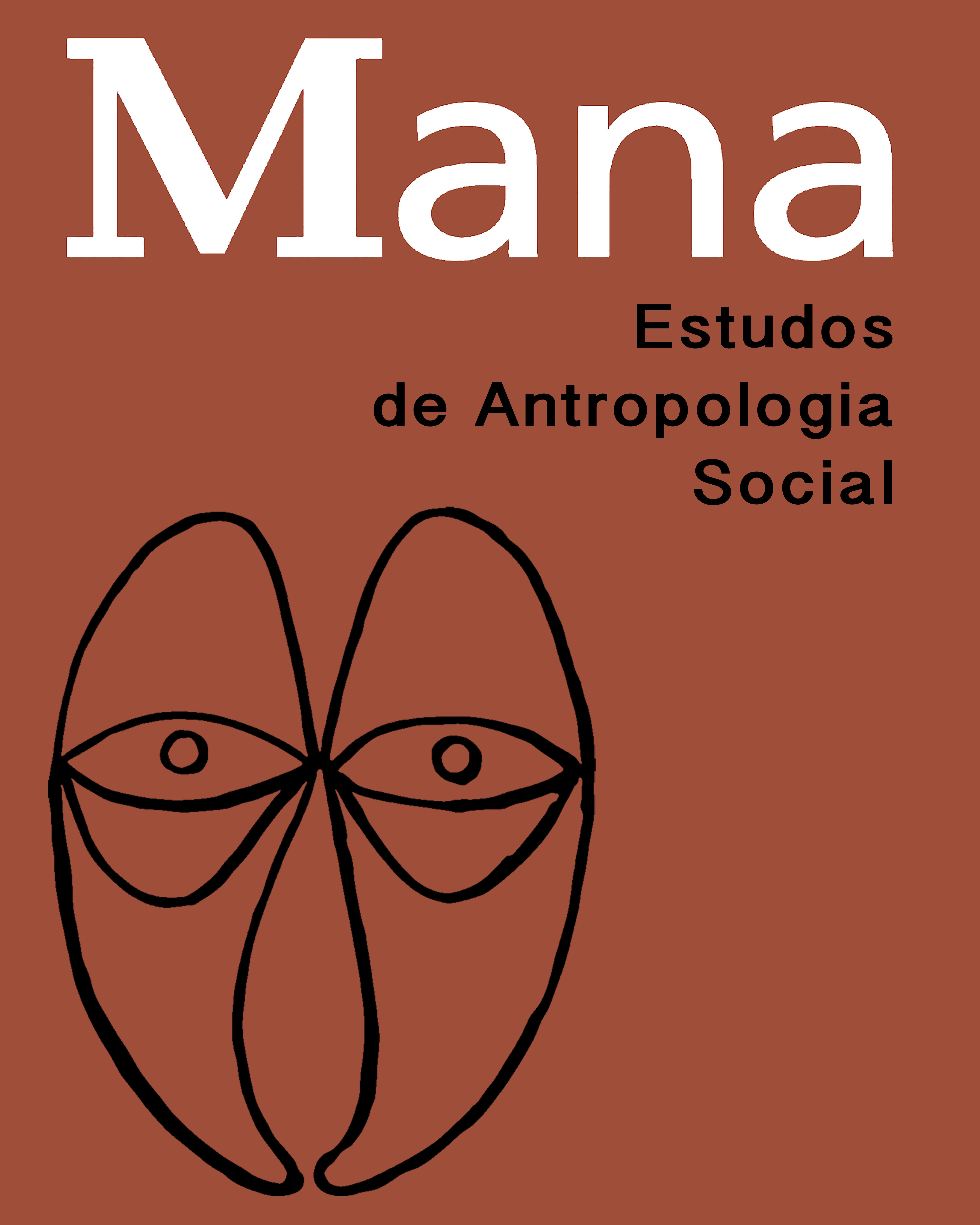ENTREVISTA
DOS KRAHÓ AOS MARUBO: A AVENTURA ETNOGRÁFICA
Julio Cezar Melatti
A trajetória de Julio Cezar Melatti é parte integrante da história da etnologia indígena brasileira nas últimas quatro décadas. Professor hoje aposentado pela Universidade de Brasília, formou-se antropólogo nos cursos de especialização que deram origem ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, participando dos projetos de pesquisa pioneiros aqui desenvolvidos durante os anos 60. Além da pesquisa etnográfica que realizou entre os Krahó do Maranhão e, a partir da década de 70, entre os Marubo do vale do Javari, Melatti dedicou-se desde cedo a uma intensa atividade docente, editorial e de divulgação científica.
Da pesquisa junto aos Krahó, da qual resultaram os livros Índios e Criadores, O Messianismo Krahó e Ritos de uma Tribo Timbira, ao estudo com os Marubo, o trabalho de Melatti revela uma rara combinação entre a atenção minuciosa ao detalhe etnográfico e a capacidade de distinguir nele o antropologicamente relevante. Esta entrevista foi concedida a Aparecida Vilaça e Marcela Coelho de Souza em junho de 2001, quando esteve no Museu Nacional para proferir a conferência que publicamos também neste número, oferecendo assim aos leitores de Mana um quadro vivo de um período decisivo da história da antropologia e etnologia brasileiras, a partir da visão de um de seus principais artífices.
Vilaça
Podemos começar perguntando como nasceu seu interesse pela Antropologia.
Melatti
Fui para a universidade para fazer História. Eu era de Petrópolis, e como não tinha muitos recursos para sair de lá, consegui uma bolsa na Universidade Católica. Na época, no Rio de Janeiro, já havia cursos separados de História e de Geografia, mas em Petrópolis ainda não. Foi nesse curso que conheci a Antropologia. Tive como professora Maria Laís Moura Mousinho (hoje Guidi), que trabalhou no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e agora está aposentada. Ela tinha feito um dos cursos de especialização promovidos por Darcy Ribeiro entre 1955 e 1958, dos quais dois foram realizados no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), e outros dois no Museu do Índio, perto do Maracanã. Foi através dela que conheci a Antropologia. O curso em Petrópolis tinha quatro séries: a última série era a didática; a terceira focalizava o Brasil, tanto em História e Geografia, quanto em Antropologia. Na Antropologia, a primeira série era Antropologia Física e a segunda Antropologia Cultural. Na verdade, acho que o forte do curso era Geografia, que dispunha de muitos recursos naquela época: os professores eram do Conselho Nacional de Geografia, tinham uma sala, a coleção da Revista Brasileira de Geografia, a coleção do Boletim Geográfico etc. Maria Laís, quando eu estava no último ano, disse haver aqui no Museu Nacional um professor que promovia um curso muito interessante, e me incentivou a vir. Estávamos no começo de 1961.
Roberto Cardoso de Oliveira tinha quinze vagas, com bolsa da UFRJ, e apareceram apenas oito candidatos. Acho que o curso, no que se chamava então Divisão de Antropologia, era um pouco inspirado, não no que se refere ao conteúdo, mas à organização, nos de Darcy Ribeiro, pois Cardoso fora assistente dele no Museu do Índio. Cardoso deu esse curso aqui três vezes, com nomes diferentes. Roberto DaMatta (que vinha da História), Alcida Ramos (que vinha, acho, da Geografia), Roque Laraia, Edson Diniz, Hortência Caminha e Onídia Benvenuti fizeram o primeiro, em 1960. Eu, Maria Andréia Loyola, o falecido Marcos Magalhães Rubinger (que já era então professor de Antropologia na UFMG) e a também falecida Lúcia Câmara, fizemos o segundo. No primeiro havia apenas os seis alunos que citei, no segundo esses quatro. Os três alunos da terceira turma, de 1962, foram Silvio Coelho dos Santos, Cecília Vieira Helm e Stella Amorim.
Coelho de Souza
Roberto DaMatta, em Relativizando, conta que esse primeiro curso se chamava Curso de Teoria e Pesquisa em Antropologia Social, e comenta que esse nome causava um certo mal-estar com a geração anterior, pois sinalizava um distanciamento da tradição americana e uma aproximação com a tradição britânica. Depois o nome do curso muda, não é?
Melatti
Muda, para Curso de Especialização em Antropologia Cultural. É, naquela época havia essa discussão: Antropologia Social ou Antropologia Cultural? Antropologia Americana ou Antropologia Britânica? Mas isso foi passando.
Coelho de Souza
O que se ensinava no curso?
Melatti
A segunda turma teve dois professores, Roberto Cardoso encarregou-se da Organização Social, e Luiz de Castro Faria ensinava Antropologia Econômica. Do que líamos com Cardoso posso lembrar pelas apostilas, ou melhor, pelas anotações que ele distribuía em cada aula, com os mesmos resumos do curso anterior - eram multiplicadas pelas secretárias na base do carbono. Do Castro Faria tenho apenas as bibliografias, pois ele não distribuía resumos. Acho que o texto básico trabalhado por Cardoso eram capítulos do livro de Marion Levy Jr., The Structure of Society. Era impresso em gráfica, mas com letras que pareciam de máquina de escrever. Enfim, tratava-se de um autor muito influenciado por Parsons. Falava de coisas como, por exemplo, quais as condições básicas para uma sociedade existir? Havia quatro condições, de que já não me lembro mais; mas uma delas dizia que não podia haver a guerra de todos contra todos... Lemos também Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. Acho que não chegamos a ler nenhum livro inteiro, nenhuma monografia de Antropologia sobre um grupo ou uma sociedade determinados. O texto usado para nos familiarizarmos com o vocabulário antropológico - o que é um clã, o que é a família, o que é casamento, exogamia, endogamia etc. - era de Murdock, Social Structure. Mas não lemos a segunda parte do livro, apenas os capítulos iniciais, onde eram dadas essas definições. (Eu tenho em casa uma caixa de sapato com as fichas de leitura.) Estudamos também o clássico Sistemas Africanos de Parentesco e Casamento, da seguinte maneira: todos lemos a Introdução de Radcliffe-Brown, e depois cada um de nós leu um dos capítulos.
Coelho de Souza
Nada de autores franceses? DaMatta fala em Relativizando que foi no primeiro curso do Museu que ele tomou contato com Mauss e Lévi-Strauss.
Melatti
Lévi-Strauss lemos depois do curso, entre nós mesmos. Estruturas Elementares foi lido por mim em voz alta, porque nem todos liam francês. Quanto a Mauss, Castro Faria, curiosamente, não incluiu o Essai sur le Don entre os textos de Antropologia Econômica estudados no curso, mas falava dele na lanchonete, na hora do almoço, e foi desse modo que tomamos contato com Marcel Mauss, fora da sala de aula.
Vilaça
Como aparecia o debate entre Roberto Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro no curso? Afinal, nesse momento, eles já tinham algumas divergências sobre a questão do contato cultural, pois o conceito de "fricção interétnica" de Cardoso aparece em 1964, quando ele manifesta discordâncias básicas sobre o tratamento que Darcy Ribeiro dava ao problema.
Melatti
No curso, essa discordância não aflorou. Não acho que estivéssemos preparados para ela. Isso aparece depois, já no contexto do projeto de Fricção Interétnica. Afinal de contas, alguns dos autores que Darcy Ribeiro gostava, também foram utilizados no curso pelo Roberto Cardoso, como, por exemplo, Leslie White. Aliás, senão me engano, uma vez, respondendo a perguntas ou comentando algum livro na revista Current Anthropology, Roberto Cardoso chega a propor que o caminho da Antropologia estaria em algum lugar entre a Antropologia britânica e o evolucionismo de Leslie White.
Vilaça
E o que vocês liam sobre sociedades indígenas especificamente?
Melatti
Com Castro Faria, lemos capítulos, sempre relacionados à economia; quer dizer, basicamente, Jules Henry sobre os Kaingang (era assim que ele denominava os Xokleng), Curt Nimuendajú, Julian Steward, Beth Meggers. Foi assim que começamos.
Coelho de Souza
O curso tinha também a preocupação de formar pesquisadores. Foi nesse contexto que você teve a sua primeira experiência de campo, com DaMatta, entre os Gaviões, correto?
Melatti
Sim. Inclusive, em um dos projetos, acho que o Cardoso se explica assim: demos o curso, temos os pesquisadores, agora precisamos colocar esses pesquisadores para trabalhar. E com isso justifica a necessidade de desenvolvimento das pesquisas propostas ali.
Logo após o curso, o Matta e o Roque foram aceitos no Museu Nacional como pesquisadores interinos. Alcida não, pois era portuguesa e ainda não se naturalizara, recebendo uma bolsa como auxiliar do curso. O treinamento de Matta, Laraia, Alcida e dos demais alunos da primeira turma (além de Omar Montenegro) foi acompanhar Cardoso aos Terena. Com esse material, Cardoso escreveu sua tese de doutoramento, Urbanização e Tribalismo. No ano seguinte, acompanhei o Matta aos Gaviões, Rubinger acompanhou Roque aos Suruí, e Maria Andréia acompanhou Alcida, que fazia então pesquisa com pescadores portugueses na ponta do Caju - essa é a dissertação de mestrado de Alcida em Wisconsin, Pescadores Portugueses na Ponta do Caju, da qual, aliás, sou o editor (em Brasília, eu e Martín Ibáñez-Novion fizemos, por volta de 1973, uma revistinha mimeografada chamada Pesquisa Antropológica, e um dos números é a dissertação da Alcida).
Enfim, entre setembro e novembro de 1961, Matta esteve pela primeira vez nos Gaviões, e eu o acompanhei como auxiliar de pesquisa. Visitamos uma aldeia que ficava próxima à cidadezinha de Itupiranga - digo cidade porque era sede de município, na verdade tratava-se de uma vila ao norte de Marabá, no mesmo lado (esquerdo) do rio que esta última. Do lado direito ficavam os Gaviões, 40 km para o interior. Tendo se aproximado recentemente, o grupo, de início com cerca de noventa índios, tinha sido dizimado por doenças em Itupiranga e deles restavam apenas 25. Havia um outro grupo de Gaviões, que não conheci, mas que Matta visitou mais tarde, num posto indígena mais ao norte, conhecido como Gaviões da Montanha - acho que o posto é que se chamava Montanha. E havia ainda um terceiro grupo, nessa época isolado. Então, foi com aqueles 25 Gaviões que começamos a pesquisa. Aliás, quando chegamos à aldeia, estavam lá apenas seis deles.
Coelho de Souza
E isso foi uma decepção?
Melatti
Não sei reproduzir o que sentimos na época. Eram quatro casinhas formando um círculo - bem, não sei se com quatro chega a se formar um círculo -, mas eram quatro casinhas e ali estavam seis pessoas. Um mês, mês e meio depois, chegaram os outros, somando 25. O líder já era Kokrenum, que continua lá até hoje.
Vilaça
Como é que vocês entravam nas áreas? Vocês tinham contato com o SPI? Como era a chegada? Vocês levaram brindes para os índios?
Melatti
Acho que a obtenção da autorização foi feita pelo Cardoso ou pelo Matta. Fomos para Itupiranga, onde havia um funcionário do SPI, Jaime Pimentel, mas não um posto. Lá também morava o pai de Jaime, Gentil Pimentel. Jaime era de lá, e foi ele que nos levou aos Gaviões. Ele até aconselhava como devíamos nos vestir. O Matta estava de botas até a canela, e eu também tinha meus coturnos. Ele nos aconselhou a usar tênis, por ser mais leve, melhor para caminhar. Jaime Pimentel foi morto pelos Corubo, lá no outro extremo da Amazônia, e ironicamente, segundo contam, estava com um outro funcionário, que calçava botas, enquanto ele estava de tênis. E o outro então pôde correr, mas ele se feriu nos estrepes da roça e foi morto. Quanto a brindes, levamos facões, facas; não lembro se levamos miçangas, mas alguma coisa levamos sim, talvez munição.
Vilaça
Havia divisão de trabalho entre você e o DaMatta?
Melatti
Ambos fazíamos pesquisa. Matta é que dirigia os trabalhos, mas conversávamos. Na verdade, assim que chegamos, só havia dois homens que podiam nos atender. Um era Aprororenum, que conversava mais com ele. E o outro era Kaututure, que conversava mais comigo. Kaututure é o que aparece na capa do livro, na primeira edição de Índios e Castanheiros. Nós praticamente tomávamos o tempo todo desses índios, pois eram poucos ali. Eu conversava também com uma das mulheres de Kaututure, que tinha uma perna ressecada e mancava. Depois chegaram outros. Um que nos deu muitas informações foi o próprio Kokrenum, conhecido como Baleado, porque numa das refregas com o grupo isolado de Gaviões levou uma flechada. O que ajudava mais a DaMatta não tinha um olho, chamavam-no Zanoio, Zaroio. Todos tinham algum apelido. O DaMatta estava muito interessado também na parte de contato, e tentávamos pegar termos de parentesco, nomes de grupos, coisas assim. Acho que foi bastante produtivo, dadas as condições.
Coelho de Souza
De qualquer maneira, você saiu de lá empolgado para continuar a trabalhar com os grupos Jê? Por que os Krahó?
Melatti
Um pouco. Eu sempre fui para o campo pensando em voltar para casa. Eu não apreciava muito a atividade de campo não, fazia por obrigação. Quanto aos Krahó, a decisão não foi minha, foi Cardoso quem os incluiu no projeto, onde colocava os nomes de quem faria cada pesquisa. Então, fui para os Krahó. Eu nem poderia discutir isso com ele naquela altura, pois mal tinha acabado de fazer o curso. Para mim, era uma oportunidade de trabalho.
Coelho de Souza
Como era o seu relacionamento com os Krahó e como você trabalhava?
Melatti
Instalei-me numa aldeia, a mais próxima do posto, que era também a maior. Ficava a uma légua, 6 km, do posto do SPI. Na primeira vez, fiquei na casa da escola, um casebre de pau-a-pique, o barro caindo, coberta de palha, onde nunca houvera uma aula, então não tinha carteira, não tinha nada. Havia uma janelinha de madeira, mas toda aberta embaixo. E ali então pendurei a rede. A casa ficava no círculo da aldeia, ao lado da casa do chefe, Pedro Penon, que em troca de um tanto por semana me dava comida: carne de caça, quando havia, arroz, engrolado (uma farinha feita pela metade: coloca-se a massa de mandioca numa panela de ferro, e se mexe como para fazer farinha, mas serve-se ainda úmida, não seca, misturada como carne etc.). Ele também fazia café, que vinha de fora da área indígena, ao lado da qual um funcionário da FUNAI, que era também missionário protestante, Donanim, tinha uma plantação. Então, o café era trazido do Donanim, já torrado. Quando não tinha café eu tomava capim santo. O açúcar era de rapadura, feita na região. Era assim que eu me alimentava.
Logo ao amanhecer, havia a reunião do pátio, e eu ia lá assistir. Depois, para aquecer, os homens faziam uma corrida dentro da aldeia, com as toras que já estavam lá. Aquecidos, iam tomar banho, e voltavam para o pátio para conversar. Então, normalmente, dirigiam-se para a casa, não das esposas, mas das mães e irmãs. Dali iam para as casas das esposas e saíam, ou para caçar, ou para plantar. Então a aldeia caía em silêncio. Eu ficava geralmente conversando com aqueles que tinham ficado, um por estar com o pé machucado, outro por estar doente. À tarde, chegavam os homens correndo com toras. Quando a noite caía, as mulheres iam cantar na praça. Os homens ficavam sentados assistindo, os rapazes pulavam diante delas. Um cantor masculino com um maracá dirigia o canto das mulheres. Isso podia durar pouco ou se prolongar. Quando havia bastante comida, carne em particular, os cânticos demoravam mais; quando faltava carne, demoravam menos. Às vezes, se havia fartura, as mulheres levantavam-se de madrugada e voltavam a cantar. Assim, o canto estava um pouco ligado à quantidade de alimento, que já era difícil de obter naquela época.
Vilaça
Quando você estava presente nessas reuniões e danças na praça, você pedia que alguém traduzisse os discursos e cantos?
Melatti
Sim, geralmente pedia. Os cantos só fui tentar entender mais tarde. Mas quanto aos discursos eu procurava pelo menos saber do que tratavam, com aqueles que estavam assistindo. Nem sempre tinha sucesso, porque eles também queriam prestar atenção. Os cantos eu tentei traduzir depois, em outras visitas, com um bom conhecedor. Todavia, traduzir palavra por palavra não consegui. Era demorado demais, então eu me contentava geralmente com uma tradução mais ou menos livre. Acabei não aproveitando muito e guardei o que anotei. Em Ritos de uma Tribo Timbira eu quase não usei esse material, além de uma alusão ou outra.
Coelho de Souza
Mas você se utiliza bastante dos mitos, na análise dos ritos. Você os registrou em português?
Melatti
Sim, em português. Os Krahó estavam acostumados a contar mitos para Harald Schultz. E os mitos eles queriam contar. Eu até, no início, não queria anotar, mas eles queriam que eu anotasse. Então eu anotei. Mas não fiz nada mais sofisticado do que Schultz. A única diferença é que registrei os textos que chamo de "Contos de Guerra", que o Schultz não coletou.
Coelho de Souza
Antes de você chegar aos Krahó, os Jê tinham sido estudados principalmente por Nimuendajú, cuja etnografia servira de base para uma série de conhecidos artigos de Lévi-Strauss publicados na década de 50, como "A Noção de Arcaísmo em Etnologia" e "As Organizações Dualistas Existem?" O trabalho sobre as organizações dualistas, inclusive, fora criticado por Maybury-Lewis em 1960... Qual a sua relação, no momento da pesquisa, com esses textos?
Melatti
Bom, eu os tinha lido, e inclusive constatado divergências entre o texto em inglês e o texto em português de Nimuendajú, sobretudo nas terminologias de parentesco apinayé e canela. E eu já conhecia alguma coisa dos Gaviões. Isso me permitiu apreciar um pouco mais criticamente o material de Nimuendajú. Descobri que havia muito mais metades do que as registradas por ele, pelo menos nos Krahó. Depois, vi que muitas dessas metades são repetições umas das outras. Há, por exemplo, três maneiras de fazer o rito do Pêmpcahàc. Numa, as metades são Hàc e Crôcroc, gavião e papa-mel; na outra, abelha e papa-mel; na terceira, muriçoca e papa-mel. No fundo, são as mesmas, um animal alado e um quadrúpede. Elas ainda se repetem nas metades Tep e Têre, lontra e peixe, só que aqui, em vez de um animal alado, temos o peixe. Mas os animais alados que aparecem no Pêmpcahàc geralmente são maus corredores, segundo os Krahó. Imagine um gavião no chão: ele não sabe correr. O peixe por sua vez não tem perna. Então, peixe e ave (tratando-se de um gavião) são mais ou menos a mesma coisa. E papa-mel e lontra também são dois quadrúpedes. Pode-se passar de um rito para outro dessa maneira.
Todas essas metades de que falei são de livre escolha, e o pertencimento pode ser temporário. Agora, há outras metades, com outros critérios de afiliação: as relacionadas ao nome pessoal, as que abrangem as classes de idades, as dos chamados grupos da praça...
Coelho de Souza
Um problema para Lévi-Strauss era justamente a dificuldade de relacionar esse dualismo institucional e o sistema de parentesco e casamento. Esta questão lhe interessava? Na sua palestra, por exemplo, você contou como você e Da Matta tentaram encontrar esses grupos exogâmicos nos Gaviões.
Melatti
Nós queríamos encontrar as metades exogâmicas, sim. Nos Gaviões, as procuramos sem sucesso. Acho que saímos de lá convencidos não de que não existiam, mas sim de que não tínhamos conseguido encontrá-las. Mais tarde, Da Matta viu que os grupos apinayé descritos por Nimuendajú como quatro classes matrimoniais (os kiyé) eram, na verdade, apenas dois, e não tinham nada a ver com o matrimônio. Na mesma época, eu me dava conta que os Krahó também não possuíam nenhum par de metades exogâmicas. E veio também o Bill Crocker confirmar que nos Canela tampouco havia tais metades.
Coelho de Souza
De qualquer maneira, a relação com a etnografia de Nimuendajú passa a ser fundamentalmente negativa, o que deixa um pouco a sensação de que certos aspectos, sobretudo as descrições riquíssimas da vida ritual timbira, podem ter sido subaproveitados.
Melatti
Pode ser. Eu acho que as falhas mais visíveis de Nimuendajú se referem ao parentesco mesmo, que eu suponho que não fosse seu forte. Inclusive porque, normalmente, ele incluía a terminologia de parentesco no apêndice, e colocar no apêndice é dizer "isso não é o tema do meu trabalho". Já as descrições dos ritos são muito cuidadosas. Agora, esses ritos são tão detalhados que, para compará-los... Eu poderia ter comparado mais os ritos krahó com os dos Canela, mas só para a descrição dos ritos krahó foi preciso um livro enorme. Acho que se pode ainda fazer essa comparação, mas seria demorado. Tentei algo assim num artigo, mas o reli recentemente e pensei, como pude escrever uma coisa tão horrível? Foi em um artigo que saiu no Anuário Antropológico 79, "Indivíduo e Grupo", sobre os grupos do Ketwajê, comparando os Krahó, Canela e Krinkati, em que procurei mostrar que os grupos não são os mesmos, mas têm algo em comum. E assim como se pode fazer isso para o Ketwajê, pode-se fazê-lo também para outros ritos. Certos personagens rituais, por exemplo, são recorrentes, embora não sejam recrutados da mesma maneira em todas essas sociedades. Consideremos os palhaços rituais: nos Canela, são escolhidos por causa de suas qualidades histriônicas; nos Krahó, por serem portadores de certos nomes pessoais que permitem fazer palhaçada nos ritos; já nos Suyá, o palhaço é o velho. Trata-se do mesmo papel ritual, mas a seleção para ele é diferente nas diversas sociedades. Pode-se então analisar detalhes como esse.
Vilaça
É assim que você responderia à alusão ao volume de informações que DaMatta faz na carta que você nos leu em sua palestra, quando diz, na verdade, ter sentido falta de uma comparação?
Melatti
Não, não estou respondendo a Da Matta. Realmente, tinha muita coisa na tese, e eu podia ter elaborado um estudo comparativo no final, pois a conclusão que fiz não foi das mais felizes. Podia ter feito, mas não me ocorreu fazer, talvez por falta de tempo. Mas DaMatta fez isso nos Apinayé. Eu realmente não estava muito voltado para a comparação.
Coelho de Souza
A recusa, da parte de todos os pesquisadores do projeto Jê, dos conceitos clássicos de descendência e aliança, é mais ou menos paralela a um movimento geral na Antropologia de então - em 1962 temos a crítica de Barnes à aplicação de modelos africanos na Nova Guiné, e pouco depois a crítica do parentesco como objeto antropológico, de um lado, por Needham, de outro, por Schneider. Vocês viam suas contribuições como parte desse debate?
Melatti
Acho que uns estavam mais conscientes do que outros. Eu me sentia mais à margem desse debate.
Coelho de Souza
Você estava contando na conferência de ontem como a idéia da centralidade da oposição nominador/genitor, corpo/nome, foi inspirada na "análise componencial" de Cardoso em O Índio e o Mundo dos Brancos, e não consistia em um debate consciente com os componencialistas. O que é curioso, pois de um modo quase casual você antecipa muita coisa do que se está fazendo nos estudos de parentesco hoje, na medida em que incorpora na análise de terminologia - contra os componencialistas - a questão dos princípios de constituição da pessoa.
Melatti
Pois é, as coisas acontecem às vezes assim. Por exemplo, uma vez, acho que com a primeira versão da tese feita, eu estava visitando o Museu, e conversava com a Cecília Helm numa dessas salas aqui, quando me ocorreu que essa distinção entre nominadores e genitores também aparecia nos ritos funerários. Há dois ritos funerários nos Krahó, ou três, se contarmos o sepultamento. Passadas umas duas semanas, a alma do falecido apresenta-se a um xamã, e diz que está com fome; o xamã vai procurar a família do morto e os avisa, para que providenciem uma última refeição para ele. Dois ou três meses depois, há o rito de final do luto, onde o morto é representado por seu amigo formal. Há portanto, de um lado, o corpo, objeto de cuidado biológico, e de outro um personagem; ambos aparecem também no fim da vida, nos ritos funerários. Essa idéia me veio assim, não sei bem como, e modifiquei o capítulo da tese.
Coelho de Souza
Minha pergunta é: como você vê o fato de, hoje, parentesco, pessoa e gênero terem se tornado temas praticamente inseparáveis - algo em parte antecipado por seu trabalho e de seus colegas?
Melatti
Eu não uso pessoa, eu uso personagem, porque pessoa não era bem o que eu estava querendo dizer. Então falo em personagem ritual. O que me chamou mais a atenção no texto do Marcel Mauss não foi sua contribuição, pois acho que eu não entendia bem. Os textos de Mauss geralmente começam com australianos, melanésios, Índia, China, Grécia, e eu via nisso uma coisa evolucionista, esquisita, que me incomodava. Eu não sabia captar o principal. Então, no meu texto, uso a noção de "pessoa" ou "personalidade social", de Radcliffe-Brown, que é na realidade uma noção meio prosaica, enquanto Marcel Mauss, que seria mais importante, não aparece, e não é por desconhecimento do texto, mas por não saber ainda tirar tudo dele.
Coelho de Souza
Quanto à conexão entre gênero e parentesco, imagino que o fato de ter feito sua pesquisa em português tenha dificultado seu acesso às mulheres. Vários autores dizem que nos Jê parentesco e genealogia são assuntos de mulher, e de mulher velha. Estou aludindo aqui a um possível viés "androcêntrico", já criticado nos pesquisadores do Projeto Harvard-Museu Nacional. Você acha que a imagem da sociedade krahó vista de um "ponto de vista feminino" seria diferente?
Melatti
Pode ser. Acho que as mulheres realmente conhecem mais os nomes pessoais. Lembro-me que, quando estava anotando nomes, geralmente a mulher que estava ouvindo acrescentava mais alguns. E as mulheres poderiam talvez contar coisas que os homens não contam. Mas eu conversava com algumas mulheres. Uma delas, aliás, começou a me adiantar algo sobre coisas como o "sexo serial", mas não foi muito longe. No meu caso, eu tinha dificuldades com a língua, mas Terence Turner e Maybury-Lewis não tinham esse problema. Agora, quanto isso alteraria a etnografia, ou apenas jogaria luz sobre certos aspectos, não sei avaliar.
Coelho de Souza
Ainda sobre parentesco: Joanna Overing, numa resenha de 1981, critica em Dialectical Societies uma certa tendência ao isolamento dos Jê no panorama das terras baixas, bem como o desprezo de certos problemas tradicionais, como a motivação dos traços crow-omaha e a determinação dos regimes matrimoniais. Há pesquisas posteriores que procuram explorar essas dimensões, como a tese da Maria Elisa Ladeira (que tematiza a relação entre casamento e onomástica) e os trabalhos da Vanessa Lea e seus alunos (que estão tentando ligar a amizade formal ao sistema matrimonial). Como você vê esses desenvolvimentos?
Melatti
Eles têm interesse, embora eu não tenha conseguido entender tudo. Há uma coisa a considerar, algo que eu notei nos Krahó, e escrevi numa primeira versão do artigo para o livro, mas que Maybury-Lewis me aconselhou a tirar, dizendo que Scheffler e Lounsbury pulariam com os dois pés nas minhas costas se eu escrevesse uma coisa daquelas. Eu dizia que a proposta de Lounsbury, segundo a qual mediante determinadas fórmulas seria possível saber como será classificado terminologicamente alguém que está lá no extremo da sociedade, nos Krahó não era aplicável. Aqui, você tem um núcleo onde o sistema opera de modo coerente, mas para além dele essa coerência desaparece. Nos Timbira, as relações sexuais são muito livres, quer dizer, qualquer mulher com quem um homem possa ter relações sexuais é chamada de esposa. E isso rompe completamente a coerência da terminologia.
A relação de amigo formal é outra coisa que rompe com essa coerência. Talvez isso tenha feito com que eu não desse muita atenção à tese de Maria Elisa Ladeira. Imagine: um homem pode chamar, por exemplo, três mulheres irmãs entre si de "esposa", e continuar chamando a mãe delas de "mãe", o pai delas de "tio materno" etc. Então você pergunta: como é que você chama fulana? E ouve coisas como: "Ah, eu chamava de irmã, mas outro dia ela me pediu um cigarro, agora eu chamo de esposa". Fulana é sua parenta? "Ah é, porque ela me deu um prato de comida". Ou então: "Fulano não está agindo direito, está ficando maluco, ele está transformando todas as suas parentas em esposas. Aonde é que ele vai encontrar comida depois?" Há uma espécie de equilíbrio entre alimento e sexo, nas casas onde se encontra um não se encontra o outro, e isso é mais importante que a coerência da terminologia.
Vilaça
Ou seja, dependendo da forma como se age e atua, define-se que tipo de relacionamento de parentesco se tem. Há muitos dados desse tipo nas etnografias americanistas em geral e nos Jê.
Melatti
Não sei o quanto isso ficou claro no trabalho sobre parentesco publicado. Acho que esses problemas ficaram em segundo plano no texto que fiz para Dialectical Societies, e não os explorei tanto quanto podia, assim como não explorei tão bem a parte dos presentes relacionados aos casamentos.
Coelho de Souza
Ainda falando dos Jê: sua primeira publicação sobre os Krahó foi O Mito e o Xamã, de 1963. O que não deixa de ser curioso, na medida em que o xamanismo acaba sendo um tema secundário na etnologia jê.
Melatti
Não consegui ir muito longe nessa área do sobrenatural com os Krahó. Mesmo quanto à atuação do xamã: há as histórias de como ele se tornou xamã, onde ele entra em contato com outros seres, como o chefe dos peixes, ou o gavião etc. Mas ele não entra em transe, o seu espírito não sai quando ele está agindo, e nenhum espírito entra nele. Ele simplesmente tem o poder de ver muito, de ver longe, de ver dentro do corpo do doente e tirar a doença, mas fica por aí. É diferente de um xamã marubo, que entra em transe, o espírito sai, vai viajar, e enquanto o espírito está viajando um outro espírito de lá entra no corpo dele. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e esse espírito começa a contar o que o espírito do xamã está fazendo na terra dele. O xamanismo marubo é muito mais complexo - se é que nos Krahó se pode falar em xamanismo, ou, como o Baldus decretou na reunião em que apresentei minha comunicação "O Mito e o Xamã": "na verdade os Krahó não têm xamã". O outro mundo deles também é bastante simples. Há a aldeia dos mortos, depois as almas dos mortos também morrem, e há aquele ciclo involutivo da alma do morto: de alma para animal de caça, de animal de caça para inseto, de inseto para toco, e depois o desaparecimento. Talvez eles elaborem muito este mundo, com toda aquela profusão de ritos, metades e grupos rituais. Nos Marubo, essa profusão vai se manifestar no outro mundo, na forma de toda uma quantidade de espíritos, de almas humanas. A complexidade que os Timbira apresentam nos ritos e na organização social, os Marubo vão situar no mundo sobrenatural.
Coelho de Souza
No estudo sobre messianismo, como se coloca a questão da conexão com o xamanismo?
Melatti
O profeta era um xamã. Ele entra em contato com um ser que, até então, não existia na mitologia krahó: Chuva. Chuva lhe dava o poder. Chuva tem poderes, vai enviar o gado do céu, vai mandar as ferramentas etc. Mas o mundo do além não fica mais complexo por causa disso.
Coelho de Souza
No fim de Ritos de uma Tribo Timbira, você fala da publicação das Mitológicas. O trabalho de Lévi-Strauss foi uma inspiração para falar dos ritos?
Melatti
Acho que para mim teve impacto maior o artigo "A Estrutura dos Mitos". E nas Mitológicas, Lévi-Strauss não seguia mais o programa proposto nesse artigo. Além disso, aquela passagem rápida por várias sociedades, saltando de uma para outra, fazendo de vez em quando uma incursão na etnografia de um determinado grupo, me gerava um pouco de desconforto. Acho que só li mesmo, duas ou três vezes, o primeiro volume. Os demais, li apenas uma vez. Finalmente resolvidos aqueles problemas do primeiro volume, não se vê muita novidade nos seguintes.
Mas há uma idéia que eu tirei dali: assim como no caso dos mitos, os ritos têm várias versões. Há mitos que são versões de outros mitos, e, da mesma maneira, há ritos que são versões de outros ritos. Acredito que todos esses ritos aparentemente distintos, com aquelas metades chamadas gavião, papa-mel, abelha, peixe etc., são antes versões de um mesmo rito.
Vilaça
Passando à relação entre o Projeto de Fricção Interétnica e o Projeto de Estudo Comparativo das Sociedades Indígenas do Brasil (fundido depois ao Projeto Harvard-Brasil Central): sempre que você passa de um para outro, você muda o foco. Você diria que as pesquisas direcionadas para o projeto da Fricção eram geralmente centradas nos entornos das sociedades indígenas, com um enfoque mais externo?
Melatti
Na verdade, qual era o "método", quer dizer, o procedimento? Há mais ou menos um padrão de trabalho para uma pesquisa de organização social e política: vai-se para a aldeia, tomam-se genealogias, fazem-se croquis, perguntam-se os termos de parentesco, observam-se os ritos. E a pesquisa de Fricção Interétnica, como era feita? Um procedimento que vi o DaMatta adotar, e depois imitei, era ir conversando com as pessoas conforme se vai aproximando da aldeia. Sai-se de avião do Rio de Janeiro, passa-se em Goiânia, chega-se em Pedro Afonso, uma cidade próxima. Então é preciso ficar num hotel, esperar um dia, providenciar a viagem. Enquanto isso, vai-se conversar com o prefeito, com as pessoas da cidade, e fazem-se anotações. Durante a viagem, examina-se o comportamento dos carregadores, das pessoas que nos ajudam etc. E, na aldeia, observam-se as visitas de civilizados para vender coisas na aldeia, para buscar coisas, ouve-se a opinião do chefe de posto. A pesquisa de Fricção Interétnica era feita dessa maneira. Abordava tudo que os índios dizem dos brancos, e tudo que os brancos dizem dos índios. Além disso, havia toda uma parte de consulta à história do contato. Antes de ir para os Krahó, visitei a Biblioteca Nacional, a própria Biblioteca do Museu e o Arquivo Histórico para ler os relatos dos viajantes, os relatórios dos presidentes de províncias etc. Funcionava mais ou menos assim: é como se o miolo fosse a organização social do grupo indígena, e essa parte em volta, referente ao trabalho de Fricção Interétnica, era feita na medida em que nos aproximávamos, e depois nos afastávamos, do campo.
Vilaça
E o miolo era deixado para um outro tipo de pesquisa, porque você podia fazer um trabalho de fricção sem ter um conhecimento mais profundo da organização social, por exemplo, por ser um trabalho mais preocupado com as relações com o exterior - correto?
Melatti
Sim, ainda que nenhum trabalho escrito sobre fricção, nem o do próprio Cardoso, tenha deixado de abordar também algo da organização desses grupos. Acho que as duas coisas não foram tão dissociadas assim. Os pesquisadores de Harvard estavam realmente mais interessados na organização social. Mas Matta, Roque e eu trabalhamos em ambos os projetos, e pudemos ver que coisas não se alteravam da mesma maneira mesmo em grupos muito semelhantes como os Canela e os Krahó. Por exemplo, nos últimos, que acentuam a nominação, as classes de idade perderam mais importância que entre os Canela.
Coelho de Souza
E você diz, em Índios e Criadores, que você tinha muito mais dados sobre a organização social indígena que sobre o contato interétnico, e, ainda assim, o que parece escapar de seu estudo, vamos dizer, era a história tal como vista de dentro, embora, pensando no trabalho sobre o messianismo e nos contos de guerra, se possa dizer que todos os elementos estivessem lá.
Melatti
É, o messianismo reforçou bastante esse trabalho. Mas uma coisa que eu sentia falta em Índios e Criadores era o fato de começar com a história do contato (sem que as fontes consultadas me possibilitassem reconstituir, nem mesmo em suas linhas mais gerais, a organização social dos Krahó no tempo dos primeiros contatos com os brancos). No Museu havia um estagiário, Wagner Neves Rocha (que fez pós-graduação aqui e se tornou professor em Niterói) que olhava para o meu livro, via aquele capítulo "O Ingresso na História" - título que hoje seria uma heresia -, e dizia, brincando (e não criticando, como agora se faria), que quando lia aquele título imaginava uma fila de índios Krahó diante de uma bilheteria comprando ingresso para entrar na história. Depois de publicado, percebi algo que até podia ter me feito voltar para os Krahó: examinando narrativas que eu tinha levantado, vi que algumas não eram mitos, eram mais contos, poderiam até ser história. Pode ser que elas não tenham realmente acontecido, mas são tratadas como história e não como mito, trata-se de um gênero diferente, que manifesta um outro tipo de consciência social. Então as reuni, fiz uns comentários e publiquei na Série Antropologia (no 8), da UnB. Nunca ninguém deu bola para aquilo, nunca ninguém comentou, mas também com o título de "Reflexões sobre algumas Narrativas Craôs", ninguém teria lido mesmo. Então agora resolvi chamá-lo "Contos de Guerra dos Índios Craôs". Essas narrativas, aliás, não são uma especialidade dos Krahó - Bill Crocker analisa, em um Boletim do Museu Goeldi de 1968, contos do mesmo tipo dos Canela, mas ele não transcreve nenhum deles. De qualquer forma, na época não havia essa preocupação de juntar estudos de organização social e de história. Eram trabalhos separados.
Vilaça
Passando agora à fase seguinte de sua carreira como etnógrafo: como surgiu a idéia da pesquisa com os Marubo?
Melatti
Em algum momento, Cardoso deparou-se com quatro Marubo hospedados no Posto de Umariaçu, dos Tikuna. Não sei quando ele fez a primeira viagem aos Tikuna, mas em 1963 visitou-os com Cecília Helm e Silvio Coelho, e acho que foi dessa vez que encontrou lá os Marubo. Cardoso ficou encantado com os Marubo. Então sugeriu que eu fizesse uma pesquisa com eles. Coisa que só fui fazer em 1974, por causa da pesquisa com os Krahó, mas sempre me vinha à cabeça a possibilidade, e acabei indo. Se fui movido por alguma pergunta, alguma questão, acho que não. Com os Krahó, era possível prever mais ou menos o que eu ia encontrar lá, mas com os Marubo as previsões eram muito menores. Eu não sabia o que ia encontrar. A própria distribuição dos Marubo era desconhecida. Na verdade, segundo os relatórios da FUNAI, só havia ali no Javari dois grupos, Marubo e Mayoruna, dispersos em toda a bacia desse rio. O posto, que ficava perto da região dos Corubo, construído lá para atraí-los, se chamava Posto Marubo, e os Corubo ali eram conhecidos como Marubo. Quando havia morte de funcionários, choques com eles, saía nos jornais "Marubo ataca". Então, de certa maneira, foram a minha pesquisa e a de Delvair [Montagner] que traçaram um primeiro retrato da distribuição dos grupos naquela área, apesar de não termos visitado todo mundo, só os Marubo. Os resultados desse levantamento apareceram no volume 5 da coleção Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Socioambiental (ISA). É curioso como os nomes desses grupos variavam. Cardoso, por exemplo - que não entrou no Javari, mas refere-se à situação lá a partir do testemunho dos Tikuna, e ao modo como era interpretada pelos seringalistas, em desfavor dos Tikuna - não fala em Mayoruna, ele fala em "Mayo". E os nomes foram mudando: Corubo é nome novo (no volume do ISA não há Corubo); o primeiro nome dos Matis que ouvi era o que os Marubo davam a eles, Chinonawa, macaco-prego; depois é que apareceu o nome Matis.
Vilaça
O seu primeiro artigo publicado sobre os Marubo é sobre parentesco. Isso é interessante porque você leva a problemática que lhe interessou nos Krahó para uma sociedade pano. Mesmo diante da riqueza do discurso xamânico a que você se referiu, seu primeiro interesse foi sistematizar dados de parentesco.
Melatti
Foi. Talvez porque, da dupla, fosse eu quem estivesse mais apto para trabalhar com parentesco. E, além disso, se pensarmos bem, é a maneira mais fácil de começar: tomar genealogias, anotar termos de parentesco, fazer censos. E logo me deparei com essa distribuição esquisita dos termos, com grupos que mudavam de nomes de uma geração para outra e tal. Achei curioso achar um sistema assim, pois um sistema australiano mesmo seria uma exceção na Amazônia. Acho que Alcida também não acreditou muito nessa minha descoberta, pelo menos até fazer contato com Kenneth Kensinger, que tinha visto a mesma coisa nos Kaxinawá.
Vilaça
Como foi essa experiência de campo totalmente diferente, com uma companheira, nos Marubo?
Melatti
A primeira diferença entre as duas experiências é que nos Krahó, mesmo que você não queira fazer pesquisa, você faz, pois um Krahó vai atrás da gente, conversa, insiste. Os Marubo tendem a ser mais reservados. Nos Krahó, o material salta diante dos seus olhos, sempre se está vendo alguma coisa. Nos Marubo não: são mais quietos, é preciso ser mais insistente. Mas nos Krahó podia ser mais chato também, tem muito pidão. Um Marubo não pede as coisas diretamente. Talvez isso decorra do próprio contato. Os Marubo devem ter convivido com seringalistas, por exemplo. Chamam antropólogo de senhor, essas coisas. Os Krahó não, são mais informais. Trata-se no caso deles de um contato muito mais antigo. Além disso, nos Marubo, o grupo local é a maloca, é uma casa. É claro que se pode distinguir lugares mais públicos, menos públicos: tem a porta da frente, e os dois bancos onde se faz o xamanismo, onde se recebe os visitantes, e onde os homens comem, enquanto as mulheres comem mais para dentro; tem os lugares de dormir, nas laterais. Mas para se fazer pesquisa é preciso entrar na casa, o que é mais complicado. Então é diferente. Sente-se ser necessário brigar mais pelos dados nos Marubo do que nos Krahó. Mas, por outro lado, os Marubo importunam menos o pesquisador com pedidos estapafúrdios.
Um recurso usado nessa pesquisa com os Marubo, mais pela Delvair, foi o de pedir e comentar desenhos. Toda a parte de religião, magia, cânticos de cura foi muito enriquecida por isso. Eu podia ter usado os desenhos com os Krahó também, na verdade eu cheguei a usar. Mas tinha sido orientado por Heloísa Fénelon, que era uma artista, e as instruções dela - que eu podia ter posto em dúvida, pois afinal de contas não sou um artista - foram de não dar palpites nos desenhos: entregar o papel, o material, e deixar desenhar, e observar se o desenhista vai escolher o centro do papel, se vai escolher o lado de cima, se vai colocar várias figuras, se vai colocar uma cena etc. Tudo bem! Mas isso é pesquisa de arte, não é? Lá nos Marubo foi meio diferente: "Como é a camada celeste Shoko Nai? Desenhe a camada Shoko Nai". Eles desenhavam. Como é que é o espírito tal? E desenhavam. Colhemos muitos dados dessa maneira.
Coelho de Souza
DaMatta não seguiu esse conselho ou, então, não ouviu, porque ele tirou bastante dos desenhos nos Apinayé.
Melatti
Verdade. Matta usou fotografias também, para montar as genealogias, traçar a distância entre parentes; parece que ele tinha uma foto de cada Apinayé, e, a partir do retrato do entrevistado no centro, este dispunha todos os parentes em volta. Eu não fiz nada assim com retratos, e não tenho boas fotos. Só nos Marubo nós achamos interessante, enfim; eles pediam sempre para tirarmos fotografias posadas, então na segunda vez que fui eu levei uma Polaroid. Tinha que tirar primeiro do homem com uma esposa, depois com a outra esposa, mas os filhos, qualquer que fosse a mãe, entravam em ambas as fotografias. Observávamos como se adornavam para tirar fotos: uns procuravam os adornos tradicionais, outro ia buscar a farda que tinha ganho do Exército, outro trazia o rádio. Essas fotografias ficaram muito interessantes.
Vilaça
Passando a uma outra faceta, que aparece cedo em sua trajetória, de preocupar-se com a divulgação para o público leigo dos resultados das pesquisas etnográficas, como surgiu essa idéia de escrever os Índios do Brasil? Tem relação com a sua experiência como professor?
Melatti
Bem ou mal, sou professor desde os 16 anos. Fui professor de curso de admissão ao ginásio aos 16 anos em Petrópolis. Depois trabalhei em Marília, na UFF, e, finalmente, na UnB. Não sei reconstituir como apareceu essa idéia de escrever Índios do Brasil, mas lembro que foi aqui no Museu, talvez em 1968. Acabei em 1969 e então houve todo um problema com a publicação, que acabou saindo só em 1970 porque, entre outras coisas, o editor foi preso. Eu não sei nem se por motivos políticos. Ele era estrangeiro, e ficou na Ilha das Flores. Até me arrependo hoje, porque a própria universidade quis publicar o livro, mas como o editor estava preso, eu não queria tirar o livro dele e esperei ele sair. Mas depois ele me deixou sem o pagamento dos direitos autorais.
Na verdade, fiz várias investidas na área de divulgação. Uma foi os Índios do Brasil; outra foi Pesquisa Antropológica, a revistinha mimeografada que fiz em 1973. Depois, em 1983-84, quando a ABA estava estimulando as ABAs regionais e criamos uma em Brasília (que hoje não existe mais), eu propus que abríssemos no jornal uma coluna semanal, que mantivemos durante um ano no Jornal de Brasília. A cada semana eu tinha que convencer algum antropólogo da cidade a escrever um texto de sessenta linhas. Normalmente, a coisa era entregue em cima da hora, eu ficava lá, a pessoa acabando de escrever e eu com a mão pronta para puxar e sair correndo para o jornal para entregá-la antes do final da tarde. Acho que fiz outras coisas nesse sentido, dado que sempre tive certo interesse pela divulgação. Agora, por exemplo, há esse curso de extensão na UnB para o público leigo, de certa maneira ligado a Índios do Brasil. Eu quis escrever algo que substituísse Índios do Brasil, uma série de textos sobre áreas etnográficas, mas, para me incentivar a escrever, resolvi dar o curso. Nos cursos apresento uma apostila que contém o esboço desses textos, mas isso está meio parado, e para variar um pouco comecei agora um curso sobre mitologia.
Coelho de Souza
Precisaríamos somar ao professor sua atividade de editor, e essa experimentação com novos meios de divulgação. Você tem uma página na internet, por exemplo.
Melatti
Pois é, o que eu fiz sobre as áreas etnográficas está lá: os mapas, os textos sobre as áreas, além de Índios e Criadores, o Messianismo Kraô, "Os Contos de Guerra..." (http://www.geocities.com/ juliomelatti). Só não tive coragem de pôr um contador para verificar o número de visitas.
Vilaça
Falando das áreas etnográficas, às quais você chegou partindo das áreas culturais definidas por autores como Steward e Galvão, e complexificando o quadro traçado por eles pela introdução de outras variantes, inclusive a posição do etnógrafo, como você vê os resultados?
Melatti
Eu quis fazer uma coisa nova e acabei na tradição. Parti do princípio de que há duas maneiras de definir áreas etnográficas: uma, segundo o modo como é vista pelo observador externo, e outra, segundo o modo como é vivida pelos índios. Quer dizer, se comparamos uma área do Galvão, a "Tocantins-Xingu", por exemplo, que abarca Timbira, Kayapó, Karajá, Bororo, Xavante, vamos ver que, embora Bororo e Canela estejam na mesma área, um Canela nunca viu um Bororo pela frente, nunca conversou com um Bororo, a não ser em Brasília. Não sabe o que um Bororo faz, o que é, e nada disso. Mas o Canela conhece seus vizinhos, os Guajajara, que estão em outra área ("Pindaré-Gurupi"). Então, em vez de definir áreas desse jeito, podemos tentar partir das articulações existentes, traçar redes de relações, juntar os índios que trocam, ou que lutam entre si, e interagem seja pela guerra, pelo intercasamento, pela procura de xamãs, por visitarem as mesmas cidades etc. Mas se quisermos tomar esse caminho, precisamos primeiro ter muito mais informações sobre essas articulações. Mas, por outro lado, perdemos de vista que o que os etnógrafos fazem normalmente, quando selecionam um grupo para estudar ou fazem comparações, é, antes de tudo, pensar em termos de famílias lingüísticas, como Tupi, Jê, Aruak, Karib. Então, eu tento um compromisso entre isso tudo, mas na verdade acho que eu recaí foi nas áreas do Galvão. Eu faço todo um comentário inicial, mas a única coisa que eu fiz diferente dele foi dividir áreas que eram muito grandes, acrescentar áreas que não estão no Brasil, e prolongar áreas além-fronteira. Afora dizer - algo que todo mundo já sabia - que no fundo toda área é uma divisão arbitrária.
Há algumas que se impõem: o Xingu clássico, o Xingu do sul. Galvão acha que aquilo é uma área por causa da homogeneidade cultural, mas pode-se ver de outra maneira: trata-se de uma área porque eles se articulam ritualmente, por exemplo. Com o Rio Negro é a mesma coisa: Galvão pensava também em homogeneidade, e tomava os Macu como um grupo que estava pouco a pouco se tornando culturalmente semelhante aos outros do Alto Rio Negro. Mas pode-se tomar essa mesma área e considerá-la como articulada, por exemplo, pelo sistema de casamento. Então, há áreas que se impõem ao pesquisador, e tudo o que ele tem a fazer é constatar que existem.
Agora, há outras que é o pesquisador quem cria. O Brasil Central, por exemplo, interessa aos pesquisadores porque esses grupos são semelhantes, colocam-nos diante de uma problemática comum. Outra coisa que Galvão fez, e que eu gostaria de evitar, é dissolver os grupos indígenas na área. Quando olhamos para as áreas a que ele chega, vemos mais ou menos o seguinte: área tal, xamanismo, descendência patrilinear, arcos de seção redonda, uso de mandioca (menos no grupo X), uso de canoas de casca (menos no grupo Y) e assim por diante. É quase como se batêssemos aqueles grupos étnicos no liquidificador, e apresentássemos uma coisa que não é nada. O que eu tento fazer é não dissolver os grupos na área, quer dizer, eles estão na área por algum motivo, por serem semelhantes, por estarem articulados ou por apresentarem um determinado tipo de problema interessante, mas trata-se sempre de uma decisão do pesquisador.
Vilaça
E você coloca também aquelas linhas de fluxo, de comunicação entre eles...
Melatti
Foi uma tentativa que não levei adiante devido à ausência de informações para fazê-lo para toda a América do Sul. A idéia me foi sugerida pela maneira como os geógrafos trabalham (ou trabalhavam, não sei) com hierarquias de cidades. Se moro numa pequena vila e tenho um pequeno corte no dedo, posso procurar o ambulatório da vila, mas se tenho apendicite, tenho que fazer a cirurgia numa cidade um pouquinho maior, onde exista um pequeno hospital, e se preciso fazer um transplante, tenho que ir para uma metrópole - essas cidades estão portanto hierarquizadas. Fiz uma tentativa de transferir isso para as relações entre grupos indígenas. Assim, Marubo, Matis, aqueles grupos do Javari, se articulam em Tabatinga. Então, quase que se aprisionam essas relações à própria hierarquia de cidades dos geógrafos. Agora, para saber exatamente onde um determinado grupo vai procurar recursos mágicos ou xamãs, com que outros grupos comercia, se casa, faz a guerra ou o que quer que seja, precisa-se estar muito bem informado. Então foi uma sugestão que eu mesmo não pude seguir.
Vilaça
É interessante que você de certa forma volta à sua formação de geógrafo.
Melatti
É verdade, acho que realmente é assim. Havia uma professora de geografia que era muito interessada em nos colocar em contato com a atividade geográfica, Maria Madalena Vieira Pinto. Ela trazia coleções de revistas que nunca tínhamos visto, colocava na estante (uma estante parecida com a do boteco de meu avô), promovia excursões. Chegou mesmo a publicar um trabalho que fiz para uma disciplina em uma revista de geografia do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho nem a referência, mas alguém viu e me contou. Acho que isso me marcou de algum modo.
Vilaça
Vendo todo o seu percurso, a imagem mais forte que fica é a do etnógrafo, mais preocupado em pensar a partir dos problemas que se apresentavam no campo, do que em construir uma grande teoria no diálogo com as teorias disponíveis. Tanto assim que seus dados etnográficos têm uma riqueza que diferencia o seu trabalho, e possibilitam sempre uma nova leitura. Você gasta todas as páginas, todo o papel que você tem, para relatar o que lhe foi possível observar. Tome-se a etnografia krahó: no momento em que você sentiu que estava concluída, que você tinha apresentado os dados que podia coletar no campo, você mudou de grupo...
Melatti
Bem, eu podia aprofundar a etnografia, isso poderia ter sido feito. Mas eu teria de entrar numa área onde não me movo muito bem: a tradução de cânticos, de discursos e tudo o mais. Acho que, além disso, ficaram umas coisas pendentes. Eu poderia talvez, se não fugisse tanto dos Krahó na cidade, ter mantido um acompanhamento de longe, sobretudo no caso dos ritos, dos quais não conheço a seqüência (se é que eles ainda seguem alguma). Mas acho que para responder a isso teria sido necessário um acompanhamento de longo prazo, mesmo que fosse à distância. Isso faltou - mas alguma coisa sempre falta.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Jul 2002 -
Data do Fascículo
Abr 2002