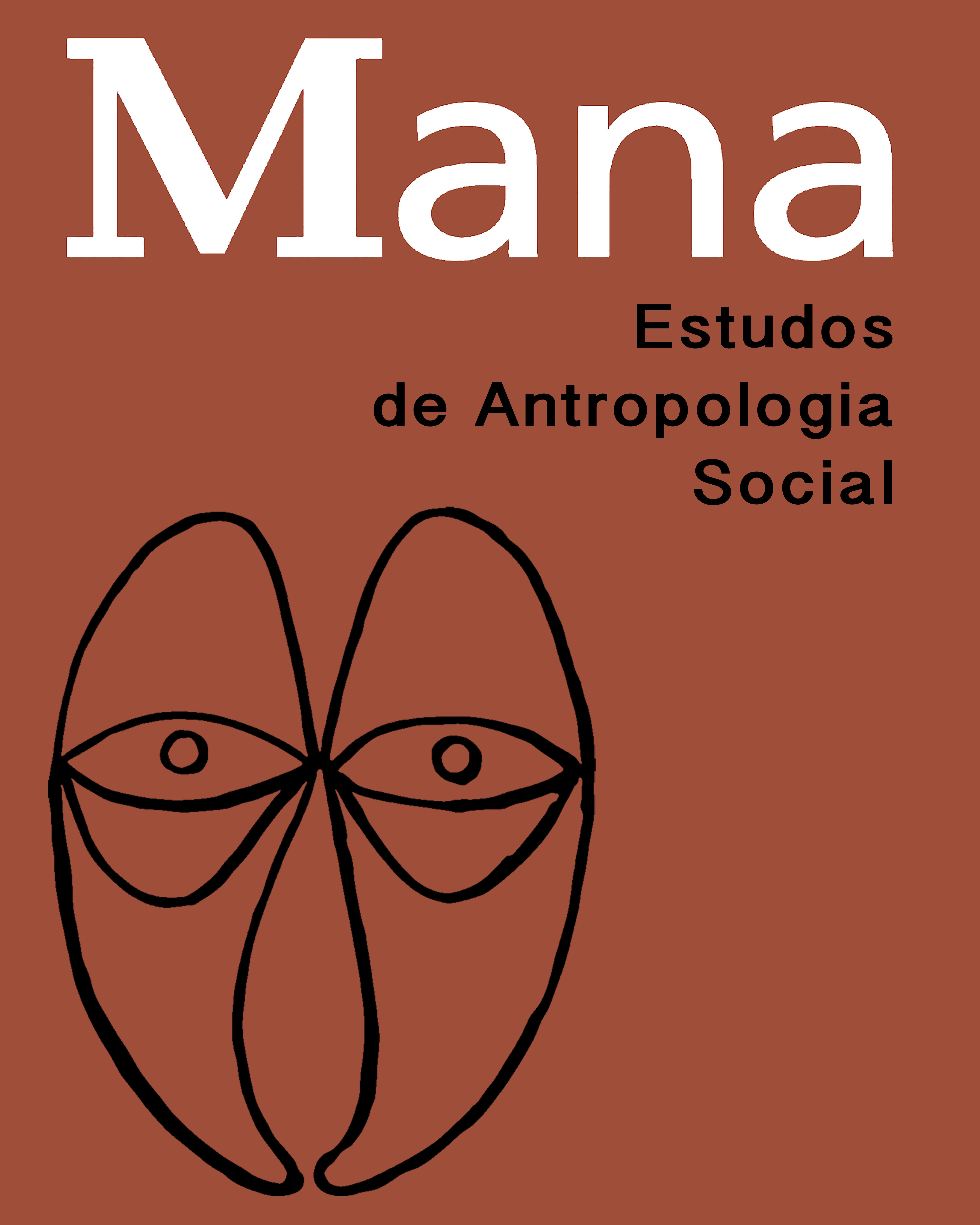Resumo
Este artigo contribui para as reflexões sobre as relações entre cotas, identificação racial, bancas de heteroidentificação e disputas epistêmicas que emergem a partir do ingresso de um maior contingente de universitários pretos e pardos no ensino superior público brasileiro. O material analisado é fruto de etnografia realizada em um coletivo de estudantes negros do curso de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), chamado Quilombo Ubuntu. A análise focaliza a chegada dos estudantes cotistas, os conflitos, os estereótipos e os processos de agenciamento; os dilemas envolvidos na opção pela modalidade de cotas para o ingresso, a heteroidentificação racial e sua relação com processos de tornar-se negro; e o modo como esse processo se articula com a produção de conhecimento, incluindo mudanças epistêmicas, nos temas de pesquisas, nos eventos da área, e na maneira como olham para a própria prática médica.
Palavras-chave:
Ações afirmativas; Ensino superior; Relações raciais; Interseccionalidade; Subjetivação.
Abstract
This article contributes to reflections on the relations between quotas, racial identification, heteroidentification boards and the epistemic disputes that emerge from the admission of a larger contingent of black and brown university students in Brazilian public higher education. The material analyzed results from ethnography carried out among a collective of black students from the Medicine course at the State University of Campinas (Unicamp), called Quilombo Ubuntu. Analysis focuses on the arrival of quota students, conflicts, stereotypes and agency processes; the dilemmas surrounding the choice of quota modality for admission, racial hetero-identification and its relationship with the processes of becoming black, as well as how this process is articulated with the production of knowledge, including epistemic changes, research themes, events in the area, and with the way they look at medical practice itself.
Keywords:
Affirmative actions; University education; Racial relationships; Intersectionality; Subjectivation
Resumen
Este artículo contribuye a las reflexiones sobre las relaciones entre cuotas, identificación racial, grupos de heteroidentificación y disputas epistémicas que emergen de la entrada de un mayor contingente de universitarios negros y pardos en la educación superior pública brasileña. El material analizado es resultado de una etnografía realizada en un colectivo de estudiantes negros de la carrera de Medicina de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), denominado Quilombo Ubuntu. El análisis se centra en la llegada de estudiantes de cuotas, los conflictos, estereotipos y procesos de agencia; los dilemas que implica optar por la modalidad de admisión por cuotas, la heteroidentificación racial y su relación con los procesos de volverse negro, además de la forma en que este proceso se articula con la producción de conocimiento, incluso los cambios epistémicos, en los temas de investigación, en los eventos del área, y en la forma de mirar la propia práctica médica.
Palabras-clave:
Acciones afirmativas; Enseñanza superior; Relaciones raciales; Interseccionalidad; Subjetivación
Introdução1 1 Neste artigo categorias êmicas estão grafadas em itálico. Os nomes atribuídos a interlocutores são fictícios e informações pessoais foram anonimizadas, exceto em casos de figuras e eventos públicos. Os pesquisadores contaram, respectivamente, com apoios da Capes e do CNPq e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Ciências Humanas e Sociais da Unicamp, CAAE nº 41329020.3.0000.8142
Este artigo reflete sobre como as ações afirmativas, em especial na modalidade de cotas raciais, e as bancas de heteroidentificação incidem sobre processos de identificação racial e sobre a possibilidade de tornar-se negro (Souza 2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .). Considera, particularmente, o modo como tais processos se relacionam com disputas e transformações epistêmicas que têm lugar a partir da entrada de um maior contingente de estudantes pretos e pardos no ensino superior público.
O material etnográfico provém de pesquisa de mestrado, fruto da relação de orientação entre os autores (Rosa 2022ROSA, William Paulino. 2022. “Aquilombar é o que dá força”: redes de afeto, de fazer político e de produção de conhecimento em um coletivo negro de universitários de Medicina. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.). A pesquisa lançou mão de observação participante e entrevistas on-line e do acompanhamento de redes sociais e das atividades internas e externas de um coletivo de estudantes negros do curso de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), chamado Quilombo Ubuntu, criado em 2019, mesmo ano em que ingressaram os primeiros estudantes cotistas nesta Universidade.
A pesquisa ocorreu entre os anos de 2020 e 2021, os primeiros anos da pandemia de Covid-19. O trabalho de campo não estava previsto para acontecer de modo on-line. Contudo, foi a única maneira de realizá-lo. Para tanto, amparamo-nos em uma série de referências que têm refletido sobre potencialidades e limites de pesquisas realizadas na/sobre a internet (Escobar 1994ESCOBAR, Arturo. 1994. “Welcome to Cyberia: notes on the anthropology of cyberculture”. Current Anthropology, [S.l.], v. 35, n. 3:211-231.; Miller & Slater 2004MILLER, Daniel & SLATER, Don. 2004. “Etnografia On e Off-line: Cibercafés em Trinidad”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21:41-65. ; Hine 2020HINE, Christine. 2020. “A internet 3E: uma internet incorporada, corporificada e cotidiana”. Cadernos de Campo, São Paulo (1991), [S. l.], v. 29, n. 2. ). Este artigo parte da compreensão de que on-line e off-line são esferas que se entrelaçam (Miller & Slater 2004) e, sob este aspecto, a internet pode ser compreendida como incorporada, corporificada e cotidiana (Hine 2020). Com o início da pandemia, redes sociais e aplicativos para encontros on-line tornaram-se ferramentas incontornáveis para que uma série de atividades não fossem descontinuadas. Por meio deles realizaram-se encontros pessoais, reuniões, aulas, eventos, trabalho cotidiano, e circularam ideias, materiais e notícias. Não seria diferente para o Quilombo Ubuntu.
A Lei Federal 12.711 de 2012 representa uma vitória dos movimentos negros na busca por equidade no acesso à educação pública superior no Brasil. Embora não incida diretamente sobre as instituições estaduais, mesmo antes de sua promulgação, várias universidades estaduais adotaram ações afirmativas na modalidade de cotas. O processo que levou à implementação de ações afirmativas racialmente orientadas na Unicamp tem particularidades. Em um primeiro momento, em 2004, foi criado o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que estabelecia bonificação para autodeclarados pretos e pardos e candidatos oriundos de escolas públicas, articulando quesitos sociais e raciais. Segundo dados divulgados pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), o PAAIS já vinha contribuindo para a mudança no perfil dos estudantes de graduação, ampliando a inserção de negros na universidade. Apenas a partir de 2016, porém, com a ampliação do bônus concedido pelo PAAIS,2 2 <https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2015/05/28/vestibular-bonus-maior-ja-em-2016>. Acesso em 05/01/2022. foi possível assistir a um crescimento expressivo do número de estudantes negros e egressos de escolas públicas, especialmente nos cursos mais concorridos.
A aprovação das cotas raciais e do Vestibular Indígena na Unicamp foi fruto de um longo percurso de embates políticos. Pode ser associada à promulgação da Lei de Cotas, mas também a uma série de pressões de atores internos e externos a essa universidade. Na trajetória da disputa interna, uma das estratégias foi a adoção de cotas raciais nos processos seletivos de programas de pós-graduação, iniciada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), em 2015 (Medeiros 2015). Em um contexto político complexo, marcado pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff e pelo anúncio, por parte da Unicamp, de um plano de contenção de despesas que impactaria negativamente a Universidade, eclodiu a greve de 2016, momento de grande importância para as disputas em torno da aprovação das cotas raciais e do Vestibular Indígena, sob o mote “Cotas sim, cortes não! Contra o golpe e pela educação, permanência e ampliação” (Inada 2018INADA, Angélica. 2018. Quando a Unicamp falou sobre cotas: trajetória de militância do núcleo de consciência negra e da frente pró-cotas da Unicamp. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.). Em 21 de novembro de 2017, o projeto de ação afirmativa a ser implementado foi divulgado. A primeira edição do vestibular da Unicamp com opção de cotas raciais e o Vestibular Indígena ocorreram em 2018, para ingresso no ano letivo de 2019.
O modo como as cotas operam na Unicamp difere daquele das universidades federais: para optar por essa modalidade não é necessário ter cursado escola pública; contudo, os estudantes negros que ingressam por cotas somam-se aos que o fazem por outras formas de ingresso, que priorizam o acesso de estudantes oriundos de escolas públicas e reservam percentuais para estudantes pretos e partos nessa condição. Em 2019, fruto de construção nos anos anteriores, é institucionalizada a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial3 3 <http://www.direitoshumanos.unicamp.br/diversidade-racial/quem-somos/>. Acesso em 15/12/2021. vinculada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e consolidada de modo permanente na estrutura da universidade. É sob sua responsabilidade que se dá a atuação da Comissão de Averiguação do Vestibular da Unicamp (CAVU), criada no mesmo ano, em resposta a denúncias de fraude.
O curso de Medicina existe na Unicamp desde 1962. Em 2019, ano da implementação das cotas raciais, houve 29.047 inscritos para este curso no vestibular, representando 38% do total de inscritos, com relação candidato/vaga de 330,1. Nesse mesmo ano, houve 3.563 inscritos por cotas para o curso, com relação candidato/vaga de 209,6.4 4 <http://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/09/cand_vaga_vest2020-e-cotas.pdf> Acesso em 03/04/2022. O efeito das ações afirmativas se fazia notar neste curso especialmente a partir de 2016, com a modificação na pontuação do PAAIS, e se intensificou com a adoção das cotas. Em menos de uma década, os estudantes autodeclarados pretos e pardos matriculados no primeiro ano do curso de Medicina passaram de menos de 10% a aproximadamente 30% a partir de 2016, e a uma média consistente de 41,5% entre 2019 e 2021.5 5 Em 2015 havia 10 autodeclarados negros no curso (dois pretos e oito pardos), seguindo tendência de menos de 10% de pretos e pardos matriculados no curso de Medicina da Unicamp. Já em 2016, ano em que houve mudanças nos critérios da bonificação no PAAIS, o número de autodeclarados subiu para 34 (30 pardos e quatro pretos). Nos anos seguintes, considerando as várias formas de ingresso (PAAIS, ENEM-Unicamp, livre concorrência e a opção por cotas raciais, possível a partir do vestibular de 2018), constatou-se contínuo crescimento de autodeclarados pardos e aumento considerável de autodeclarados pretos. A partir de 2019, estudantes pretos e pardos passaram a compor uma média consistente de 41,5% dos matriculados no curso. Dados da Comvest sobre raça/cor de matriculados no curso de Medicina: <https://www.comvest.unicamp.br/estatisticas-comvest/estatisticas-sociais/perfil-socioeconomico/perfil-socioeconomico-geral/>. Acesso em 10/12/2021.
Apesar disso, chegar e permanecer no curso de Medicina, conforme relatou uma interlocutora na reunião em que a proposta de pesquisa foi apresentada ao Quilombo Ubuntu, “não é nada fácil”. A começar pelo ingresso. O caminho para a aprovação no exame vestibular pode ser longo. É comum para muitos candidatos - cotistas ou não - realizarem a prova repetidas vezes até obterem aprovação. A etapa seguinte é a matrícula, mas, caso o candidato seja cotista, é necessário passar pela heteroidentificação fenotípica. Após esse percurso, ao chegar à universidade, alguns discentes negros deparam-se com um cenário do qual não se sentem parte: como permanecer se a sensação é a de que você não deveria estar ali? Para esta pergunta, inúmeras respostas são possíveis. Para nossos interlocutores, fazer parte do Quilombo Ubuntu e participar de suas atividades, ou apenas saber de sua existência naquele contexto, eram maneiras de se sentirem parte do espaço ao qual buscaram tão avidamente pertencer.
O Quilombo Ubuntu nasceu no final de 2019. O principal estímulo para sua criação foi a necessidade de constituir um espaço de acolhimento e aquilombamento para pessoas negras estudantes da FCM. O encontro com o Quilombo Ubuntu se deu quando William Rosa foi convidado por um integrante a participar de uma reunião. Na ocasião, o tema a ser discutido era a afetividade entre pessoas negras LGBT. Aquela participação afetou consideravelmente o pesquisador. Em primeiro lugar porque não apenas conheceu um grupo diverso de pessoas que lhe abriram as portas do coletivo e de parte de suas vidas, mas também porque pôde colocar em perspectiva sua própria experiência universitária. Passou, assim, a reconhecer as muitas semelhanças que compartilhava com aqueles estudantes. Afinal, também era um estudante negro de uma universidade pública. Ainda que soubesse o que representa autodeclarar-se negro, pela primeira vez encontrava-se em um espaço no qual experiências relativas a ser negra(o) na universidade eram compartilhadas.
Após aquele encontro, tão significativo, começamos a pensar no Quilombo Ubuntu como uma porta de entrada para refletir sobre os processos de mudança no contexto universitário e, mais especificamente, no âmbito do curso de Medicina. Ao longo do trabalho de campo, foram acompanhadas reuniões formativas e de acolhimento, conversas cotidianas eram realizadas via WhatsApp com os estudantes, e alguns integrantes foram entrevistados. Atividades abertas, então realizadas em formato remoto, no curso de Medicina foram acompanhadas, assim como eventos promovidos pelo coletivo e seus parceiros e eventos externos, dos quais integrantes participaram. Assim, parte de suas redes com outros atores interessados na articulação entre medicina e raça foram acessadas em campo.
Ao olharmos para a emergência do Quilombo Ubuntu e de outros coletivos negros em cursos de Medicina, é possível dizer que estamos diante de um processo no qual aqueles que durante muito tempo foram tomados como objetos de estudo do campo médico (Schwarcz 1993SCHWARCZ, Lilia. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.) estão se tornando sujeitos do conhecimento nessa mesma área, produzindo reflexões críticas sobre os saberes e as práticas médicas e sobre o seu próprio lugar dentro do espaço acadêmico, das ciências médicas, bem como sobre relações raciais e saúde. Experiências como essa se revestem de importância significativa ao considerarmos o que Lélia Gonzalez (1988GONZALEZ, Lélia. 1988. “A categoria político-cultural de amefricanidade”. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93:69-82, jan./ jun. :69) nos diz sobre as artimanhas do racismo no Brasil, que opera simultaneamente como construção ideológica que mantém privilégios raciais e como um “sintoma por excelência da neurose cultural brasileira”: um país que se lê como uma sociedade branca às custas da negação do legado negro e da “denegação de nossa ladino-amefricanidade”.
Especiais, diferenciados e com rendimento excepcional?
Em 16 de março de 2021 ocorreu a aula magna do curso de Medicina da Unicamp. Estavam presentes docentes que compunham a coordenação do curso e um professor aposentado, incumbido de ministrá-la. Antes que o convidado principal fizesse uso da palavra, docentes manifestaram seu contentamento por receber os ingressantes, que passavam a integrar a 59ª turma do curso de Medicina. A aula tinha uma atmosfera de celebração, marcada por manifestações de boas-vindas, felicitações e elogios. Alguns destes elogios capturaram nossa atenção: enfatizava-se o quanto aqueles estudantes eram especiais, diferenciados e possuíam um rendimento excepcional.
Em seguida, um alerta foi feito: “o vestibular passou e a mentalidade de competição também”. Dali em diante, deveriam ser colegas de caminhada: não mais competiam por uma vaga. Em dado momento, docentes parabenizaram também os familiares dos ingressantes, que deveriam estar contentes por seus filhos. O professor responsável por ministrar a aula deu as boas-vindas aos discentes e destacou que aqueles estudantes estavam buscando exercer “uma das mais nobres e importantes atividades humanas: a prática médica”. A pandemia de Covid-19 emergiu no início de sua fala para demarcar a importância da profissão em um momento tão crítico e desafiador, e para enfatizar que a ciência é basilar para o ofício. Em relação à chegada ao ensino superior, anunciou aos ingressantes: “a universidade vai mudar vocês diretamente”. A aula inaugural, um dos rituais que marcam o início do novo momento, foi transmitida ao vivo pelo canal da FCM no YouTube. Ela apresenta aos discentes a FCM, sua tradição, as normas que regulam seu funcionamento e o que é esperado dos e para os estudantes ao longo da graduação.
Algumas pessoas ingressam em Medicina assim que finalizam o ensino médio, mas esta não é a realidade da maioria. É comum ouvir relatos de pessoas que fizeram anos de curso pré-vestibular até obterem um rendimento excepcional. Renato, que contava então 21 anos e havia estudado a maior parte do tempo em escolas públicas até obter bolsa para um pré-vestibular, ingressou no curso em 2019 por cotas raciais em sua primeira tentativa, mas questionava: “é, eu passei direto, mas a que custo?”. A celebração na aula inaugural e o reconhecimento do mérito dos ingressantes, ainda que importantes para quem está chegando, acabam por ofuscar os distintos caminhos trilhados para chegar àquele espaço tão almejado quanto disputado. Há desafios para qualquer pessoa ingressar em um curso universitário altamente concorrido. Mas, considerando os entrecruzamentos de raça, classe, gênero e sexualidade, constatamos que ser especial, diferenciado e ter um rendimento excepcional não é suficiente para todos, ou pode ter diversos significados.
Ao longo do trabalho de campo, um episódio considerado emblemático pelos interlocutores emergiu em distintos relatos, especialmente entre os que ingressaram no primeiro vestibular com cotas raciais: o aumento da nota mínima para a aprovação em disciplinas realizadas no Instituto de Biologia (IB) no início de 2019. Sem justificativa formal que pudéssemos acessar, o evento emerge na forma de rumores que o interpretam como uma reação ao ingresso dos estudantes cotistas, conforme relata Renato:
Quando entramos, a média aumentou para sete, foi o ano das cotas, por isso muita gente caiu de turma, e as pessoas estavam atribuindo [as reprovações] ao fato de ter cotas, mas era porque aumentaram a média de cinco para sete. Obviamente mais pessoas iriam reprovar. Na época, a gente conversava com a coordenação, e a resposta era “ah, é o sistema”.
Naquele ano, o número de reprovações foi inédito na história da FCM. Há uma especificidade neste curso: ao reprovar em uma disciplina perde-se o ano inteiro, o estudante cai de turma. Contudo, os efeitos deste episódio se espraiaram pelo cotidiano de outros sujeitos e espaços institucionais, atravessando as condições de permanência dos ingressantes. Em uma conversa por WhatsApp, Heitor, que tinha 26 anos e também ingressou no primeiro ano das cotas, tendo estudado exclusivamente em instituições públicas e iniciado antes outra graduação, da qual abrira mão para cursar Medicina, nos contou que, ao entrar no hospital era frequente, “caso você fosse negro, ser questionado se você é um dos 22 que reprovaram, sendo que, dos 22, só quatro eram negros e o resto não era”.6 6 A partir da mobilização estudantil, os discentes conseguiram a implementação de uma turma especial, dado o grande número de reprovados, muitos iriam cair de turma. Com isso, 14, dos 22 universitários, conseguiram aprovação e não caíram de turma.
O relato de Heitor nos remete à análise de Veena Das (2020) sobre os rumores que emergiram quando Indira Gandhi foi assassinada e sobre sua capacidade de entremear e afetar o cotidiano dos indivíduos: “o rumor às vezes pode desempenhar uma função crítica, enquanto em outros momentos pode criar condições letais para a circulação do ódio” (Das 2020:165). Os rumores que circularam em torno do aumento da nota mínima em 2019 davam conta do atravessamento do racismo institucional no processo de chegada e de permanência dos estudantes negros e cotistas naquele contexto.
Cotista é toda pessoa que ingressa por cotas raciais. Contudo, o acompanhamento de reuniões do coletivo nos indicou que a categoria era atravessada por estereótipos que recaem sobre aqueles que ingressaram por cotas, mas também, sobre todos os negros, de modo que qualquer estudante negro era lido como cotista. Contudo, na reunião de acolhimento do Quilombo Ubuntu, observamos a produção de um movimento em sentido contrário: a positivação da categoria e, portanto, da experiência de ser cotista e de ser negra(o) na Medicina. Uma das inúmeras conversas com Heitor nos ajuda a avançar na reflexão sobre potenciais impactos de estereótipos no cotidiano de um ingressante negro na universidade:
Nós chegamos acuados. Eu tinha medo de fazer perguntas para os professores, porque pensava que achariam que eu tinha esse tipo de pergunta porque entrei por cotas, era um não lugar. Eu tinha medo de entrar em qualquer lugar na faculdade, medo de falar. Até conhecer outras pessoas e conversar sobre isso, foram tempos complicados: eu sentia que não tinha capacidade de estar ali.
A oposição entre cotas raciais e mérito acadêmico atravessa o discurso de parte dos ingressantes cotistas, e seus efeitos permeiam os processos de chegada e permanência no curso. Essa oposição também atravessara argumentos utilizados para refutar a adoção de ações afirmativas por reserva de vagas (Araujo 2019ARAUJO, Danielle. 2019. A cota paulista é mais inteligente: o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP) e o confinamento racial da classe média branca. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.). Em campo, nos pareceu estar diretamente relacionada aos sentimentos de não pertencimento e não merecimento que emergiram em várias narrativas. O sentimento de não pertencimento esteve também relacionado à aparição (Fanon 2008FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba.): ser percebido como negra(o) em meio a um contexto majoritariamente branco e altamente disputado e estar exposta(o) às reações que advêm desse processo. Vitória relatou sentir-se impostora nas primeiras semanas de aula: “Me desesperei logo no primeiro trabalho a ser entregue, comecei a sentir que não tinha capacidade para o curso. Essa sensação se fez presente até a primeira reunião do coletivo”.
Vitória tem 21 anos e ingressou em 2020. Cresceu em uma cidade do interior paulista, tendo estudado em escolas particulares ao longo de boa parte de sua vida. Ao relatar os impasses que viveu no processo de optar pelas cotas, Vitória disse que, inicialmente, não se sentiu orgulhosa por ter ingressado por essa via. Não sentir orgulho e não se sentir merecedora parecem ter relação com o fato de que alguns estudantes que ingressaram por cotas raciais não se sentem especiais ou com um rendimento excepcional. bell hooks relata como, em instituições de ensino estadunidenses, pessoas negras são muitas vezes tidas “como sujeitos desprovidos de habilidades intelectuais” (hooks 2015:678), observando que tais representações atravessam o desempenho e a relação de muitos jovens com a escola e com a atividade intelectual, impelindo-os a descontinuar os estudos ou a acreditar que não possuem condições para tanto.
Stuart Hall argumenta que o estereótipo “naturaliza e des-historiciza a diferença, confunde o que é histórico e cultural com o que é natural, biológico e genético” (Hall 2009:345). Estereótipos são modos limitados e limitantes de representação do Outro, que buscam aprisionar os sujeitos em imagens prefixadas. Tal compreensão nos remete a um famoso incidente, ocorrido em 2017, no qual um professor da FCM publicou, na página de Facebook do então reitor da Unicamp, que, ao adotar uma política como as cotas raciais, a Universidade estaria trocando cérebros por nádegas7 7 <https://cartacampinas.com.br/2017/06/x-medico-da-unicamp-diz-que-cotas-e-trocar-cerebro-por-nadegas-reitoria-repudia-declaracoes/>. Acesso 05/10/2021. . Não queremos soar anedóticos, mas o episódio nos parece emblemático da operação de estereótipos e de “práticas de representação sobre o negro” (Gomes 2008GOMES, Janaina. 2008. Elas são pretas: cotidiano de estudantes negras na UNICAMP. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.:102).
Ao situar estereótipos como modos essencializantes de representação, Hall não ignora a capacidade de agência dos sujeitos para mobilizá-los em seu favor ou mesmo subvertê-los. Ao contrário, enfatiza os agenciamentos para desestabilizar os efeitos dessas representações. Porém, como nos lembra Neusa Santos Souza (2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .), esse não é um processo simples: os processos históricos negados pela produção de estereótipos, os quais são introjetados, são também os que delimitam as condições de possibilidade social e historicamente construídas de ascensão social do negro. Os que ousam romper com o paralelismo negro/miséria poderiam tender a “assimilar o discurso da democracia racial, que vê o negro que não sobe como um desqualificado, do ponto de vista individual” (Souza 2021:52). Na medida em que atributos como beleza, inteligência, racionalidade estão associados ao branco, como não sucumbir a um modelo para a constituição de si que é branco e ao massacre subjetivo? Nesse sentido, Souza nos fala de ser negro como uma condição que não está dada, mas como um vir a ser relacionado à “experiência de resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades” e à possibilidade de “construir uma identidade que lhe dê feições próprias”, com a qual seus interlocutores “se batiam” de maneiras contraditórias e dolorosas (Souza 2021:46, 116).
Sem subestimar a violência dos processos sociais, históricos e a intensidade dos processos de constituição subjetiva que atravessam a possibilidade de tornar-se negro no sentido atribuído por Souza (2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .), estudos que têm se debruçado sobre a experiência de ingresso, em maior quantidade, de corpos negros nas universidades e, em especial, sobre a construção de coletivos universitários negros têm apostado nas experimentações coletivas que ganham condição de possibilidade nesse contexto. Nessas experimentações, de modos mais ou menos contraditórios, tem sido possível encontrar sujeitos que se põem em movimento, produzindo estratégias para disputar espaços de poder e as imagens de controle, construindo narrativas sobre si e enunciando-as em seus próprios termos. No caso dos integrantes do Quilombo Ubuntu, a busca por subverter estereótipos tem se dado por meio da positivação da categoria cotista: não se trata de abolir a sua utilização, mas de dotá-la de outros significados a partir do processo de aquilombamento. Em seu perfil no Instagram, o Quilombo Ubuntu assim se apresenta:
Viemos instaurar um Quilombo dentro da FCM, criar, ocupar e ressuscitar nosso espaço, fabricar nosso espaço de “comunhão existencial” em um espaço dentro da saúde, dentro da Medicina, no qual há pouco nem podíamos existir.8 8 <https://www.instagram.com/p/CLpnZqbHMxm/> . Acesso em 20/03/2021.
As narrativas sobre o processo de escolha do nome do coletivo indicam que se tratou de uma composição de termos que emergiram de uma chuva de ideias. É provável que boa parte dos estudantes que elegeram o nome não manejasse naquele momento diálogos como os que poderíamos tecer aqui para retomar o processo de extrair da categoria polissêmica quilombo, que já fora usada para referir a “habitação de negros fugidos”, os sentidos de uma “reunião fraterna e livre” na qual há “solidariedade, convivência e comunhão existencial” (Nascimento, A. 2019NASCIMENTO, Abdias. 2019. O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista. 3. ed. rev. São Paulo: Editora Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro.:289-290) e de “sistemas sociais alternativos’’ que abriam “brechas no sistema escravista” (Nascimento, B. 2021:160). Contudo, parecem ter compreendido rapidamente que precisavam se tornar referências para si mesmos, estabelecer uma “comunhão existencial”. Como nos disse um interlocutor: “Aquilombar é o que dá força”, sobretudo no espaço tão pouco acolhedor que encontraram.
Aquilombados, entenderam também que era preciso positivar a categoria cotista. Desse modo, nos parece que produziram um deslocamento que permitiu que o ingresso por cotas raciais deixasse de ser algo que faz com que os discentes se sintam acuados para ser ressignificado como um posicionamento político em face das desigualdades para o acesso à educação superior pública no Brasil. Tal deslocamento nos parece fundamental tanto para a permanência universitária quanto para possibilidades de “resgatar sua história [social e subjetiva] e recriar-se em suas potencialidades”, para usar os termos de Souza (2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .).
Escolher ingressar por cotas raciais, identificar-se e a chegada ao curso de Medicina
Eu pensava: “Não sei se quero passar por cotas. Vou ter que afirmar a minha existência o tempo todo?”. Hoje em dia vejo que isso é um pouco mais fácil, porque eu passo por esse processo acompanhada. Mas, às vezes, você tem que ficar criando lógicas, construindo e desconstruindo coisas. Sempre defendi as cotas, mas para mim não existia uma coisa separada da outra: condição econômica separada da sua identidade de cor de pele. Então, não me questionava sobre se cota era algo aplicável a mim. No meu segundo ano de cursinho, foi quando a Unicamp abriu cotas raciais. Demorei um mês e meio para fazer a minha inscrição, porque não sabia o que colocar: pensava “nossa, mas você não é negra?”, “sou”, “e você não defende cotas?”, “defendo”. Mas eu nunca tinha defendido cotas para mim (Vitória 2021).
Vitória não foi a única que afirmou desconhecer que as cotas raciais não estavam, necessariamente, atreladas à condição socioeconômica. João, de 23 anos, e Marcelo, de 19, também oriundos de escolas particulares, vivenciaram o mesmo: não se sentiam aptos a usar a política de ação afirmativa porque imaginavam que ela fosse direcionada, exclusivamente, a candidatos negros de baixa renda. No caso dos três estudantes, negros de pele clara, a dúvida acerca de se inscrever no vestibular por cotas ganhava outros contornos: não se sentiam negros o suficiente. Constatamos que optar pelas cotas raciais para prestar o vestibular e a possibilidade de ter essa escolha suscitaram inúmeros dilemas nos interlocutores. O atravessamento da oposição entre cotas e mérito os levava a considerar que o candidato cotista é menos capaz ou não está equiparado com aqueles que entraram por ampla concorrência. Isto fica evidente quando Vitória relata que passar sem cotas raciais em outras instituições foi uma espécie de autovalidação, e quando Marcelo entende que ser aprovado em outros vestibulares sem o uso da política foi uma maneira encontrada por ele de se provar.
Outro dilema aparecia entre os negros de pele clara, ao se perguntarem se eram negros o suficiente, ou mesmo se sofreram racismo suficiente para ter direito a utilizar as cotas raciais. Questionamentos sobre ser negro o suficiente emergiram na reunião de acolhimento de 2021, vindo tanto de estudantes que já integravam o Quilombo Ubuntu quanto dos ingressantes daquele ano. Como nos mostrou Vitória, posicionar-se em favor da política pública e acreditar em sua importância não são suficientes para que os que se autodeclaram negros de pele clara, e até mesmo para alguns que se reconhecem como negros de pele retinta, sintam-se sujeitos de direito da mesma.
Marcelo relatou que, durante o processo de opção pelas cotas, por vezes sentia que não “sofreu racismo suficiente para merecer isso”. Heitor, ainda que se soubesse negro desde criança e, portanto, sujeito de direito da ação afirmativa, conta que chegar à universidade como aluno cotista foi um desafio; não viveu dilemas sobre optar ou não pela política, mas sua escolha, após o ingresso, o fazia não se sentir apto a estar no curso de Medicina e desconfortável para transitar pelos espaços e fazer questões em aula, o que se agravou quando esteve entre os reprovados pela mudança da nota mínima: “as pessoas acham que reprovei porque entrei por cotas”. Vitória, depois de ultrapassar as dúvidas e optar pelas cotas, não se permitiu celebrar a notícia da aprovação na Unicamp. Embora soubesse que tinha direito a ingressar pelas cotas raciais, não se sentiria uma estudante de Medicina até passar pela CAVU.
Vitória, negra de pele clara, passa a se reconhecer enquanto tal quando precisa decidir se prestará o vestibular como cotista. Para Vitória, esse autorreconhecimento é fruto de um intrincado processo, ainda inacabado, que envolveu olhar para o seu passado, para sua família e realizar um exercício de recuperação da própria história, inclusive para atribuir-lhe um novo sentido, conferindo inteligibilidade aos episódios de racismo que viveu. Ganha destaque em seu relato o fato de que, ainda que se saiba negra, é uma negra de pele clara. Há particularidades quando esta constatação se dá em um contexto como o brasileiro, no qual a miscigenação não apenas é parte constitutiva da identidade nacional, como foi, em um período de sua história, acionada para o embranquecimento da população (Schwarcz 1993SCHWARCZ, Lilia. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.; Munanga 2019MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.).
O processo de ressignificação experimentado por Vitória e por outros interlocutores, e que fez com que passassem a se declarar negros, vai ao encontro do processo de politização da raça e das identidades negras no Brasil (Gomes 2012GOMES, Nilma Lino. 2012. “Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça”. Educação & Sociedade, v. 33 n. 120:727-744.; Munanga 2019MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.). O movimento negro brasileiro tal qual o conhecemos hoje se constitui por uma operação na qual a estabilização de seu sujeito político passa pela compreensão da categoria “negro” como equivalente à somatória de sujeitos que se autodeclaram pretos e pardos. Esse processo, de acordo com Kabengele Munanga (2019), está diretamente relacionado às ações políticas historicamente empreendidas por tais movimentos que, ao ressignificarem e politizarem a raça e a categoria “negro”, impactaram diretamente as distintas compreensões acerca das nuances inerentes às identidades negras no Brasil, contribuindo diretamente para o aumento do número de sujeitos pretos e pardos que passaram a se reconhecer politicamente como negros (Munanga 2019).
Não se trata de inferir que negros de pele clara terão dúvidas se devem ou não optar pelas cotas raciais. Negros de pele escura ou retintos também enfrentam questões em relação a ingressar por esta via, conforme se pode inferir pelo relato de Heitor. Contudo, o dilema relatado por Vitória, e também por João, Marcelo e outros estudantes, gira em torno do não se sentir negro o suficiente, de não ter sofrido racismo suficiente, e do medo de não ter sua declaração racial aprovada no processo de heteroidentificação: sentem-se em uma espécie de limbo racial (Miranda, Souza & Almeida 2020MIRANDA, Ana Paula; SOUZA, Rolf & ALMEIDA, Rosiane. 2020. “‘Eu escrevo o quê, professor(a)?’: notas sobre os sentidos da classificação racial (auto e hetero) em políticas de ações afirmativas”. Revista de Antropologia, v. 63, n.,3: e178854. ; Bacelar 2021BACELAR, Gabriela. 2021. (Contra)mestiçagem negra: pele clara, anticolorismo e comissões de heteroidentificação racial. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia. ).
Como adverte Souza (2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .): “no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não organizam, por si só, uma identidade negra” (Souza 2021:115). Reconhecer-se ou ser reconhecido como negro no contexto brasileiro, para além de estar intimamente atrelado à marca e ao fenótipo (Nogueira 1985NOGUEIRA, Oracy. 1985. Tanto preto quanto branco: estudos de relações raciais. São Paulo: T. A. Queiroz.), é também um processo de tomada de consciência, um processo de subjetivação (Souza 2021; Fanon 2008FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba.). O sujeito negro que se dedica a empreender um processo de se mover socialmente, ao chegar à universidade pode reelaborar, a partir do contraste, a sua identidade racial (Figueiredo 2004FIGUEIREDO, Ângela. 2004. “Fora do jogo: a experiência dos negros na classe média brasileira”. Cadernos Pagu, n. 23:199-228.). Contudo, esse processo de mobilidade, “longe de ser um antídoto contra a discriminação e o preconceito racial, expõe as pessoas negras a situações de maior vulnerabilidade, uma vez que os espaços sociais em que convivem são majoritariamente frequentados por brancos” (Figueiredo 2004:208).
Se antes do ingresso no curso de Medicina alguns dos integrantes do Quilombo Ubuntu vivenciaram dilemas em relação ao pertencimento racial ou ao ingresso por cotas, quando adentraram o espaço da FCM constataram o lugar racial que lhes era alocado no processo de aparição, conforme definido por Fanon (2008FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba.). Assim, se a aparição vinha acompanhada de uma sobredeterminação - para os outros, eram todos negros e, logo, cotistas -, emergia também de maneira a impulsionar a enunciação, podiam identificar uns aos outros, o que resultava na produção de identificações, identidades e diferenças. Em contraposição à sobredeterminação, Fanon (2008:108) sustenta: “decidi me afirmar como Negro. Uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia uma solução: fazer-me conhecer”.
Ao longo desta pesquisa, compreender-se negro mostrou-se um processo que se dá em relação e é favorecido por um coletivo que tem como proposta ser um quilombo na Medicina. Para alguns estudantes, a chegada à universidade foi o ponto de partida ou o espaço para o adensamento do processo de perceber-se como negro. Além disso, identificar-se como negro emergiu também, sobretudo, como entender-se diverso: é também tornar-se mulher, homem, LGBT.
Stephanie Lima (2020LIMA, Stephanie. 2020. “A gente não é só negro!”: interseccionalidade, experiência e afetos na ação política de negros universitários. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.) aponta a importância de perspectivas interseccionais na constituição de enquadramentos para a ação de coletivos negros universitários em Salvador, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo; Rios e Maciel (2018RIOS, Flavia & MACIEL, Regimeire. 2018. “Feminismo negro brasileiro em três tempos: mulheres Negras, Negras Jovens Feministas e Feministas Interseccionais”. Labrys: études féministes/estudos feministas, v. 1:120-140.) registram as transformações de uma terceira geração no feminismo negro brasileiro, perpassada por processos de ampliação do acesso à universidade, popularização do acesso à internet e pela centralidade da noção de interseccionalidade. Em diálogo com estas Zanoli (2019ZANOLI, Vinícius. 2019. “Bradando contra todas as opressões!”: uma etnografia sobre teias e trocas entre ativismos LGBT, negros, populares e periféricos (Campinas, 1998-2018). Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.) Facchini (2020FACCHINI, Regina; CARMO, Íris Nery & LIMA, Stephanie. 2020. “Movimentos feminista, negro e lgbti no Brasil: sujeitos, teias e enquadramentos”. Educação & Sociedade, v. 41: e230408.) e Facchini, Carmo e Lima (2020) têm apontado para a noção de interseccionalidade como um enquadramento que atravessa simultaneamente diversos campos ativistas no Brasil. Nesse contexto, talvez seja o caso de pensar que hoje, para além de um processo complexo e sempre inacabado (Souza 2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .), tornar-se negro é também um processo múltiplo, atravessado por tantas outras diferenças.
Nesse processo intrincado, que se intensifica em face da possibilidade de ingresso na universidade por cotas raciais, em um curso de alta concorrência, as memórias pessoais, um intenso reexame e a elaboração do vivido ganham lugar. Marcelo conta: “sempre que ia andar na rua durante a semana, para ir ao inglês ou fazer outra coisa, eu ficava com o uniforme da escola, porque me sentia mais seguro, para mostrar que ‘ah, estava estudando no Colégio X’”. Habitar e ressignificar o lugar de negro, para este estudante, esteve diretamente relacionado com optar pelas cotas, com a chegada à universidade e com a integração com os estudantes que compõem o Quilombo Ubuntu, constituindo-se, em sua perspectiva, em um intenso processo de elaboração subjetiva. Vitória, por sua vez, nos remete ao modo como tal processo a levou a repensar relações familiares e nelas operou transformações:
Escolher cotas reverberou em como minha mãe me enxerga: a partir desse momento ela começou a me ver como negra. Ela não tinha essa percepção antes e parece que começou a cair a ficha dela de muita coisa que passei antes e ela não queria ler do jeito que foi, não queria entender o racismo que foi.
A opção pelas cotas para ingresso na universidade, a autopercepção racial, as mudanças nas relações familiares e o encontro com o Quilombo Ubuntu integram os processos experimentados pelos sujeitos desta pesquisa, assim como outros: o escrutínio do passado, e o ato de identificar como racismo episódios vividos anteriormente, então compreendidos como insultos pontuais ou brincadeiras. Mas não é apenas a chegada ao ensino superior que impele os sujeitos a autoafirmarem-se como negros; as universidades apresentam-se como lugares propícios para que isso aconteça (Lima 2020LIMA, Stephanie. 2020. “A gente não é só negro!”: interseccionalidade, experiência e afetos na ação política de negros universitários. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.). Em se tratando dos cursos de Medicina, os estudantes ingressam em espaços majoritariamente compostos por pessoas brancas, o que contribui para a sua aparição (Fanon 2008FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba.). O encontro com pessoas que estão vivenciando processos semelhantes, os coletivos negros universitários e, em certa medida, algumas disciplinas também podem contribuir para o processo de elaboração das identidades negras dos universitários. Refletir sobre as experiências narradas pelos sujeitos da pesquisa, colocou-nos diante de Sueli Carneiro:9 9 Texto escrito em resposta à divulgação de fotos de concorrentes às vagas por cotas raciais no Vestibular da UnB daquele ano. <https://www.geledes.org.br/negros-de-pele-clara-por-sueli-carneiro/>. Acesso em 05/01/2022.
Insisto em contar a forma pela qual foi assegurada, no registro de nascimento de minha filha Luanda, a sua identidade negra. O pai, branco, vai ao cartório, o escrivão preenche o registro e, no campo destinado à cor, escreve: branca. O pai diz ao escrivão que a cor está errada, porque a mãe da criança é negra. O escrivão, resistente, corrige o erro e planta a nova cor: parda. O pai novamente reage e diz que sua filha não é parda. O escrivão irritado pergunta, “Então qual a cor de sua filha”. O pai responde, “Negra”. O escrivão retruca, “Mas ela não puxou nem um pouquinho ao senhor? É assim que se vão clareando as pessoas no Brasil e o Brasil. Esse pai, brasileiro naturalizado e de fenótipo ariano, não tem, como branco que de fato é, as dúvidas metafísicas que assombram a racialidade no Brasil, um país percebido por ele e pela maioria de estrangeiros brancos como de maioria negra (Carneiro 2004CARNEIRO, Sueli. 2004. “Negros de pele clara”. Portal Geledés.).
A autora nos faz compreender como as identidades negras estão sujeitas ao aniquilamento, físico e subjetivo, tornando compreensível que os sujeitos desta pesquisa se questionem sobre ser ou não negros. A descoberta de ser negro, como já disse Souza (2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .:46), é a constatação do óbvio - “aquela categoria que só aparece enquanto tal depois do trabalho de se descortinar muitos véus”.
Livio Sansone (1996SANSONE, Livio. 1996. “Nem somente preto ou negro: o sistema de classificação racial no Brasil que muda”. Afro-Ásia, n. 18:165-187.), a partir de pesquisa realizada sobre autoclassificações raciais, assinala o “desenvolvimento de uma nova identidade negra e, num grupo maior de pessoas, de um orgulho de ser negro de forma não contrastiva, além de uma mais aguda percepção do racismo” (Sansone 1996:187). A autodeclaração como negro emergia como intimamente relacionada à democratização do acesso à educação e ao aumento da escolarização de sujeitos pretos e pardos, bem como a um processo de reconhecimento político da própria raça e, consequentemente, da identidade negra. Sob esta perspectiva, Graziella Silva e Marcelo Paixão (2021SILVA, Graziella & PAIXÃO, Marcelo. 2021. “Misturado e desigual: novas perspectivas sobre as relações etnorraciais no Brasil”. In: E. Telles & G. Silva (orgs.), Pigmentocracias: etnicidade, raça e cor na América Latina. Porto Alegre: Editora da UFRGS. pp. 259-328) apontam para o enegrecimento ou empretecimento de pessoas pretas e pardas, a partir de processos mobilizados por ascensão socioeconômica e educacional. Isadora, uma estudante parda-negra, dá notícias desse processo no campo da pesquisa:
Outras pessoas que conheço se identificam como pardos, mas como um grupo de não brancos. Depois do coletivo, chegaram mais pessoas que se identificam como pardas, mas negras. Muitos têm essa discussão de você ser pardo, de você ser preto, será que pardo é uma identificação mesmo? Não sei. Ainda tenho dificuldades, prefiro me identificar como uma pessoa parda-negra, do que como uma pessoa preta.
Ingressar como cotista no curso de Medicina de uma universidade que havia acabado de implementar cotas raciais constituiu-se, para alguns estudantes, em um processo desafiador e permeado por hostilidade, o que pode ser lido como reação à aparição, nos termos de Fanon. No caso de Renato, negro não retinto, ainda que a escolha por cotas raciais não tenha sido um dilema, ser cotista tornou-se um desafio desde o momento de seu ingresso:
Na FCM eu era olhado com desgosto e nojo. Eu trabalhava em um projeto e isso é parte do que me gerou revolta. Trabalhava no computador, no corredor do departamento, e ouvia coisas do tipo “quem é esse neguinho?”, “dá pra perder o grampeador aí no seu cabelo”, “ah, se acabarem as canetas a gente já sabe onde procurar”. E aí, com um professor, passei uma situação muito ruim. Tinha um congresso para apresentar projetos, e ele perguntou se eu queria participar - se ele perguntou, é porque eu tinha o direito de escolher -, aí falei “não quero, pois…” mandei um e-mail explicando, eu estava em tal e tal coisa e no fim do semestre. Daí ele falou: “vem na minha sala agora”, eu fui e ele me esculachou: “você entrou aqui para isso? Se você achava que era assim, você deveria virar um garçonzinho, porque você não virou um garçonzinho? Se você quiser entrar nesse meio, você tem que saber que vai ter que abdicar. Eu sei que você não está acostumado”, me chamou de baiano, me chamou de negro, falou um monte de coisa. Saí da sala chorando, meu primeiro ano na faculdade... Foi muito impactante, eu nunca tinha passado por uma coisa assim de racismo tão explícito.
O episódio vivenciado por Renato foi um entre tantos outros relatados por universitários negros naquele contexto. Não à toa e em resposta a outros episódios de racismo, em 2020, o Centro Acadêmico Adolfo Lutz organizou uma atividade chamada “O racismo na FCM”. Quando assinalamos que as cotas raciais contribuem para que os sujeitos se identifiquem como negros, não estamos homogeneizando as experiências dos estudantes cotistas, mas refletindo sobre os distintos processos a partir dos quais os estudantes o fazem.
Acerca disso, Evandro Silva (2019SILVA, Evandro. 2019. “Os negros e os universitários”. Le Monde Diplomatique [Online], 19 nov. 2019. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/os-negros-e-os-universitarios>
https://diplomatique.org.br/os-negros-e-...
) aponta para como as nuances em relação à cor da pele de pessoas negras afetam não apenas o seu autorreconhecimento, mas igualmente o processo de heteroidentificação racial. A procura por ser “negro de fato”, como mostra o autor, mas também a busca por ser negro o suficiente, por sofrer racismo suficiente, ou mesmo a mobilização precária da categoria colorismo que pudemos observar em campo têm produzido um efeito que vai de encontro às propostas das ações afirmativas e ao almejado pelos movimentos negros ao politizar a raça e as identidades negras, de modo a evidenciar a sua diversidade, com o objetivo de que mais sujeitos pretos e pardos reconheçam-se politicamente como semelhantes a partir de suas diferenças, e identifiquem-se como negros (Gomes 2012GOMES, Nilma Lino. 2012. “Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça”. Educação & Sociedade, v. 33 n. 120:727-744.; Munanga 2019MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.).
A partir das diferenças inerentes às identidades negras, e às concessões e negociações em torno da identificação racial dos sujeitos, na seção seguinte analisaremos como as bancas de heteroidentificação constituem-se em lócus privilegiado para elaborar reflexões acerca das distintas faces da negritude. Observamos como tais nuances contribuem para a produção de identificações e diferenças entre os discentes, e como o processo de heteroidentificação pode afetar a maneira como os sujeitos enxergam-se racialmente.
As bancas de heteroidentificação e as faces da negritude
As bancas compostas para heteroidentificar candidatos cotistas não são novas nas universidades brasileiras; existem desde a implementação das primeiras ações afirmativas, no início dos anos 2000 (Silva et al. 2020SILVA, Ana Claudia; CIRQUEIRA, Diogo; RIOS, Flavia & ALVES, Ana Luiza. 2020. “Ações afirmativas e formas de acesso no ensino superior público: o caso das comissões de heteroidentificação”. Novos estudos CEBRAP, v. 39 n. 2:329-347.). Contudo, entre os anos de 2003 e 2012, poucas foram as instituições que construíram comissões, e as bancas eram criadas de modo emergencial, em reação ao aumento de denúncias de fraudes nas autodeclarações raciais, que se expressam de maneira mais contundente em cursos mais concorridos. Dessa forma, a atuação de coletivos negros universitários e de parte dos movimentos negros tem sido crucial para o levantamento de dados e as posteriores denúncias de fraudes nas cotas raciais (Silva et al. 2020). A criação da CAVU esteve diretamente relacionada com a denúncia de fraudes na política de ação afirmativa. Em 2019, uma mobilização para identificar possíveis fraudadores resultou em uma denúncia formalizada pela Educafro, com um dossiê contendo informações sobre supostos fraudadores. No momento em que a ONG protocolou a denúncia, a Unicamp teve noventa dias para apresentar respostas, e, desse processo, resultou a criação de uma comissão extraordinária para aferição, realizada naquele mesmo ano.10 10 <https://correio.rac.com.br/2019/06/campinas_e_rmc/839308-unicamp-apura-denuncia-de-fraude.html>. Acesso em 30/11/2021.
Em uma das conversas que tive com Marcelo, o estudante contou que a sua escolha por ingressar por cotas raciais contribuiu para que ele fizesse um processo de recomposição de sua trajetória, no qual pôde olhar para os episódios de racismo vividos ao longo de sua vida e de como era ser, na maioria dos espaços em que transitava, a única pessoa negra. Ser negro o suficiente, em sua visão, nos remete ao que outros interlocutores chamaram de fenótipo, ter uma pele retinta e cabelos crespos. Mas além disso, alude ao medo de ter sua autodeclaração invalidada pela banca, e, consequentemente, sua negritude também, ainda que não fosse este o seu papel.
Para Marcelo, João e alguns ingressantes negros, a CAVU poderia afetar negativamente a sua oportunidade de fazer Medicina, mas também poderia afetar o que vêm resgatando e construindo sobre si. Ainda que as bancas tenham como papel aferir quem pode fazer uso da política de cotas raciais, ela passa também a ser vista como uma instância que legitima a negritude de um candidato, ou seja, se a identidade só pode ser constituída em relação e demanda o reconhecimento de outrem, a banca é vista como uma instância que reconhece e assegura que aquele sujeito é negro. Ainda que seu papel não seja este, passar por tal processo acaba por conferir um estatuto de legitimidade ao sujeito que tem a sua declaração racial aprovada, estatuto este que vai além do usufruto da política pública.
Vitória contou que celebrou a sua aprovação apenas após passar pelo processo de heteroidentificação. A mesma estudante, tempos depois, e já parte do Quilombo Ubuntu, defendia a existência e a importância da Comissão. Inclusive, relatou ter ficado exasperada em uma das reuniões de acolhimento, quando, diante do caso de um candidato que teve sua declaração racial indeferida, os calouros começaram a falar mal da CAVU e vieram à baila discussões acaloradas acerca de colorismo e de a banca poder ou não legitimar a identidade racial, pois reconhece e defende a atuação da CAVU:
O que a gente teve foi o desmerecimento da banca, é muito perigoso isso, e os calouros entraram nessa porque teve um caso dentro do coletivo. Os calouros entraram, antes de passar na banca, no grupo do Quilombo Ubuntu. E um dos meninos foi reprovado pela Comissão e colocou isso no grupo. Algumas pessoas defenderam, e talvez o caso dele precise ser revisto, ele tem todo o direito de questionar, só que a discussão foi para outro lado. E o coletivo não está ali para dizer quem é negro ou não, o coletivo está ali para instruir “olha, esse é seu direito, se você acha que não é assim, pede algo presencial, não passa por cima da banca”.
A narrativa de Vitória chama a atenção para a explicitação, em maior escala, de tensões raciais na universidade por ocasião da chegada de um maior contingente de estudantes negros e da implementação das cotas, e expressa uma das facetas dessas tensões, que envolve a relação entre heteroidentificação e colorismo, por meio de acusações de fraude e de afroconveniência (Silva 2019SILVA, Evandro. 2019. “Os negros e os universitários”. Le Monde Diplomatique [Online], 19 nov. 2019. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/os-negros-e-os-universitarios>
https://diplomatique.org.br/os-negros-e-...
; Bacelar 2021BACELAR, Gabriela. 2021. (Contra)mestiçagem negra: pele clara, anticolorismo e comissões de heteroidentificação racial. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia. ). A reboque desse processo, tem-se assistido ao acirramento de tensões na mídia e entre sujeitos negros que mobilizam a categoria colorismo, ora para acusar um candidato de afroconveniência, ora para colocar “sob suspeita o pertencimento racial” (Bacelar 2021:62) de negros de pele clara.
Tanto Silva (2019SILVA, Evandro. 2019. “Os negros e os universitários”. Le Monde Diplomatique [Online], 19 nov. 2019. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/os-negros-e-os-universitarios>
https://diplomatique.org.br/os-negros-e-...
) quanto Bacelar (2021BACELAR, Gabriela. 2021. (Contra)mestiçagem negra: pele clara, anticolorismo e comissões de heteroidentificação racial. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia. ) apontam que a mobilização, de maneira acusatória, da categoria afroconveniência em um contexto como o brasileiro, no qual as identidades negras são nuançadas, pode impactar negativamente a autopercepção racial de sujeitos pretos e pardos e a própria operacionalização da política racialmente orientada. Efeitos que vão de encontro ao processo de politização das identidades negras e ao próprio objetivo das ações afirmativas (Munanga 2019MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.; Gomes 2012GOMES, Nilma Lino. 2012. “Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça”. Educação & Sociedade, v. 33 n. 120:727-744.).
Para Vitória, a solicitação de ajuda feita pelo estudante que teve sua declaração racial reprovada contribuiu para que, na reunião de acolhimento, um debate sobre colorismo e sobre o papel da heteroidentificação emergisse de forma tensa. Não consideramos que os estudantes estivessem colocando em suspeição a importância da CAVU, e tampouco insinuando que ela deveria deixar de existir. O que vimos acontecer naquele encontro foram debates acerca de como o processo de heteroidentificação gera medo e inseguranças e suscita discussões acerca do pertencimento racial dos sujeitos. Sobre essas discussões, Heitor comenta:
Antes de passar na Unicamp passei em outra universidade que tinha banca. Eu sabia tudo que tinha passado desde meus 5 anos, quando percebi que não era branco. Só que aí, do nada, quem vai decidir se sou negro, se sou pardo são outras pessoas. Bancas malfeitas têm muitas por aí, mas ao mesmo tempo, infelizmente, tem muita fraude. Então, como a gente vai medir? O que eu acho inadmissível é você tirar uma pessoa que verdadeiramente passou por todo um processo de ser negro no Brasil.
É importante ressaltar que a constituição de uma banca de heteroidentificação envolve um processo formativo não apenas acerca da miscigenação que é parte constitutiva da sociedade brasileira, mas que também busca explicitar as complexidades que atravessam as relações raciais neste país e as sutilezas do racismo à brasileira, que afeta toda e qualquer pessoa negra, seja ela de pele clara, escura ou retinta (Silva et al. 2020SILVA, Ana Claudia; CIRQUEIRA, Diogo; RIOS, Flavia & ALVES, Ana Luiza. 2020. “Ações afirmativas e formas de acesso no ensino superior público: o caso das comissões de heteroidentificação”. Novos estudos CEBRAP, v. 39 n. 2:329-347.). Discutir sobre cotas raciais, bancas de heteroidentificação e quais são os sujeitos de direito de uma política de ação afirmativa racialmente orientada, no Brasil, é ter de enfrentar a seguinte indagação formulada por Kabengele Munanga (2019MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica.:104): “Quem é o negro que na sociedade brasileira tida como mestiça poderia ser beneficiado pelas cotas?”. A esta pergunta, a resposta mais simples poderia ser: qualquer pessoa que se autodeclara preta ou parda e é reconhecida enquanto tal. Todavia, a elaboração das identidades negras no Brasil pode ser um processo intrincado e mais atravessado por dúvidas do que por certezas. O “limbo racial” (Miranda, Souza & Almeida 2020MIRANDA, Ana Paula; SOUZA, Rolf & ALMEIDA, Rosiane. 2020. “‘Eu escrevo o quê, professor(a)?’: notas sobre os sentidos da classificação racial (auto e hetero) em políticas de ações afirmativas”. Revista de Antropologia, v. 63, n.,3: e178854. ; Bacelar 2021BACELAR, Gabriela. 2021. (Contra)mestiçagem negra: pele clara, anticolorismo e comissões de heteroidentificação racial. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia. ) que costuma ser associado ao pardo acaba por contribuir para o modo como alguns sujeitos identificam-se racialmente e para a forma como as heteroidentificações acontecem.
Para refletir sobre a pergunta de Munanga, é preciso considerar que a mestiçagem constitui a “trama de toda a história da América Latina” (Munanga 2019:93). Embora a ideologia da mestiçagem tenha buscado enfatizar que a identidade brasileira estaria calcada na mistura, seu propósito era o embranquecimento. Sabedores disso, os movimentos negros brasileiros empreenderam, historicamente, um processo para “construir sua identidade coletiva enquanto vítima do racismo à brasileira” (Munanga 2019:104). Em que pesem tais lutas políticas no resultado do crescimento do número de sujeitos pretos e pardos autodeclarando-se negros, pudemos constatar que o pardo ou o negro de pele clara segue complexificando os debates acerca de quais são os negros que podem fazer uso das cotas raciais. Em diálogo com Eduardo de Oliveira e Oliveira, em 1974, Luiz Augusto Campos (2013CAMPOS, Luiz. 2013. “O pardo como dilema político”. Insight Inteligência, n. 62:80-91.:82) explicita:
o mestiço é o principal “obstáculo epistemológico” para a compreensão das relações raciais brasileiras. Em vez de transcender esse obstáculo epistemológico, a recente introdução de ações afirmativas raciais nas universidades brasileiras o transpôs para a política. Observando as políticas afirmativas adotadas no país, podemos notar uma tensão entre diferentes formas de conceber e, sobretudo, nomear os mestiços, ora chamados de “pardos”, ora incluídos no rol de “negros”.
Ao olhar para o material de campo a partir do que argumenta Campos (2013CAMPOS, Luiz. 2013. “O pardo como dilema político”. Insight Inteligência, n. 62:80-91.), não podemos tomar como mera coincidência que os dilemas vividos por alguns sujeitos os façam colocar em suspeição suas identidades negras e se perguntarem se são negros o suficiente. Assim, se, por um lado, tem sido possível observar o aumento do número de estudantes pretos e pardos que se autodeclaram negros nas universidades públicas brasileiras, por outro, este considerável aumento tem trazido implicações diversas para os processos de aferição fenotípica e para as próprias identidades negras dos estudantes que pleiteiam uma vaga pela política afirmativa racialmente orientada. Apesar de toda a complexidade e das tensões envolvendo os processos de se reconhecer negro e de evitar fraudes nas cotas raciais em um país como o Brasil, olhar para a ação política do Quilombo Ubuntu e as disputas epistêmicas que têm se dado no interior do curso e para além dele nos remete aos vários modos como emerge a importância das políticas de ação afirmativa em espaços de produção de conhecimento.
Estudantes negros na Medicina: um campo permeado por disputas epistêmicas
Ao considerarmos os movimentos negros de base acadêmica (Ratts 2011RATTS, Alex. 2011. “Corpos negros educados: notas acerca do movimento negro de base acadêmica”. NGUZU: Revista do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos, v. 1:28-39.) já existentes e assistindo à proliferação de outros coletivos negros na Unicamp e em outras universidades, constatamos que esses espaços não operam apenas de modo a acolher e formar politicamente os universitários negros. Funcionam também como espaços a partir dos quais seus membros podem produzir conhecimento. Assim, é possível dizer que os interlocutores desta pesquisa, ao levarem suas experiências para as salas de aula, ou ao realizarem atividades para refletir sobre promoção de saúde e suas relações com raça e outras diferenças sociais, estão produzindo questões sobre os temas considerados mais relevantes para as pesquisas, os currículos de disciplinas e os modos como o conhecimento é produzido e transmitido durante a formação médica.
A emergência do Quilombo Ubuntu e outros coletivos negros e as ações que os estudantes têm realizado com o intuito de refletir sobre saúde da população negra são apenas alguns dos resultados de um processo ainda em curso de transformação na área da saúde e, mais especificamente, na área médica. Tal processo está atrelado à implementação das cotas raciais para acesso ao ensino superior e à luta dos movimentos negros em torno e a partir da saúde da população negra (Borret et al. 2020BORRET, Rita; SILVA, Monique; JATOBÁ, Larissa; VIEIRA, Renata & OLIVEIRA, Denize. 2020. “‘A sua consulta tem cor?’” Incorporando o debate racial na Medicina de Família e Comunidade: um relato de experiência”. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 15 n. 42:2255-2020.).
Em 2017, o NegreX, o GT de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e a Associação de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro (AMFAC-RJ) realizaram a atividade “A sua consulta tem cor?” com o propósito de refletir sobre a relevância do quesito raça/cor para os atendimentos e sobre como as relações de poder impactam a relação médico-paciente, a constituição dos saberes médicos e a produção de saúde. O coletivo NegreX tem buscado inserir a temática das relações raciais no ensino curricular e extracurricular de cursos de Medicina, com propostas de disciplinas eletivas, eventos, aulas e simpósios (Borret et al. 2020BORRET, Rita; SILVA, Monique; JATOBÁ, Larissa; VIEIRA, Renata & OLIVEIRA, Denize. 2020. “‘A sua consulta tem cor?’” Incorporando o debate racial na Medicina de Família e Comunidade: um relato de experiência”. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 15 n. 42:2255-2020.). Em 2018, a atividade “A sua consulta tem cor?” foi realizada novamente, mas com os alunos do período de Internato da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), mantendo seus objetivos iniciais e inserindo debates a respeito da saúde da população negra, e sobre o processo de formulação e promulgação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e a sua importância para a prática médica.
Os estudantes do Quilombo Ubuntu também estão produzindo estratégias que visam reivindicar a produção de um conhecimento médico situado (Haraway 1995HARAWAY, Donna. 1995. “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, n. 5:7-41.) e que olha para a experiência e para as diferenças sociais como critérios legítimos para a sua produção. Isto é perceptível nas reuniões do coletivo, quando os universitários refletem sobre saúde a partir de suas experiências, quando constroem eventos como o “Saúde para quem?: Racializando a Saúde” para discutir temas que aparecem apenas de forma residual ao longo da formação e quando contribuem com a criação e a gestão da Liga de Saúde da População Negra (LASPNE) da Unicamp. Na composição desta última, encontram-se estudantes dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina, alguns dos quais fazem parte do Quilombo Ubuntu. Essa Liga é coordenada por uma professora negra do curso de Enfermagem da Unicamp, Débora Santos.
Renato indica que, ao longo da formação, temáticas que buscam refletir sobre a saúde da população negra e os impactos do racismo para os processos de saúde, adoecimento e morte são escassas. Exemplifica remetendo aos livros de dermatologia, povoados apenas por corpos brancos, enquanto doenças dermatológicas precisam ser identificadas e tratadas considerando a cor da pele do paciente. Mas como fazer isto quando os referenciais são majoritariamente brancos? A este respeito, reportamo-nos à “Demografia Médica” (Scheffer et al. 2020SCHEFFER, Mário; CASSENOTE, Alex; GUERRA, Alexandre; GUILLOUX, Aline; BRANDÃO, Ana; MIOTTO, Bruno; ALMEIDA, Cristiane; GOMES, Jackeline & MIOTTO, Renata. 2020. Demografia Médica no Brasil. São Paulo, SP: FMUSP/CFM.), pesquisa que chegou à sua quinta edição em 2020, e que vem evidenciando como os cursos de Medicina são atravessados por grandes desigualdades raciais, as quais não afetam apenas o acesso e a permanência de negros que chegam aos cursos, mas a própria produção dos saberes médicos e a maneira como eles são transmitidos. Tendo em vista a importância da PNSIPN para a formação médica e para a promoção da saúde e o aumento de negros nesta área, em novembro de 2021 ocorreu o “I Simpósio de Pesquisa em Saúde da População Negra” organizado pelo Race ID, grupo de pesquisa que tematiza a saúde da população negra e o antirracismo na saúde. O Race ID foi criado em 2021 e é vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sendo composto por professores, médicos, pesquisadores e estudantes.
Ao relacionar o Quilombo Ubuntu com a LASPNE da Unicamp, o NegreX e o Race ID, sugerimos que é possível enxergá-los como atores que compõem um campo discursivo de ação que abarca uma vasta gama de atores individuais e coletivos (Alvarez 2014ALVAREZ, Sonia. 2014. “Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista”. Cadernos Pagu, n. 43:13-56.), situado na interseção entre redes antirracistas e que tomam a saúde como direito, e que tem entre suas pautas o acesso e a permanência de negros na Medicina e na área da saúde, a abordagem interseccional, a produção de um conhecimento médico localizado e a promoção da saúde da população negra. Por meio de uma gramática-política própria, promovem a circulação de discursos, saberes, ideias e pessoas. Em campos discursivos de ação como este, “a cidadania é construída e exercida, os direitos são imaginados, e não só demandados, as identidades e as necessidades são forjadas e os poderes e os princípios são negociados e disputados” (Alvarez 2014:19).
Renato apontou ainda que áreas como Medicina de Família e Saúde Coletiva costumam fazer mais discussões sobre como a atenção primária à saúde pode ser menos racista, como fazer acolhimento para a população LGBT ou até mesmo como orientar a hormonização para pessoas trans. Ao referir que há lacunas curriculares em relação à saúde da população negra, também sinalizou que o mesmo acontece em relação à população LGBT e que, aparentemente, alguns profissionais consideram que apenas quem está na atenção primária à saúde precisa olhar para essas questões. Impulsionada por essas reflexões e pela presença de membros do Quilombo Ubuntu no Centro Acadêmico, foi realizada em 2020 a semana temática “Saúde para quem?: Racializando a saúde”, e em 2021 foi criada a LASPNE; neste mesmo ano foram realizados os encontros “Racismo obstétrico nos serviços de saúde” e “Vamos falar de nossa saúde mental?”, ambos promovidos pelo Quilombo Ubuntu. Pensado coletivamente entre os Centros Acadêmicos da área da saúde, o “Saúde para quem?” dedicou seu primeiro dia a reflexões sobre branquitude e saúde, e o segundo, a revisitar a PNSIPN, seguido por um encontro para refletir sobre a saúde mental dos estudantes negros. No penúltimo dia, as discussões giraram em torno da promoção de saúde para populações indígenas. O encerramento se propôs a discutir perspectivas para a formulação de uma agenda em saúde antirracista.
Este evento pode ser lido como resultado de mudanças pelas quais o corpo discente vem passando, uma vez que elas não acontecem de maneira localizada, sendo fruto de processos que vêm ocorrendo em outros cursos de Medicina. Esses processos estão longe de ser apenas nacionais; segundo Lundy Braun (2017BRAUN, Lundy. 2017. “Theorizing Race and Racism: Preliminary Reflections on the Medical Curriculum”. American Journal of Law & Medicine, v. 43 n. 2-3:239-256.), nos Estados Unidos, há uma crescente tensão partindo dos estudantes de Medicina em relação à conformação dos saberes e das práticas deste campo, e “nos últimos anos, tem havido uma onda robusta de reformas lideradas por estudantes em todo o país, centradas no racismo presente no currículo médico” (Braun 2017:247, tradução nossa). Desse modo, tem sido cada vez mais recorrente encontrar na área da saúde organizações e sujeitos que estão buscando empreender estratégias para que a interseccionalidade e a PNSIPN sejam popularizadas desde a formação médica.
Considerações finais
Na esteira das transformações nas formas de ingresso na Unicamp e de seus efeitos sobre o perfil racial dos estudantes matriculados no curso de Medicina da instituição, este artigo procurou contribuir com reflexões sobre aspectos relacionados ao acesso e à permanência, mas, sobretudo, acerca de como as ações afirmativas racialmente orientadas e também as bancas de heteroidentificação incidem sobre os processos de identificação racial e sobre a possibilidade de tornar-se negro (Souza 2021SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar .). Nesse percurso, notamos processos simultâneos de explicitação em maior escala de estereótipos dirigidos aos negros e aos cotistas e da emergência de rumores relacionados ao racismo institucional. Tais processos ficam evidentes quando Heitor é questionado se era um dos 22 estudantes reprovados por um de seus professores apenas porque é negro e a partir do violento episódio de racismo sofrido por Renato no âmbito do projeto no qual atuava. Ainda, buscamos explicitar como os modos de organização política dos estudantes em torno do Quilombo Ubuntu e da participação desses universitários em redes político-acadêmicas contribuem para a elaboração de saberes e eventos preocupados com temas como saúde da população negra e as relações entre saúde, diferenças e desigualdades.
Nosso percurso iniciou-se pela descrição da aula inaugural do curso de Medicina, focalizando o discurso institucional e o modo como este atravessa a chegada e a permanência de discentes cotistas. A análise dos elogios endereçados aos ingressantes se dá em contraste com os rumores e os estereótipos que cercam a categoria cotista, a qual passa a operar de modo depreciativo e a ser aplicada indistintamente a qualquer estudante negro. Indicamos os processos de agenciamento e subversão que vivenciam por reconhecer que o simples fato de terem ingressado em um curso altamente concorrido desbanca os estereótipos mobilizados, pelo acolhimento e o fortalecimento mútuo e pela positivação da categoria cotista. Além do contraste que pôde ser percebido pelos estudantes com a mudança na composição racial do corpo discente da FCM, é importante salientar sua estreita relação com a possibilidade da emergência do Quilombo Ubuntu. Assim, categorias como aquilombamento, acolhimento e pertencimento passam a ser mobilizadas de modo a promover agenciamentos individuais e coletivos, apoiando a permanência universitária.
A importância da mobilização dessas categorias se faz sentir quando analisamos as diversas formas pelas quais a possibilidade de optar pelas cotas como modalidade de acesso, articuladas à necessidade de passar pela comissão de heteroidentificação, interagem com processos subjetivos ao longo do processo de chegada dos estudantes à universidade. A escolha por ingressar por cotas esteve intimamente relacionada com os processos individuais e coletivos de autorreconhecer-se negro. Os modos como a opção por cotas, a necessidade de submeter a autodeclaração racial à heteroidentificação e o processo de autorreconhecimento que emergiram foram bastante diversos, mas é possível perceber como cor e pertencimento a diferentes estratos sociais delineiam distintas dúvidas, conflitos e possibilidades de agenciamento. Nesse contexto, ser negro o suficiente ou ter sofrido racismo suficiente aparecem articulados a merecer acessar um curso altamente concorrido pela via das cotas e estar nele.
Entre estudantes identificados como negros de pele clara ou pardos-negros, os processos conflitivos envolvendo dúvidas quanto a optar por cotas como modalidade de acesso se mostraram mais intensos, bem como o processo de (re)elaboração das histórias familiares e de situações envolvendo racismo. As dúvidas envolvem as possibilidades de indeferimento da autodeclaração racial e implicam tanto aspectos práticos, como ver negado o acesso ao curso, quanto aspectos subjetivos, como ver invalidado o intenso processo de reconstrução subjetiva empreendido e não reconhecidas as experiências racistas ressignificadas.
Entre os negros de pela escura ou retintos há convergência em relação aos demais quanto às referências à marca e ao racismo, bem como tensões e incômodos quanto à heteroidentificação. Contudo, há também nuances que tendem a se fazer mais presentes em suas narrativas: o fenótipo é inegável e experiências explícitas de racismo estão presentes desde muito cedo em contextos intra e extrafamiliar. Em relação à heteroidentificação, os tensionamentos estão mais próximos de ideias como ver, submetidas à aferição por uma banca, a negritude e os processos dolorosos pelos quais passaram em relação ao racismo.
Apesar disso, todos os interlocutores concordam com a importância das bancas, cientes de que seu papel é sobretudo o de garantir que não haja fraudes no acesso por cotas, preservando o direito garantido pelas normativas existentes. Os processos de identificação racial, dados sempre em contextos relacionais, foram abordados em referência a diversos atores e situações; na relação com os colegas do coletivo, esteve associado ao acolhimento e ao aquilombamento, mas na relação com o ambiente universitário seguiu caminhos contrastantes. Em sua dimensão reflexiva, a convivência universitária oferece condições para a diversificação das identidades negras, abrindo espaço para mulheres negras, negros LGBT, mas também para conflitos. No tocante às reações racistas à aparição (Fanon 2008FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba.), emergem relatos dolorosos descritos como capazes de ultrapassar qualquer experiência racista pregressa, agravados pelo caráter inesperado, dado terem ocorrido em ambiente universitário.
Identificar-se como negro articula-se de modo estreito a tensionamentos epistêmicos e relativos ao currículo e à prática médica, que emergem com a maior presença de estudantes negros e são acompanhados por uma sensibilidade aguçada e pela disposição para intervir em questões relacionadas à saúde da população negra. Tais tensionamentos incluem tanto a importância dada ao conhecimento situado (Haraway 1995HARAWAY, Donna. 1995. “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, n. 5:7-41.) e às perspectivas interseccionais quanto às relações entre saúde, diferença e desigualdades, mas não se dirigem exclusivamente a questões raciais; as narrativas produzidas pelos estudantes também indicam preocupações com desigualdades relativas à classe, ao gênero e à sexualidade. As mudanças percebidas na relação com a produção de conhecimento e com a prática médica aparecem independentemente da cor ou de quão antigo seja o processo de perceber-se como negro. Independem também, em grande medida, do interesse de tomar a saúde da população negra como tema de estudo ou área privilegiada para a prática profissional.
A atuação do Quilombo Ubuntu não se dá de modo isolado, uma vez que integra um campo discursivo de ação (Alvarez 2014ALVAREZ, Sonia. 2014. “Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista”. Cadernos Pagu, n. 43:13-56.) por meio do qual são compartilhados e circulam, além de pessoas, enquadramentos e categorias comuns. As ações promovidas pelo coletivo e por seus membros têm se dado em articulação com outras organizações ou iniciativas internas à Unicamp, como o Centro Acadêmico Adolfo Lutz e a Liga Acadêmica de Saúde da População Negra (LASPNE) e contribuem para a produção de um conhecimento situado sobre saúde, que impele os universitários e seus pares a refletir criticamente e a questionar a formação e os saberes médicos.
Assim, se o ingresso de mais negros na universidade é acompanhado pela explicitação em maior escala de conflitos raciais nem tão latentes, ele também tem promovido importantes mudanças que contribuem para qualificar e pluralizar o conhecimento produzido, enquanto amplia de modo incontornável o leque de beneficiários das práticas e das tecnologias produzidas, especialmente na área médica. Os estudantes que têm enfrentado os desafios de habitar uma política de ação afirmativa em implementação têm construído um futuro próximo, no qual dúvidas e conflitos não mais atravessarão o direito a estar na universidade e a produzir conhecimento científico. Estão também experimentando possibilidades de construir identidades múltiplas que lhes deem feições próprias.
Referências bibliográficas
- ALVAREZ, Sonia. 2014. “Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista”. Cadernos Pagu, n. 43:13-56.
- ARAUJO, Danielle. 2019. A cota paulista é mais inteligente: o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP) e o confinamento racial da classe média branca Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.
- BACELAR, Gabriela. 2021. (Contra)mestiçagem negra: pele clara, anticolorismo e comissões de heteroidentificação racial Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.
- BORRET, Rita; SILVA, Monique; JATOBÁ, Larissa; VIEIRA, Renata & OLIVEIRA, Denize. 2020. “‘A sua consulta tem cor?’” Incorporando o debate racial na Medicina de Família e Comunidade: um relato de experiência”. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 15 n. 42:2255-2020.
- BRAUN, Lundy. 2017. “Theorizing Race and Racism: Preliminary Reflections on the Medical Curriculum”. American Journal of Law & Medicine, v. 43 n. 2-3:239-256.
- CAMPOS, Luiz. 2013. “O pardo como dilema político”. Insight Inteligência, n. 62:80-91.
- CARNEIRO, Sueli. 2004. “Negros de pele clara”. Portal Geledés.
- DAS, Veena. 2020. Vida e Palavras: a violência e sua descida ao ordinário São Paulo: Editora Unifesp.
- ESCOBAR, Arturo. 1994. “Welcome to Cyberia: notes on the anthropology of cyberculture”. Current Anthropology, [S.l.], v. 35, n. 3:211-231.
- FACCHINI, Regina. 2020. “De homossexuais e LGBTQIAP+: sujeitos políticos, saberes, mudanças e enquadramentos”. In: R. Facchini & I. L. França (orgs.), Direitos em disputa: LGBTI+, poder e diferença no Brasil contemporâneo Campinas: Editora da Unicamp. pp. 31-69.
- FACCHINI, Regina; CARMO, Íris Nery & LIMA, Stephanie. 2020. “Movimentos feminista, negro e lgbti no Brasil: sujeitos, teias e enquadramentos”. Educação & Sociedade, v. 41: e230408.
- FANON, Frantz. 2008 [1952]. Pele negra, máscaras brancas Salvador: Edufba.
- FERES JÚNIOR, João; CAMPOS, Luiz; DAFLON, Verônica & VENTURINI, Anna. 2018. Ação afirmativa: conceito, história e debates. Rio de Janeiro: Eduerj.
- FIGUEIREDO, Ângela. 2004. “Fora do jogo: a experiência dos negros na classe média brasileira”. Cadernos Pagu, n. 23:199-228.
- GOMES, Janaina. 2008. Elas são pretas: cotidiano de estudantes negras na UNICAMP Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.
- GOMES, Nilma Lino. 2012. “Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça”. Educação & Sociedade, v. 33 n. 120:727-744.
- GONZALEZ, Lélia. 1988. “A categoria político-cultural de amefricanidade”. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93:69-82, jan./ jun.
- HALL, Stuart. 2009. “Que “negro” é esse na cultura negra?” In: HALL, Stuart. (org.), Da diáspora: identidades e mediações culturais Belo Horizonte: Editora UFMG. pp. 335-349.
- HARAWAY, Donna. 1995. “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, n. 5:7-41.
- HINE, Christine. 2020. “A internet 3E: uma internet incorporada, corporificada e cotidiana”. Cadernos de Campo, São Paulo (1991), [S. l.], v. 29, n. 2.
- HOOKS, bell. 2015. “Escolarizando Homens Negros”. Revista Estudos Feministas, v. 23 n. 03:677-689.
- INADA, Angélica. 2018. Quando a Unicamp falou sobre cotas: trajetória de militância do núcleo de consciência negra e da frente pró-cotas da Unicamp Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.
- LIMA, Stephanie. 2020. “A gente não é só negro!”: interseccionalidade, experiência e afetos na ação política de negros universitários Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.
- MEDEIROS, Mário Augusto. 2016. “Rumos e Desafios das políticas de ações afirmativas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas”. In: A. Artes; S. Unbehaum & V. Silvério (orgs.), Ações Afirmativas no Brasil: reflexões e desafios para a pós-graduação São Paulo: Cortez Editora. pp. 157-182.
- MILLER, Daniel & SLATER, Don. 2004. “Etnografia On e Off-line: Cibercafés em Trinidad”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 10, n. 21:41-65.
- MIRANDA, Ana Paula; SOUZA, Rolf & ALMEIDA, Rosiane. 2020. “‘Eu escrevo o quê, professor(a)?’: notas sobre os sentidos da classificação racial (auto e hetero) em políticas de ações afirmativas”. Revista de Antropologia, v. 63, n.,3: e178854.
- MUNANGA, Kabengele. 2019. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra Belo Horizonte: Autêntica.
- NASCIMENTO, Abdias. 2019. O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista 3. ed. rev. São Paulo: Editora Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro.
- NASCIMENTO, Beatriz. 2021. Uma história feita por mãos negras: relações raciais, quilombos e movimentos RATTS, Alex [org.]. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar.
- NOGUEIRA, Oracy. 1985. Tanto preto quanto branco: estudos de relações raciais São Paulo: T. A. Queiroz.
- OLIVEIRA E OLIVEIRA, Eduardo. 1974. “Mulato, um obstáculo epistemológico”. Argumento, v. 1 n. 3:65-73.
- RATTS, Alex. 2011. “Corpos negros educados: notas acerca do movimento negro de base acadêmica”. NGUZU: Revista do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos, v. 1:28-39.
- RIOS, Flavia & MACIEL, Regimeire. 2018. “Feminismo negro brasileiro em três tempos: mulheres Negras, Negras Jovens Feministas e Feministas Interseccionais”. Labrys: études féministes/estudos feministas, v. 1:120-140.
- ROSA, William Paulino. 2022. “Aquilombar é o que dá força”: redes de afeto, de fazer político e de produção de conhecimento em um coletivo negro de universitários de Medicina Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.
- SANSONE, Livio. 1996. “Nem somente preto ou negro: o sistema de classificação racial no Brasil que muda”. Afro-Ásia, n. 18:165-187.
- SCHEFFER, Mário; CASSENOTE, Alex; GUERRA, Alexandre; GUILLOUX, Aline; BRANDÃO, Ana; MIOTTO, Bruno; ALMEIDA, Cristiane; GOMES, Jackeline & MIOTTO, Renata. 2020. Demografia Médica no Brasil São Paulo, SP: FMUSP/CFM.
- SCHWARCZ, Lilia. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930 São Paulo: Companhia das Letras.
- SILVA, Ana Claudia; CIRQUEIRA, Diogo; RIOS, Flavia & ALVES, Ana Luiza. 2020. “Ações afirmativas e formas de acesso no ensino superior público: o caso das comissões de heteroidentificação”. Novos estudos CEBRAP, v. 39 n. 2:329-347.
- SILVA, Evandro. 2019. “Os negros e os universitários”. Le Monde Diplomatique [Online], 19 nov. 2019. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/os-negros-e-os-universitarios>
» https://diplomatique.org.br/os-negros-e-os-universitarios - SILVA, Graziella & PAIXÃO, Marcelo. 2021. “Misturado e desigual: novas perspectivas sobre as relações etnorraciais no Brasil”. In: E. Telles & G. Silva (orgs.), Pigmentocracias: etnicidade, raça e cor na América Latina Porto Alegre: Editora da UFRGS. pp. 259-328
- SOUZA, Neusa. 2021. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social Rio de Janeiro: Zahar .
- ZANOLI, Vinícius. 2019. “Bradando contra todas as opressões!”: uma etnografia sobre teias e trocas entre ativismos LGBT, negros, populares e periféricos (Campinas, 1998-2018) Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.
-
1
Neste artigo categorias êmicas estão grafadas em itálico. Os nomes atribuídos a interlocutores são fictícios e informações pessoais foram anonimizadas, exceto em casos de figuras e eventos públicos. Os pesquisadores contaram, respectivamente, com apoios da Capes e do CNPq e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Ciências Humanas e Sociais da Unicamp, CAAE nº 41329020.3.0000.8142
-
2
<https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2015/05/28/vestibular-bonus-maior-ja-em-2016>. Acesso em 05/01/2022.
-
3
<http://www.direitoshumanos.unicamp.br/diversidade-racial/quem-somos/>. Acesso em 15/12/2021.
-
4
<http://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/09/cand_vaga_vest2020-e-cotas.pdf> Acesso em 03/04/2022.
-
5
Em 2015 havia 10 autodeclarados negros no curso (dois pretos e oito pardos), seguindo tendência de menos de 10% de pretos e pardos matriculados no curso de Medicina da Unicamp. Já em 2016, ano em que houve mudanças nos critérios da bonificação no PAAIS, o número de autodeclarados subiu para 34 (30 pardos e quatro pretos). Nos anos seguintes, considerando as várias formas de ingresso (PAAIS, ENEM-Unicamp, livre concorrência e a opção por cotas raciais, possível a partir do vestibular de 2018), constatou-se contínuo crescimento de autodeclarados pardos e aumento considerável de autodeclarados pretos. A partir de 2019, estudantes pretos e pardos passaram a compor uma média consistente de 41,5% dos matriculados no curso. Dados da Comvest sobre raça/cor de matriculados no curso de Medicina: <https://www.comvest.unicamp.br/estatisticas-comvest/estatisticas-sociais/perfil-socioeconomico/perfil-socioeconomico-geral/>. Acesso em 10/12/2021.
-
6
A partir da mobilização estudantil, os discentes conseguiram a implementação de uma turma especial, dado o grande número de reprovados, muitos iriam cair de turma. Com isso, 14, dos 22 universitários, conseguiram aprovação e não caíram de turma.
-
7
<https://cartacampinas.com.br/2017/06/x-medico-da-unicamp-diz-que-cotas-e-trocar-cerebro-por-nadegas-reitoria-repudia-declaracoes/>. Acesso 05/10/2021.
-
8
<https://www.instagram.com/p/CLpnZqbHMxm/> . Acesso em 20/03/2021.
-
9
Texto escrito em resposta à divulgação de fotos de concorrentes às vagas por cotas raciais no Vestibular da UnB daquele ano. <https://www.geledes.org.br/negros-de-pele-clara-por-sueli-carneiro/>. Acesso em 05/01/2022.
-
10
<https://correio.rac.com.br/2019/06/campinas_e_rmc/839308-unicamp-apura-denuncia-de-fraude.html>. Acesso em 30/11/2021.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
19 Dez 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
04 Abr 2022 -
Aceito
05 Out 2022