Resumos
Neste artigo, os autores exploram duas faces do intenso movimento de mercantilização do trabalho feminino ocorrido no Brasil durante as últimas cinco décadas: sua face visível, expressa nos números oficiais, e sua face invisível, que se esconde nas entrelinhas das definições das categorias estatísticas. Para melhor entender tal movimento, analisam-se as tendências expressas nos dados dos cinco últimos recenseamentos brasileiros (de 1960 a 2010), em diálogo com interpretações que se mostraram seminais ao seu tempo, produzidas tanto pela literatura sociodemográfica a respeito do mercado brasileiro de trabalho, como pelos estudos de gênero e feministas.
Mercado de trabalho; Gênero; Trabalho feminino; Brasil, Censos
In this article, the authors explore the two faces of the intense movement of commodification of women’s work which took place in the last five decades in Brazil: its visible face, expressed in the official figures, and its invisible face, hidden in between the lines of the statistical categories’ definitions. In order to better understand such movement, the authors analyze the trends expressed in the data of the last five Brazilian censuses (1960 to 2010) in a dialogue with interpretations that came to be seminal in their time, produced both by the sociodemographic literature about the Brazilian labor market and the feminist literature, as well as the studies of gender.
Labor Market; Gender; Women’s Work; Brazil; Brazilian Censuses
L’article analyse les deux aspects de l’intense mouvement de marchandisation du travail des femmes au Brésil au cours des dernières cinq décennies : la face visible, traduite dans les chiffres officiels, et la face invisible, cachée entre les lignes des définitions des catégories statistiques. Pour mieux comprendre un tel mouvement, nous avons analysé les tendances expresses dans les données des cinq derniers recensements brésiliens (de 1960 à 2010), en les faisant dialoguer avec les interprétations, fructueuses à l’époque, produites aussi bien par la littérature sociodémographique sur le marché du travail brésilien que par les études de genre et féministes.
Marché du travail; Genre; Travail des femmes; Brésil; Recensements
Por todos os quadrantes, as estatísticas sobre emprego documentam a história de engajamento crescente das mulheres. Por vezes ele foi especialmente célere, dado o tempo relativamente curto em que teve lugar. Tal foi o caso do Brasil nos últimos cinquenta anos, quando o movimento de mercantilização do trabalho fez com que parcela majoritária dos indivíduos passasse a recorrer ao mercado e à venda do seu trabalho como forma de encontrar a sobrevivência. Todavia, há que ter em mente que se trata de um movimento que se declina no feminino; ele trouxe em si as marcas notáveis do engajamento das mulheres brasileiras na atividade econômica.
Começaremos, na primeira seção do texto, por documentar como transcorreu o processo de mercantilização do trabalho no Brasil nos últimos cinquenta anos, abarcados pelos censos realizados entre 1960 e 2010. Em termos operacionais observaremos, ao longo desses cinco inquéritos censitários, como cresceu a fração daqueles que buscam se engajar no mercado de trabalho (seja como ocupados, seja como desempregados) em contraponto àqueles que são socialmente considerados aptos, por sua idade, para isso; assim, exploraremos possíveis determinantes deste engajamento. Na segunda seção, vamos nos deter no modo pelo qual o processo de mercantilização foi apreendido. Para tal, voltaremos na literatura sociológica que tratou das transformações do mercado brasileiro de trabalho nesse período, observando os aspectos destacados na agenda dos intérpretes que focalizaram seus estudos na década de 1960 (ponto de partida da análise neste texto) e nos anos 2000 (ponto de chegada). Mostraremos como coube aos estudos sociodemográficos e, em especial, à literatura feminista, chamar a atenção para a dimensão de gênero que dá sentido a esse processo.
Por fim, na terceira seção, analisaremos como essas transformações (na estrutura do mercado e na percepção dos intérpretes) foram também responsáveis por uma progressiva atualização no modo de mensuração do engajamento no trabalho nas estatísticas censitárias. Para isso, mostraremos como a contagem da população economicamente ativa sofreu sucessivas modificações de um censo a outro, tornando progressivamente mais visível o engajamento das mulheres no trabalho. Isso nos levará ao desafio final de repensar a celeridade do processo de engajamento feminino nas últimas cinco décadas, tal como documentado nos censos brasileiros, de maneira a confrontar uma indagação: é certo acreditar que as mulheres estivessem desengajadas do trabalho em períodos anteriores, ou seu engajamento seria invisível na perspectiva das formas oficiais de mensuração da atividade econômica?
Mercado e mercantilização do trabalho no Brasil (1960-2010)1
Os últimos cinquenta anos foram decisivos para a reconfiguração do mercado de trabalho no Brasil. Os indivíduos que antes encontravam sua sobrevivência no trabalho agrícola passaram a obtê-la em atividades industriais e de serviços, em espaços urbanos crescentemente concentrados. A composição da população economicamente ativa alterou-se de maneira significativa, com uma inflexão célere do engajamento feminino no mercado de trabalho, processo correlato à notável queda na fecundidade e às mudanças nos padrões de família e de organização das unidades domésticas. A qualificação da força de trabalho também se alterou; ganhos de escolaridade da população engajada no mercado, especialmente entre as mulheres, caminharam paralelamente à retração do trabalho de crianças e adolescentes. Por fim, a experiência do desemprego de massa, configurada a partir dos anos de 1980 como um fenômeno socialmente relevante, sinalizou que a sobrevivência passaria, a partir de então, a ser jogada no mercado.
Diante dessa multiplicidade de processos, expressão das intensas transformações na estrutura social, um aspecto nos parece especialmente relevante na dinâmica do mercado de trabalho no Brasil: os últimos cinquenta anos marcaram, entre tantas mudanças significativas, a consolidação da mercantilização do trabalho entre nós (ou de sua “mercadorização”, como algumas vezes é referido). Focalizar este processo, tal como desenvolvemos mais extensivamente em outra ocasião (Guimarães, Barone e Alves de Brito, 2015GUIMARÃES, N. A. ; BARONE, L. S. & ALVES de BRITO, M. M. (2015), “Mercado e mercantilização do trabalho no Brasil (1960-2010)”, in M. Arretche (org.), Trajetórias da desigualdade: quanto o Brasil mudou nos últimos 50 anos, São Paulo, Edunesp, pp. 399-421.), equivale a descrever e explicar a propensão dos indivíduos a buscar sua sobrevivência no mercado. Interessa, portanto, entender o movimento pelo qual a oferta potencial de trabalho – formada por indivíduos socialmente considerados aptos por sua idade – se transforma em oferta efetiva de trabalho – composta por pessoas economicamente ativas, sejam ocupadas sejam desempregadas.2 2 Uma observação à margem, mas que nos parece instigante: indagar-se sobre o processo de mercantilização do trabalho como um movimento de expressão recente deixa entrever quão complexa é a história do encontro entre compradores e vendedores em um mercado de trabalho como o do Brasil. Vale dizer, entre nós, (i) mesmo estando os trabalhadores formal e universalmente livres para se ofertarem no mercado desde o final do século XIX; (ii) mesmo estando consolidadas as regras de regulação da relação assalariada com a legislação trabalhista outorgada na primeira metade do século XX; e (iii) mesmo estando a dinâmica econômica organizada em bases mercantis capitalistas e crescentemente globalizada a partir da segunda metade do XX, a propensão dos trabalhadores a buscarem sua sobrevivência no mercado de trabalho não responde a qualquer automatismo jurídico ou econômico. Ao contrário, tal movimento reflete como uma construção normativa – do trabalho e dos direitos (quem trabalha, quando trabalha, sob que formas trabalha) – é socialmente assimilada e reconfigura, gradualmente, a operação deste mercado.
Observaremos, para tal, o comportamento da taxa de atividade, uma variável trivial aos estudos sociodemográficos e que será tomada, aqui, como sinal primeiro desse movimento de mercantilização do trabalho. Este quociente mede a relação entre a população economicamente ativa (PEA), nosso indicador da oferta efetiva de trabalho, e a população em idade ativa (PIA), nosso indicador da oferta potencial de trabalho. Quanto maior o peso do numerador, maior será a propensão dos indivíduos ao engajamento no mercado, seja como ocupados seja como desempregados.
O Gráfico 1 mostra que, no Brasil, até o final dos anos de 1960, a maioria dos indivíduos em idade para trabalhar obtinha sua sobrevivência sem recurso à mercantilização do trabalho. Passados cinquenta anos, esse quadro se reverteu: seis em cada dez brasileiros, em 2010, precisavam engajar-se na atividade econômica para viver. Ao longo do período, há um crescimento sistemático da oferta efetiva de trabalho (a linha interrompida passa de 0,47 para 0,61). Mas, foi apenas a partir dos anos de 1980 que mais da metade daqueles em idade de trabalhar (oferta potencial) passa a se engajar no mercado de trabalho.
Esse movimento médio, conquanto importante, esconde uma notável característica: mercantilização é um processo que se declina no feminino. À luz dos dados censitários coligidos, vemos que no início do período, em 1960, o mercado de trabalho era um domínio dos homens; no final, havia deixado de sê-lo. Em 1960, quase oito em cada dez homens aptos a trabalhar buscavam no mercado os meios de sobreviver, contra menos de duas em cada dez mulheres. Nesses cinquenta anos, a incorporação feminina à PEA quase quadruplicou, alinhando-se à tendência masculina de elevada mercantilização (a taxa de atividade feminina alcançou 0,52). Distinto foi o padrão de engajamento dos homens: elevado já no início do período (taxa de atividade de 0,77) e ligeiramente declinante nas duas últimas décadas (0,70 em 2010). Como resultado, tem-se a expressiva convergência entre as curvas de engajamento de homens e de mulheres (Gráfico 1), em um movimento impulsionado pela célere mercantilização do trabalho das mulheres.
Pode-se arguir que se trata de um momento de avanço generalizado das mulheres em direção ao mercado de trabalho, o que não deixa de ser verdadeiro. Entretanto, a comparação com outros países revela que esse processo no Brasil apresentou certa singularidade. Conforme dados da OIT, para este mesmo período, na França, por exemplo, a incorporação feminina passou de 0,42 para 0,66 e nos Estados Unidos, de 0,39 para 0,68; ou seja, os patamares iniciais já eram sensivelmente mais elevados do que aquele observado no Brasil e os pontos de chegada nesse crescimento são bem mais próximos aos nossos. Mesmo na Argentina, país de industrialização tardia como a brasileira, o engajamento feminino já alcançava 0,24 em 1960, chegando a 0,53 (quase igual ao patamar do Brasil) nesses mesmos cinquenta anos.
Esses dados estão resumidos no Gráfico 2, do qual se depreendem outras constatações interessantes. Em primeiro lugar, contra a tendência ao elevado engajamento masculino, observado nos diferentes países e em todos os anos, o padrão feminino é de um engajamento que varia fortemente em um incremento constante, mas com padrões diferenciados entre países. O Brasil inicia o período com o patamar de engajamento mais baixo entre os países onde tal propensão já se afigurava a menor (países do “terceiro mundo”), mas termina com um nível de atividade que coloca as mulheres brasileiras em igualdade de condições com países que, desde 1960, já apresentavam patamares mais elevados de presença feminina no mercado de trabalho (países do “primeiro mundo”). Assim, quando se observam países socialmente comparáveis, parte-se de um nível de engajamento sempre maior que o brasileiro, e o crescimento se faz em ritmo sempre menor que o nosso.3 3 Para detalhes nas tendências, ver Costa (2000) e Cipollone, Patacchini e Vallanti (2012).
Este processo de mercantilização se expressa, no Brasil, de modo distinto entre grupos de raça.4 4 Entre 1960 e 2010, a coleta do quesito cor nos censos brasileiros esteve sujeita a mudanças, entre as quais a mais importante foi a suspensão da investigação da condição racial no censo de 1970. Entretanto, outras igualmente relevantes tiveram lugar. Em 1960, somente àqueles que vivessem em aldeias caberia o registro da condição de “índio”; outros indígenas e caboclos eram classificados como “pardos”, tanto em 1960 como em 1980. Apenas em 1991 foi introduzida a categoria “indígena” e, assim, estabilizou-se a classificação oficial que perdura até hoje e que distingue os indivíduos em “pretos”, “pardos”, “amarelos” e “indígenas”. Nova alteração ocorreu em 1991, quando se deixou de indagar sobre a “cor” e se passou a pedir que o entrevistado indicasse a sua “cor ou raça”. Por fim, enquanto em 1940 cabia ao entrevistador “qualificar o recenseado”, indicando se sua cor seria “preta, branca ou amarela” ou marcando com um traço quando não lhe fosse possível discernir (do que resultava a contabilidade do grupo de “pardos”), a partir de 1950 o entrevistador passou a registrar os que assim “se declararam”; todavia, ainda no Censo de 1991 ocorria, como mostram Piza e Rosemberg (1998-1999, p. 129), “a atribuição de cor pelo coletor do IBGE, quando os dados fenotípicos lhe pare[cessem] suficientemente ‘objetivos’”, o que denota as armadilhas postas pela etiqueta das relações raciais no Brasil. Brancos têm uma propensão mais elevada ao engajamento no mercado em relação aos não brancos,5 5 De modo a contornar problemas de comparabilidade diante das importantes mudanças verificadas na coleta do quesito cor entre 1960 e 2010 (ver nota anterior), reduzimos a classificação a apenas dois grandes grupos, os “brancos” e os “não brancos”. Por outro lado, sendo preponderante, entre esses últimos, o peso dos afrodescendentes (“pretos” e “pardos”) vis-à-vis os “amarelos” e “indígenas”, o grupo dos “não brancos” será doravante referido como “negros”. sejam homens ou mulheres (Gráfico 3).
As tendências variam ao longo dos anos, tornando-se particularmente interessantes quando observadas segundo grupos de sexo, cor e também idade. Assim, se é certo que o engajamento masculino declina, o modo pelo qual esta redução ocorre se diferencia entre grupos de idade: homens, especialmente os negros, tendem a acentuar o formato (em “U” invertido) da sua curva de atividade pelas mudanças que ocorrem nas idades-limite, isto é, inserindo-se mais tarde e retirando-se mais cedo da atividade econômica.
Entre as mulheres, a notável expansão do engajamento resulta de um movimento contrário. O aumento da oferta efetiva de mulheres – brancas e negras – ocorre justamente nas idades reprodutivas, tornado as curvas (em “U” invertido) cada vez mais similares às masculinas a partir dos anos de 1990. Esse crescimento, mais pujante entre as mulheres brancas, é também significativo entre o grupo das não brancas, acelerando-se nas duas últimas décadas (Gráfico 3).
Por fim, quando essa realidade é observada pelo prisma do que se passa com os ocupados, vê-se que, à medida que se consolida a mercantilização do trabalho, mudam igualmente as relações de emprego no Brasil. O Gráfico 4 mostra a combinação de dois movimentos: por um lado, cresce o peso do assalariamento (expresso no avanço da condição de “empregado”), que desde os anos de 1980 passa a abarcar a maioria dos ocupados; por outro, reduz-se a importância dos trabalhadores por “conta própria” e, em especial, dos trabalhadores familiares não remunerados.6 6 Um aspecto interessante: a propensão à mercantilização é também mais consistente entre os que detêm maior capital escolar. Aqueles que realizaram as transições escolares mais elevadas (entraram ou completaram o ensino superior) apresentam altas taxas de participação combinadas com elevada presença de empregados e empregadores, a díade típica de um mercado capitalista de trabalho. Já entre os analfabetos, o autoemprego e o trabalho não remunerado exercido para membros da família ombreiam com o assalariamento até o fim dos anos de 1990.
Como vimos, existem diferenças nas chances de engajamento mercantil; elas distinguem homens de mulheres, negros de brancos, jovens de idosos. Não podem, entretanto, ser entendidas do mesmo modo que aquelas verificadas quando observamos os resultados alcançados pelos indivíduos uma vez engajados no mercado de trabalho. Assim, se a probabilidade de encontrar uma ocupação, ou de receber remuneração mais elevada, está condicionada à presença e ao perfil de outros indivíduos, que são competidores por posições e salários no mercado, o mesmo não se passa com o movimento de ingresso no mercado. A decisão individual de oferecer o seu trabalho no mercado independe do que outros indivíduos venham a deliberar a esse respeito num mesmo momento. Barreiras, se existem, decorrem das construções normativas que, em cada sociedade, em diferentes momentos, estabelecem quem são aqueles que podem oferecer seu trabalho no mercado; ou decorrem da distribuição dos papeis e das responsabilidades na vida privada, que alteram as chances de alguns indivíduos chegarem a pôr em prática tal decisão. Assim, nosso passo subsequente voltou-se para explorar os possíveis correlatos que aumentam (ou reduzem) as chances de engajamento mercantil.
Para estimar a propensão dos indivíduos a recorrer ao mercado de trabalho, utilizamos um modelo de regressão logística idêntico para todos os anos e para os grupos e subgrupos de raça e sexo.7 7 Foi utilizada uma versão da decomposição de Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) para modelos não lineares, seguindo Fairlie (1999, 2005). A rigor, essa decomposição foi concebida para modelos lineares de regressão nos quais a variável explicada é contínua, como renda. Entretanto, como nos interessava a propensão de um indivíduo a se engajar no mercado de trabalho, foi preciso utilizar métodos não lineares de estimação, daí o recurso à adaptação de Fairlie. A variável dependente do modelo é binária, sendo 1 para os indivíduos que compõem a população economicamente ativa (PEA), independentemente se na condição de ocupados ou desocupados, e 0 para os demais indivíduos, que não pertencem à PEA, mas que são considerados socialmente aptos por sua idade (entre 15 e 65 anos). O conjunto de variáveis utilizadas na estimação do modelo logit refere-se a um leque de características relevantes para sua inclusão no mercado. Algumas dizem respeito ao indivíduo, como sua idade, escolaridade e situação conjugal; outras, à configuração do domicílio em que ele habita – seu tamanho (número de membros), estatutos dos indivíduos em relação ao provimento de renda (razão de dependência entre ocupados e moradores). Outras variáveis, ainda, associam-se ao contexto em que indivíduo e domicílio se inserem (região e urbanização).8 8 Como queríamos explicar as chances diferenciais de engajamento entre grupos de sexo e raça, e, nesse sentido, elas viriam a ser utilizadas como critérios para definição dos grupos no exercício contrafactual, o modelo básico estimado não incluiu as variáveis sexo e raça.
No Gráfico 5 as linhas cheias se reportam às probabilidades de engajamento encontradas para homens e mulheres. Os resultados mostram um claro aumento nas chances de as mulheres se engajarem no mercado de trabalho, passando de pouco mais de 20% em 1970 para mais de 60% em 2010. Curioso é que, quando, em um exercício contrafactual (expresso nas linhas pontilhadas), atribuímos às mulheres condições semelhantes às dos homens, as diferenças por sexo nas chances de engajamento tornam-se quase inexistentes a partir de 1991. Vale dizer que as chances de engajamento de homens e mulheres seriam distintas desde 1970, mesmo se essas populações não fossem tão diferentes em termos das demais características analisadas – e controladas como variáveis no modelo; ou seja, que as diferenças encontradas não decorrem unicamente de características dos grupos.
Probabilidade de Engajamento no Mercado de Trabalho, por Sexo e Contrafactual Homens (Comparação Horizontal)
Mas será que o mesmo movimento de mudança pode ser observado para a população em idade ativa quando distinguida por sexo e raça? Diante da vasta literatura que flagrou diferenciais de resultados no mercado de trabalho entre homens e mulheres e entre brancos e não brancos, sempre em detrimento de mulheres e de negros, será que os mesmos diferenciais seriam encontrados para o movimento que lhe antecede: o de decidir-se por ofertar sua mão de obra em troca de remuneração?
O Gráfico 6 apresenta, na figura à esquerda, as probabilidades de engajamento no mercado de trabalho por sexo e raça.9 9 O exercício com os grupos de sexo e raça não é passível de realização para os dados censitários de 1970, já que neste ano, como vimos antes, o questionário do censo não incluiu a pergunta sobre cor. Para a execução da decomposição de Oaxaca-Blinder é essencial que os modelos para todos os grupos e anos contenham as mesmas variáveis. Homens brancos e não brancos têm, ao longo de todo período, probabilidades estimadas de ingressar no mercado de trabalho semelhantes e bastante estáveis, variando entre 85,5% e 89,4%. Já as mulheres brancas e não brancas tinham, no início da década de 1980, probabilidades estimadas em pouco acima de 30%, bem distantes das dos homens. Passados apenas trinta anos, em 2010, a propensão de as mulheres recorrerem ao mercado, qualquer que fosse sua condição racial, havia dobrado. Ainda que tenham efetivamente diminuído ao longo do período, as desigualdades permaneceram em relação aos homens (com um desengajamento de homens negros levemente maior que o de homens brancos) e a distância entre mulheres brancas e não brancas aumentou.
Probabilidades de Engajamento no Mercado de Trabalho, por Sexo e Raça e Probabilidade de Engajamento no mercado Utilizando o Contrafactual de Homens Brancos para o Mesmo Ano (Brasil, 1980-2010)
Na figura à direita, o Gráfico 6 busca ainda responder a outra questão: qual teria sido o resultado se os fatores que determinam a propensão a recorrer ao mercado de trabalho tivessem o mesmo efeito sobre as chances de engajamento para homens e mulheres, para brancos e não brancos? Para tanto, apresentam-se as chances para homens negros, mulheres brancas e mulheres negras como se não houvesse diferenças entre esses grupos nos fatores que os levam a buscar no mercado de trabalho a sua sobrevivência. Diferentemente do resultado obtido para as probabilidades originais (figuradas à esquerda), agora a distinção entre os grupos de sexo e raça torna-se bem menos clara.
Tal situação sugere que o diferencial observado entre esses grupos no que concerne às suas chances originais e às chances contrafactuais de engajamento não é explicado por diferenças nas características dos indivíduos, mas por diferenças no retorno (chances de engajamento) dessas características entre grupos. Portanto, ainda que a condição racial seja um importante determinante dos resultados das trocas (entre trabalho e remuneração) que ocorrem no mercado de trabalho brasileiro, não há razões para se acreditar que seja uma característica relevante que diferencie significativamente os indivíduos em termos da sua propensão a entrar na atividade econômica. O efeito das diferenças entre grupos de sexo é bastante mais expressivo do que o das diferenças entre grupos de cor.10 10 Observe-se, entretanto, que, mesmo no exercício contrafactual, algumas diferenças persistem. Sobretudo a partir de 1991, os grupos de indivíduos não brancos, homens ou mulheres, têm propensão levemente inferior aos grupos de brancos. Essas diferenças podem ser atribuídas a desigualdades nas características médias dos indivíduos pertencentes a cada um dos grupos raciais.
O conjunto de evidências reunido nesta primeira seção nos autoriza a seguir explorando este movimento que denominamos de “mercantilização no feminino”, crucial para entendermos a dinâmica recente das mudanças no mercado brasileiro de trabalho. O próximo passo, na seção 2, será observar como autores seminais interpretaram, ao seu tempo, as transformações em curso. Ao fazê-lo tornaram-se bons faróis para intuirmos não apenas como nossos intelectuais percebiam as mudanças gerais no mercado, mas o protagonismo das autoras feministas e das estudiosas das relações de gênero no sentido de bem qualificarem o caráter “sexuado” de tal movimento.
O movimento de mercantilização à luz da agenda dos intérpretes... e o lugar dos estudos de gênero
Esse intenso e complexo movimento de mercantilização pautou, como seria de se esperar, a agenda dos intérpretes, notadamente da literatura da ciência social brasileira que explorou as especificidades do nosso mercado de trabalho. Para dizê-lo de modo breve, particular atenção foi prestada, por um lado, à marcada heterogeneidade estrutural no mercado (dado o modo pelo qual os indivíduos nele se engajavam) e, por outro, à sua abrangência, inicialmente reduzida (tendo em vista a proporção dos incorporados e, em especial, a exclusão dos trabalhadores rurais).
Não cabe aqui uma exaustiva revisão dessa literatura.11 11 Ela se restringirá a alguns dos intérpretes relevantes para uma sociologia do mercado brasileiro de trabalho. Sem desvalorizar a contribuição da economia do trabalho, e mesmo dos estudos demográficos que focalizaram a dinâmica da força de trabalho, cujos resultados, de resto, transparecerão no curso dessa seção, nosso alvo será interpelar a nossa própria disciplina, a sociologia, em busca do seu modo de interpretar um processo que nos é analiticamente caro, o da constituição do trabalho como uma mercadoria, sujeita a regras e modos de circulação, que faz os indivíduos serem confrontados a (antigas e novas) desigualdades que se expressam tanto no engajamento mercantil, como nos retornos resultantes da venda da sua capacidade de trabalho. Sistematizaremos, na forma de pistas, algumas dessas sugestões, com inegável dose de arbitrariedade, em dois momentos-chave: um ponto de partida (década de 1960) e um ponto de chegada (anos 2000). Se for correto supor que nesse período consolida-se a mercantilização do trabalho no Brasil, as interpretações da sociologia nesses dois momentos e, em especial, a mudança de tom nas narrativas, podem ser sintomáticas da transformação que se imagina ter ocorrido.12 12 O modo como definimos esse recorte, por certo, tem custos. Ele deixa de lado, por exemplo, o debate suscitado por uma vasta literatura sociológica e historiográfica sobre o significado e o conteúdo da legislação que regula o mercado de trabalho produzida no período Vargas, em que se destacam Gomes (1979 e 1988), Santos (1979), Vianna (1978), Erickson (1979), entre outros. Sem contar a reflexão sobre a mercantilização das relações sociais e de troca no Brasil do fim do século XIX, cuidadosamente organizada em Oliveira (1988).
O primeiro desses momentos localiza-se nos anos de 1960. Os intérpretes de então se sentiam desafiados a explicar a particularidade de um mercado de trabalho que, sendo capitalista, não tinha ainda generalizado para toda a força de trabalho a esperada norma capitalista de emprego – a relação de trabalho assalariado, contratualmente estabelecida. Uma relação social que submeteria duradouramente os trabalhadores ao vínculo empregatício, típico do capitalismo. Uma relação em que o mercado se tornasse, de forma inescapável, o espaço onde esses indivíduos encontrariam as condições para sua sobrevivência.
Lopes (1964LOPES, J. R. B. (1964), Sociedade industrial no Brasil. São Paulo, Difusão Europeia do Livro. e 1967LOPES, J. R. B. (1967), A crise do Brasil arcaico. São Paulo, Difusão Europeia do Livro.), Rodrigues (1970)RODRIGUES, L. M. (1970), Industrialização e atitudes operárias. São Paulo, Brasiliense. e Durham (1973)DURHAM, E. (1973), A caminho da cidade: a vida rural e a emigração para São Paulo. São Paulo, Perspectiva., em estudos conduzidos nos anos de 1950 e 1960, haviam destacado como as estratégias pendulares de migração para os grandes centros industriais revelavam a importância dos elos com os locais de origem e os refluxos da atividade econômica no local de acolhida. Nesse sentido, indicavam a convivência dos loci (e a fortiori, dos mercados) onde se jogava a sobrevivência. Mais ainda, esses autores sublinharam como os projetos desses migrantes, mais das vezes precariamente integrados aos centros urbanos para onde se deslocavam, eram movidos pelo alvo da obtenção do trabalho assalariado (“fichado”), cujos direitos estavam assegurados àqueles em ocupações industriais e dos serviços modernos13 13 Como reconheceu Santos (1979), cunhando a noção de “cidadania regulada”, significativamente fraseada, de início, como “cidadania ocupacional”. e que inexistiam no meio rural. Se o mercado e o meio urbano exerciam atração indiscutível pela promessa dos direitos, o constante recurso à migração de retorno testemunhava a frágil construção dessa ordem mercantil e o difícil acesso a tais direitos.14 14 Cardoso (2010, pp. 229-230) observou o movimento de três variáveis para o período entre 1940 e 1976: a população economicamente ativa (PEA) urbana; o número de carteiras de trabalho emitidas; e o número de contribuintes para a previdência no Brasil. Ele mostrou que, nesse período, foram emitidas 150% mais carteiras que o crescimento da PEA e 230% mais que a expansão de beneficiários da previdência. Em que pese caiba algum cuidado na comparação dessas taxas de crescimento (visto que o estoque dos trabalhadores com carteira era muito baixo no ponto de partida), a crescente busca da carteira sinaliza a crença na possibilidade de incorporação ao mercado formal de trabalho. Embora instituída desde 1932 e tornada obrigatória dois anos depois, é significativo que a primeira grande inflexão no crescimento da emissão de carteiras somente tenha ocorrido a partir dos anos de 1950-1960 (Idem, p. 230), o que sinaliza um momento de inflexão na propensão ao engajamento no mercado.
Machado da Silva (1971)MACHADO DA SILVA, L. A. (1971), Mercados metropolitanos de trabalho manual e marginalidade. Rio de Janeiro, dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Antropologia do Museu Nacional. enriqueceu esta narrativa destacando o papel do mercado de consumo. Dado o caráter crescentemente monetizado da economia brasileira, visível desde os fins do século XIX e indiscutível nos anos de 1930, os indivíduos eram premidos a encontrar no mercado de trabalho a renda necessária à sua reprodução pessoal e familiar. Entretanto, para o autor, havia um descompasso entre tal movimento e a construção institucional do mercado de trabalho. Diferentemente do que acontecera nos países capitalistas centrais, a tênue regulação promovia a coincidência entre “população” e “população economicamente ativa”, do que decorria uma oferta ilimitada de trabalho; ilimitada porque desregulada. Estávamos diante de um mercado sem barreiras de entrada, o chamado “mercado informal”, outro tema de forte apelo no debate daqueles anos e central para o entendimento do descompasso causado pela crescente ampliação da oferta efetiva de trabalho (nosso indicador de mercantilização) sem a equivalente expansão nas relações de assalariamento formal.15 15 Não sem razão, e como veremos em mais detalhe na terceira seção, também eram tênues os limites que circunscreviam a categoria “população economicamente ativa”, tal como era traduzida operacionalmente na métrica censitária de então.
Já os anos 2000 oferecem uma narrativa que, de tão diversa em sua natureza, denota a enorme transformação que se operara nos elos entre mercado e mercantilização do trabalho no Brasil. Tal reflexão mudou o tom dos debates sobre o engajamento e sobre a heterogeneidade do trabalho. Desafiados a esquadrinhar os efeitos de uma longa conjuntura de refluxo no crescimento econômico (aberta nos anos de 1980 pela chamada “década perdida”), os sociólogos documentaram como a retração do assalariamento formal evidenciava o estancar do movimento que, desde os fins dos anos de 1940, incluíra progressivamente no mercado de trabalho novos contingentes de trabalhadores. Naquele momento, assumiu-se que o desemprego era um problema que havia chegado para ficar (Cardoso, 2000CARDOSO, A. M. (2000), Trabalhar, verbo transitivo: destinos profissionais dos deserdados da indústria automobilística. Rio de Janeiro, FGV.; Guimarães, 2004GUIMARÃES, N. A. (2004), Caminhos cruzados: estratégias de empresas e trajetórias de trabalhadores. São Paulo, Editora 34.).
A retração da atividade produtiva combinada à crescente racionalização no uso do trabalho pelas empresas resultou em um notável crescimento do desemprego, figurando-se como um problema urgente a ser resolvido. Vale dizer, quando o engajamento mercantil em busca da sobrevivência passou a ser uma situação sem retorno, o desemprego se estabeleceu como um traço estruturante do funcionamento dos mercados, começando pelos grandes mercados metropolitanos de trabalho. Precisamos melhor sinal para esse engajamento mercantil compulsório no mercado do que ali permanecer mesmo sem ocupação regular?16 16 Duas outras pistas também sinalizam a instalação do engajamento mercantil compulsório. Por um lado, do debate sobre a mensuração do desemprego, que galvanizou sociólogos e economistas nos anos de 1980 e 1990, resultou uma nova métrica nas estatísticas oficiais da PME/IBGE em 2002; por outro, a mobilização sindical em torno dessa disputa pela mensuração mostrou-se tão intensa que a medida alternativa para o desemprego – a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – foi uma iniciativa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese); mais ainda: tal medida foi experimentada justamente na maior região metropolitana, São Paulo, em 1984, apenas dois anos depois que um movimento de desempregados quase derrubara as grades do Palácio do primeiro governo estadual de oposição eleito na ditadura militar, em meio à profunda crise econômica e à notável contração de oportunidades de trabalho.
O desemprego crescente, um marco dos anos de 1980 e 1990, era fruto de intensa reestruturação micro-organizacional em um contexto de intensa mudança macroeconômica, associada à crise, à nova política regulatória da ação do Estado na economia, com destaque para célere abertura comercial. Mas não somente. Parcela majoritária e crescente da força de trabalho estava agora presa, sem retorno, ao mercado (Hirata e Humphrey, 1989HIRATA, H. & HUMPHREY, J. (1989), “Trabalhadores desempregados: trajetórias de operárias e operários industriais no Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 11 (4): 71-84.). O engajamento deixara de ser transitório e/ou pendular, movendo-se entre formas extramercantis de sujeição e o mercado.
Conquanto recursos provindos da esfera da sociabilidade privada pudessem viabilizar (pela via da solidariedade grupal) a sobrevivência ameaçada pelo desemprego – e muito embora tais recursos se aliassem ao engajamento e à sociabilidade via mercado17 17 Isso foi documentado por ampla e rica literatura produzida pela sociologia brasileira, nos anos de 1980, sobre as condições de reprodução da classe trabalhadora e o papel da sociabilidade privada, familiar ou comunitária. Ver Bilac (1978) e Fausto Neto (1982). –, esta última se tornara imperiosa. Persistia-se, agora, preso ao mercado, mesmo sob variadas formas de desemprego; daí porque medi-lo e sobre ele atuar passam a ser demandas da sociedade para o Estado. Nos anos 2000, o mercado tornara-se, e em definitivo, o locus necessário da sobrevivência. Consolidara-se a mercantilização do trabalho.
Ademais, a pluralidade de formas do desemprego – e sobretudo o notável peso do desemprego oculto em ocupações precárias ou no desalento18 18 O desemprego oculto era a modalidade que mais crescia nas metrópoles, tão logo começou-se a medir o fenômeno, em meados dos anos de 1980 (Dedecca, Montagner e Brandão, 1993; Dedecca e Montagner, 1993). – expressava outra característica da mercantilização do trabalho à brasileira: a ausência de uma política social de proteção ao trabalho que institucionalizasse uma cesta mínima de benefícios ao desempregado (seguro, treinamento, intermediação e recolocação etc.) e lhe permitisse dedicar-se à procura de trabalho. Sem isso era impossível exprimir sua condição (subjetiva) de engajamento na forma (estatística) que rotulamos como “desemprego aberto”, tal como contabilizado nos países com regimes de proteção social mais inclusivos na cobertura e generosos nos benefícios, facultando os meios para o que se consagrou tratar como desmercantilização do trabalho (Esping-Andersen, 1990ESPING-ANDERSEN, G. (1990), The three worlds of welfare capitalism. Princeton, Princeton University Press.).19 19 Aqui radica outra particularidade do caso brasileiro. Enquanto o mainstream acadêmico examinava em escala internacional a desmercantilização do trabalho, um correlato dos regimes de bem-estar social erigidos sob o fordismo, entre nós, os “anos gloriosos” da expansão do fordismo (entre 1950 e 1970) se fizeram livres dessas contrapartidas sociais. No Brasil, tal expansão ocorreu sem a universalização da norma do assalariamento duradouro, assentando-se num sistema de proteção restrito na cobertura e avaro nos benefícios, que deixava às instâncias da sociabilidade privada tanto o ônus de prover as condições para enfrentar o desemprego, quanto a responsabilidade de sustentar e orientar a procura de trabalho.
Passando aos achados sobre as formas do emprego, o debate mostra-se igualmente revelador. Nos anos de 1960 e 1970, as heterogeneidades sociais que chamavam a atenção dos intérpretes eram aquelas que segmentavam os trabalhadores entre os ocupados em formas tipicamente capitalistas e aqueles que não logravam inserir-se nesse circuito, ou que nele se incluíam de maneira transitória e fora do coração propulsor da indústria e dos serviços modernos. Já nas década de 1990 e 2000, a discussão adquire outro tom, com as variadas maneiras cunhadas para nomear e hierarquizar os indivíduos, segundo os seus diversos estatutos. Assim, os sistemas classificatórios das empresas antepunham os “permanentes” aos “temporários”; outras vezes, os “mensalistas” aos “horistas”; e, não raro, os “regulares” aos “subcontratados” ou “cooperativados”.
Assim, sobressai outra novidade: não era a natureza do trabalho concreto, a ocupação ou a atividade profissional que diferenciava os trabalhadores; nem tão somente o posto de trabalho. A relação de emprego passara a se constituir no marcador da diferença socialmente significativa. Ganham a frente da cena noções como “flexibilidade” e “precariedade”, denotando o quanto os indivíduos estavam aferrados ao seu engajamento no mercado, sob qualquer forma de relação de emprego, mais ou menos protegida, mais ou menos duradoura. Assim, as formas do emprego, tal como descritas pela literatura dos anos 2000, revelam a maturidade crescente da mercantilização do trabalho no Brasil.20 20 Para um desenvolvimento desse argumento, ver Guimarães (2011).
A acuidade da maior parte das análises recuperadas até aqui foi, no curso do tempo, temperada por um grupo de intelectuais que, tomando o ponto de vista dos estudos de gênero, também observava o que se passava com o mercado brasileiro de trabalho nesse mesmo lapso de tempo. Essas autoras cedo remarcaram a importância de atentar-se para o célere engajamento das mulheres que subjaz a este movimento, o qual, como vimos na primeira seção, tendo começado a se delinear no final dos anos de 1970, consolidou-se entre as décadas de 1980 e 1990. Em seus estudos, desenvolvidos no calor dessas mudanças, elas frisaram a existência de novas tendências no emprego de mulheres no Brasil, a partir de cuidadosas análises dos diferentes inquéritos domiciliares levados a cabo (Abreu, Jorge e Sorj, 1994ABREU, A.; JORGE, A. & SORJ, B. (1994), “Desigualdade de gênero e raça: o informal no Brasil em 1990”. Revista Estudos Feministas, número especial: 153-178, 2. semestre.; Bruschini, 1998BRUSCHINI, C. (1998), “Gênero e trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistência da discriminação? Brasil, 1985 a 1995”. Comunicação apresentada no seminário “Trabalho e gênero: mudanças, persistências e desafios”, Abep/Nepo, Campinas, 14-15 abr., 1998aBRUSCHINI, C. (1998A), “Trabalho das mulheres no Brasil: continuidades e mudanças no período 1985-1995”. Textos FCC, n. 17, São Paulo, Fundação Carlos Chagas.; Lavinas, 1997LAVINAS, L. (1997), “Emprego feminino: o que há de novo e o que se repete”. Dados, 40 (1): 41-67., 1998LAVINAS, L. (1998), “Evolução do desemprego feminino nas áreas metropolitanas”. Rio de Janeiro, documento não publicado. e 1998aLAVINAS, L. (1998A), “Diferenciais de rendimentos entre homens e mulheres nas áreas metropolitanas”, Rio de Janeiro, documento não publicado., entre outros). Algumas tendências relevantes foram então identificadas.21 21 Novamente estruturaremos o argumento selecionando algumas autoras entre uma vasta produção analítica; elas serão aqui tomadas como exemplos de um movimento interpretativo mais amplo.
Em primeiro lugar, o aumento persistente da taxa de atividade feminina. Bruschini (1998)BRUSCHINI, C. (1998), “Gênero e trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistência da discriminação? Brasil, 1985 a 1995”. Comunicação apresentada no seminário “Trabalho e gênero: mudanças, persistências e desafios”, Abep/Nepo, Campinas, 14-15 abr., analisando as PNADs, observa que o engajamento de mulheres cresceu de 36,9% para 53,4% entre 1985 e 1995, enquanto a taxa masculina pouco se alterou, passando de 76 % para 78,3%. Como resultado, as mulheres haviam elevado em 63% a sua participação na PEA, crescimento que, em termos absolutos, importava no afluxo ao mercado de trabalho de nada menos que 12 milhões de novas mulheres em um período de apenas dez anos. Isso era resultado, como destacou Lavinas (1997)LAVINAS, L. (1997), “Emprego feminino: o que há de novo e o que se repete”. Dados, 40 (1): 41-67., de um incremento anual da participação feminina na população ocupada que chegou ao patamar de 3,8%. Insistentemente sublinhado pela literatura de então era a conjuminância entre esse intenso ingresso feminino no mercado de trabalho e mudanças importantes que operavam em outras ordens significativas, tais como no comportamento demográfico (com notável queda na fecundidade), nos ganhos significativos de escolaridade feminina e nas transformações na esfera valorativa, que regula os papéis sociais de gênero.
Segundo achado igualmente relevante trazido à luz por essas autoras: um crescimento dessa monta dificilmente se faria sem que dele resultasse uma importante mudança no perfil da mulher inserida no mercado de trabalho. De fato, até os anos de 1970, a brasileira que disputava posições no mundo do trabalho era majoritariamente jovem, solteira e sem filhos. A partir de meados da década de 1990, ela passou a ser mais velha, casada e mãe. Vale dizer, o aumento na taxa de participação feminina havia se sustentado na entrada ao mercado de trabalho das mulheres em idades mais elevadas; ou, por outro lado, pelo fato de que, ingressando mais jovens no mercado, dele não se retiravam ao iniciar sua carreira reprodutiva. Como resultado, Lavinas já anunciava em artigo de 1997 que as curvas de participação feminina e masculina, segundo idades, haviam se tornado bem mais assemelhadas em seu formato se comparadas à década anterior, o que ficou patente nos dados apresentados aqui.
Uma outra novidade foi também destacada pelas estudiosas do gênero. Embora persistisse para a grande maioria das mulheres a alocação preferencial em certas atividades ditas “femininas” (serviços pessoais, administração pública, saúde, ensino privado), verificavam-se ligeiras, conquanto sugestivas, mudanças. Por um lado, consolidava-se a feminização de certas atividades, como nos serviços comunitários e nas atividades que hoje estudamos pelo prisma da noção de “cuidado”. Por outro lado, eram bem-sucedidas algumas incursões de mulheres em redutos de emprego de homens, como nos serviços de reparação (ramo em que dobrara a presença feminina entre 1985 e 1995), ou nos serviços industriais de utilidade pública (em que passaram de 14% para 21% dos ocupados) ou ainda nos serviços auxiliares, onde as mulheres também dobraram a sua participação (Lavinas, 1997LAVINAS, L. (1997), “Emprego feminino: o que há de novo e o que se repete”. Dados, 40 (1): 41-67.).
No âmbito das ocupações e dos grupos ocupacionais, Bruschini (1998)BRUSCHINI, C. (1998), “Gênero e trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistência da discriminação? Brasil, 1985 a 1995”. Comunicação apresentada no seminário “Trabalho e gênero: mudanças, persistências e desafios”, Abep/Nepo, Campinas, 14-15 abr. aponta para alguns sinais reveladores. Ainda em meados dos anos de 1980, a autora observou que, entre 1985 e 1995, havia aumentado a participação feminina em todos os grupos ocupacionais, com a novidade de que, na administração, era importante o afluxo de mulheres a posições de chefia. E mesmo na indústria – e em setores tradicionais, como a têxtil – a redução no número de ocupadas andava de braços com um crescimento importante, da ordem de 62% (embora sobre uma base numérica pouco significativa), das mulheres mestres, contramestres e técnicas. Nos serviços, cresceu também o número de mulheres na posição de proprietárias de estabelecimentos.
A reflexão feminista de então sublinhava que boa parte dessas mudanças – como o crescimento das taxas de atividade e o novo perfil etário da mulher participante na força de trabalho, ou mesmo as transformações no padrão de mixidade em setores e ocupações – expressava tendências verificadas de modo mais generalizado em outros países. Todavia, essas autoras estavam cônscias de que o novo cenário macroeconômico e micro-organizacional da atividade produtiva no Brasil herdado dos anos de 1990 (abertura da economia, estabilização monetária, mudanças no papel produtivo e regulador do Estado, reestruturação organizacional nas empresas e cadeias produtivas, entre outros) conferia uma faceta específica tanto à intensidade com que essas novidades passaram a se exprimir no Brasil, como à sua natureza, combinando-se com as antigas desigualdades que diferenciavam oportunidades entre grupos sociais de sexo. E o olhar das estudiosas de gênero sobre este campo temático foi seminal para enriquecê-lo. Elas são convergentes, por exemplo, em afirmar o ônus particularmente elevado que pagaram as mulheres no processo de intensa reorganização e fechamento de oportunidades ocupacionais que teve lugar no Brasil nos anos de 1990. Ou seja, eram significativas as diferenças entre grupos de sexo quando o desemprego se instalou entre nós, sinalizando para o amadurecimento do processo de mercantilização do trabalho (havia que permanecer engajado ao mercado, mesmo se sem trabalho e em busca de algum emprego).
Lavinas (1997)LAVINAS, L. (1997), “Emprego feminino: o que há de novo e o que se repete”. Dados, 40 (1): 41-67. sugeriu a hipótese de que, diante de tal retração de oportunidades ocupacionais – e em condições de crescimento das taxas de atividade –, não somente ampliavam-se as taxas de desemprego, como aumentava a competição entre sexos pela obtenção do emprego. Com isso, alteraram-se os padrões e os processos que definiam a mixidade da força de trabalho empregada. Para a autora, “quando se contrai a oferta de emprego em atividades altamente segregadas por sexo, a resposta à entrada do sexo oposto não é sempre de maior abertura à mixidade” (Idem, pp. 49-50). Isto se mostrou especialmente claro na indústria, onde, como observou a autora, a participação das mulheres retrocedeu de 12%, em 1985, para 8%, em 1995, num movimento de crescimento negativo do emprego industrial feminino da ordem de 2,51% ao ano, contra a média de crescimento do emprego no setor, também negativa, mas bastante menor, de 1,85% ao ano. Uma tendência que não se restringia a segmentos, como a indústria, majoritariamente masculinos; também na administração pública (serviços de saúde e educação, em que oito em cada dez trabalhadores eram mulheres) e nos serviços de comunicação as taxas de crescimento do emprego total, entre 1990 e 1995, superaram as taxas de crescimento do emprego feminino.
A falta de trabalho tornara-se, como se viu, um problema particularmente grave para as mulheres brasileiras, crescentemente incluídas na população economicamente ativa. Mas, se era certo que o desemprego feminino sempre apresentara taxas mais elevadas que o desemprego masculino, a partir dos anos de 1990 a desocupação tornou-se sem dúvida muito mais forte entre as mulheres, cujas taxas de desemprego se dissociaram do padrão até então compartilhado (embora com magnitudes diferentes) entre homens e mulheres. Como as feministas o entendiam? Para Lavinas (1998)LAVINAS, L. (1998), “Evolução do desemprego feminino nas áreas metropolitanas”. Rio de Janeiro, documento não publicado., por exemplo, esse aumento do desemprego feminino articulava-se a pelo menos três outros fenômenos importantes. Em primeiro lugar, as mulheres apresentavam uma dinâmica de ingresso no mercado de trabalho diferente dos homens. Isto porque, naquele momento (lembremo-nos, primeira metade dos anos de 1990) ainda era expressivo o contingente de mulheres fora da PEA; de fato, em 1995, a autora registrava que apenas metade das mulheres entre 25 e 65 anos trabalhava ou procurava trabalho nas áreas metropolitanas brasileiras; entre os homens, tal proporção era de cinco em cada seis (85%). Em segundo lugar, era maior a sazonalidade do desemprego das mulheres vis-à-vis o desemprego dos homens. A maior exposição feminina a postos de trabalho precários foi, então, cuidadosamente esquadrinhada e fartamente documentada. Bruschini, em texto pioneiro de 1998, usando dados secundários, chamou a atenção para o fato de que nada menos que 40% da força de trabalho feminina brasileira estava, em 1993, em posições ocupacionais que sugeriam a existência de trabalho precário; conforme dados para este ano, 17% delas eram domésticas (contra 0,8% dos homens), 13% não percebiam qualquer remuneração e 10% trabalhavam para consumo próprio. Em terceiro lugar, a heterogeneidade da condição social diferenciava as mulheres, fazendo com que os riscos do desemprego fossem maiores para as mais pobres (e, via de regra, negras) e menos escolarizadas.
Em suma, pelo que ilustramos até aqui, os estudos de gênero, com o vigor (não casual) com que se estabeleceram no Brasil dos anos de 1980 e 1990, temperaram o ambiente intelectual, chamando a atenção para aspectos cruciais do movimento (que antes sublinhamos como sendo) de “mercantilização no feminino” do trabalho no Brasil. Mas, há que ter em mente que o debate feminista foi a um só tempo sujeito e consequência dessa crescente conscientização sobre as transformações nos padrões de engajamento no trabalho entre nós. Isto porque, se tal consciência foi talhada pelo debate feminista, que ganhava musculatura e ecoava na sociedade brasileira, o vigor das análises supunha a existência de dados. Ora, tal oferta era, ela mesma, um indicativo de como a percepção das mudanças em curso ia transformando as formas de medir e esculpindo novas ferramentas estatísticas para bem capturá-las. Disso trataremos na próxima seção.
A mensuração do engajamento no trabalho nas estatísticas censitárias
A dinâmica e as peculiaridades do processo de mercantilização do trabalho no Brasil pode ser flagrada por um outro prisma, qual seja, o do modo como as próprias categorias censitárias foram sendo atualizadas, reinventadas em sua métrica, para dar conta da nova realidade que se apresentava aos gestores da produção oficial de estatísticas. Para refletir nessa direção, tomamos os censos como fontes, mas em um sentido especial. Deixamos de lado os números, os resultados da medida, de que tratamos na primeira seção, e nos detivemos nas definições conceituais, nas perguntas que as operacionalizavam (seu fraseamento, ordenação, estruturação das alternativas de resposta) e mesmo nas instruções aos pesquisadores em campo.
Inspirou-nos a reflexão pioneira de Paiva (1984)PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66., que acompanhou, para os censos de 1940 a 1980, a alteração da conceituação e da enumeração da população economicamente ativa. Constatamos, como Paiva, um movimento de crescente complexidade na mensuração da condição de trabalho dos indivíduos, que persiste até 2010. Assim, aumenta o número de questões sobre trabalho e renda e busca-se melhorar os mecanismos de captação do fenômeno, sofisticando medidas.
Pode-se argumentar, com razão, que nada há de excepcional em atualizar ferramentas de medição, sendo isso parte das obrigações de quem por elas é responsável. Porém, o modo de fazê-lo e o seu curso no tempo podem ser ilustrativos do que muda na realidade que se quer descrever e apurar. Assim, algumas dessas mudanças são eloquentes por revelarem o intuito de melhor flagrar fenômenos em transformação. Três evidências são bastante sugestivas.
A primeira e talvez a mais significativa: altera-se o modo como os censos (re)definem a população economicamente ativa, ou seja, como contabilizam o contingente de indivíduos que comparece ao mercado de trabalho em busca da sobrevivência (a oferta efetiva), ali permanecendo, seja na condição de ocupados, seja na de desempregados (e, como tal, em procura de trabalho). Paiva (1984)PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66. destacara que somente a partir de 1960 os censos brasileiros passaram a adotar esse modo de contabilizar os economicamente ativos. Em 1940, a compulsão a oferecer trabalho no mercado era tão baixa que o recenseamento sequer mediu o desemprego; em 1950, mesmo computando-se os desempregados, estes foram excluídos da PEA e somados aos inativos (aqueles sem trabalho e que tampouco procuravam obtê-lo). Ou seja, até 1960, a população economicamente ativa, tal como computada, coincidia pura e simplesmente com a população ocupada; era mais propriamente um indicador da estrutura ocupacional do que, como utilizado atualmente, da oferta efetiva de trabalho. Antes que um “erro de contagem”, 22 22 Tal problema de contagem da PEA cria dificuldades importantes para a comparação entre os dados censitários anteriores a 1960 e os posteriores (Paiva, 1984). isso revela quão desnecessário era medir o desemprego. Dada a baixa compulsão ao engajamento mercantil, o desemprego ainda não era um elemento estruturante da organização do mercado de trabalho.
Segunda evidência: ocorreu uma mudança significativa nas categorias-resposta relativas à mensuração de duas outras variáveis-chave para medir o engajamento no mercado – a “posição na ocupação”, que permite acompanhar transformações nas relações sociais de emprego; e a “procura de trabalho”, que documenta o desemprego como realidade estruturante da inserção no mercado em condições de crise e reestruturação econômica. Só a partir dos anos de 1990, quando o desemprego surge como problema social, é que se instala a urgência em medi-lo, e de modo crescentemente refinado. Por um lado, inquirindo mais e melhor sobre a procura de trabalho; por outro, alterando o tempo de referência para contabilizar a atividade (de doze meses para uma semana), como ocorreu nos censos de 1991, 2000 e 2010.
Terceira evidência: a partir do censo de 2000, mas notadamente no de 2010, passam a ser contabilizados os rendimentos advindos da política de proteção social, que também impactam na propensão ao engajamento no trabalho. Passa-se a inquirir sobre fontes de renda providas pelo poder público que permitem, por exemplo, excluir os que não estão socialmente em idade de trabalhar (casos do Peti, do Bolsa Escola), ou que apoiam os idosos suplementando-lhes os ganhos e, sobretudo, os mecanismos de transferência de renda dissociados da venda do trabalho (Bolsa Família, Benefício de Longa Permanência). O aperfeiçoamento dos censos dá testemunho, assim, de um movimento que, nos termos da literatura internacional, apontaria para a desmercantilização do trabalho. Esta, entretanto, ocorre justamente quando o assalariamento formal se expande, ou seja, quando a face mais visível da mercantilização se consolida; nova particularidade do caso brasileiro.
Mas, e de novo, desafia-nos entender o modo pelo qual o peso da participação feminina é (ou não) tornado perceptível no curso dessas importantes mudanças conceituais. Maruani e Meron (2012)MARUANI, M. & MERON, M. (2012), Un siècle de travail des femmes en France. Paris, La Découverte. em instigante esforço por revisar as estatísticas produzidas na França sobre a dinâmica do mercado de trabalho, por exemplo, foram muito felizes em mostrar como a história do trabalho feminino é, por certo, uma história econômica e social, mas é, ao mesmo tempo, uma história política e cultural; sua atividade econômica deve ser vista também, e por isso mesmo, como uma construção social. E, nesse sentido, os dados produzidos em diferentes momentos da história de uma sociedade contribuem para visibilizar, ou invisibilizar, o engajamento feminino. Tal perspectiva pode também iluminar o que se observa no caso brasileiro.
Na seção precedente recorremos a algumas autoras engajadas no campo dos estudos de gênero para mostrar como emergem, entre nossos intérpretes (e na consciência social), as evidências sobre a natureza fortemente “sexuada” do movimento de mercantilização do trabalho no Brasil. Do mesmo modo, é possível acompanhar as transformações que assinalamos sob o prisma da real capacidade das estatísticas censitárias de flagrar as condições do crescente afluxo de mulheres no trabalho de que vimos tratando até aqui.
Tal como a Maruani e Meron, uma (última) pergunta nos incomoda, qual seja: o notável crescimento do afluxo de mulheres ao mercado de trabalho brasileiro que documentamos com dados para os últimos cinquenta anos é, efetivamente, um movimento de inflexão, feito por mulheres que passam da inatividade à atividade econômica? Ou, diferentemente, a inflexão que registramos nas estatísticas censitárias (aos moldes da primeira seção) é apenas um efeito “contábil”, expressão de mudanças no modo de classificar e contar a atividade feminina – e, nesse sentido, apenas indicaria termos ultrapassando a subestimação/subenumeração do trabalho até então realizado pelas mulheres que, pura e simplesmente, escapava ao que (cultural e institucionalmente) definíamos como “atividade econômica”? Ou refletiria, nesse seu ir-e-vir, o movimento por estabelecer modos de classificar o trabalho feminino numa sociedade patriarcal submetida a intensas mudanças associadas ao crescimento urbano e à escolarização (das mulheres em especial) com os seus correlatos (na fecundidade e na atividade econômica)?
Longe de ser anacronismo (pelo erro de recriar o passado com as categorias do presente), essa linha de indagação parece-nos de todo cabível. Senão, vejamos. Giorgio Mortara, um dos personagens seminais para a constituição da moderna estatística demográfica brasileira, refletia provocativamente, em texto de 1956, nos seguintes termos: “Com efeito, nenhum economista concordaria em excluir da população economicamente ativa as mulheres que trabalham exclusivamente no lar e para o lar, sem remuneração, exercendo atividades essenciais para a vida familiar e social” (apudPaiva, 1984PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66., p. 20, grifo nosso)
Seu argumento denota a tensão que, já naquele momento, se expressava na superfície do debate sobre o “bem medir”. A afirmação sugere que o cômputo do engajamento das mulheres trazia consigo um debate crucial sobre como traduzir operacionalmente o que se deveria entender como “atividade econômica” no momento em que se reformava a métrica do censo brasileiro. Sua reflexão bem poderia ser fraseada em outros termos, mais gerais, de maneira a dar-lhe o real alcance de que se revestia: como circunscrever aquela que seria a produção de bens e serviços efetivamente voltada a satisfazer necessidades humanas e que, por isso mesmo, facultaria classificar, aqueles nela envolvidos, como parte da população considerada economicamente ativa? Haveria lugar, nesta circunscrição para incluir “as mulheres que trabalham exclusivamente no lar e para o lar, sem remuneração, [mesmo se] exercendo atividades essenciais para a vida familiar e social”? Era disso que tratava a provocativa interpelação de Mortara, que nos confrontava, ao fim e ao cabo (e ao modo de um feminista avant la lettre) com a necessidade de se definir o que se considera como bens e serviços econômicos.23 23 No âmbito das ciências sociais latino-americanas (seguindo pista de Guimarães e Hirata, 2014), e para ampliar um pouco mais o espectro e ressaltar a novidade da provocação de Mortara, foi somente vinte anos depois, em fins dos anos de 1970, que o debate sobre a natureza do trabalho doméstico viria a repercutir entre nossas estudiosas do gênero (De Barbieri, 1984; García, Muñoz e Oliveira, 1984; Galvez e Todaro, 1986; De Barbieri e Oliveira, 1987; Oliveira, Lehalleur e Salles, 1989; Oliveira e Salles, 1991; García e Oliveira, 1994); mesmo momento em que ecoou no Brasil (Bilac, 1983; Souza-Lobo, [1991] 2011), sob o impacto da modernização conservadora promovida pela ditadura militar, como posteriormente arguiria Bilac (2014). Entendemos que a solução que nos leva à porta de saída para este desafio está longe de ser trivial. Ela depende do modo pelo qual se constrói, em uma dada sociedade, a noção de atividade econômica (Kuznets, 1966KUZNETS, K. (1966), Modern economic growth: rates, structure and spread. New Haven, Yale University Press.); nesse sentido, reflete as avaliações normativas, as convenções, que sustentam a inclusão (ou exclusão) de certas atividades do cômputo geral do que se define como produção econômica.
Por isso mesmo, não deixa de ser sugestivo que os censos brasileiros de 1940 e 1950 tenham organizado a classificação das atividades (inquiridas em termos de “atividade principal” e não de “atividade habitual”, como se consagraria em seguida) categorizando-as em “atividades domésticas” e “atividades extradomésticas”. Vale dizer, os indivíduos classificavam-se antes pela situação do seu local de atividade que pelo caráter econômico, ou não econômico, da mesma. É igualmente significativo que “o lar” (como curiosamente aparece referido em documentos técnicos de apoio aos recenseadores) fosse o divisor de águas. Isso facultava incluir, por exemplo, o trabalho doméstico remunerado entre as atividades domésticas – e não na atividade de “prestação de serviços” como se consagraria posteriormente. Ora, nas circunstâncias em que o chamado trabalho produtivo pode ser feito em casa, ou próximo à casa, facilitando a combinação entre tarefas voltadas a atender necessidades do grupo doméstico e tarefas consideradas ao seu tempo como “econômicas”, é muito provável a subenumeração desses segmentos de trabalhadores (mulheres, em sua maioria) que exercem duplo papel.
Quando, a partir do censo de 1960, altera-se o modo de colher a atividade dos indivíduos, e se adota a noção de “atividade habitual” como modo de referência, é indubitável que o cômputo do engajamento feminino poderia vir a se alterar. Senão, vejamos, e seguimos Paiva:
[...] nos casos de pessoas com dupla atividade durante todo o ano como, por exemplo, mulheres que, tendo uma atividade econômica, mantinham, também, suas atividades domésticas, ou de jovens [...]. Sob a definição de ocupação habitual, tais pessoas seriam incluídas na PEA, desde que elas tivessem exercido uma atividade econômica durante a maior parte do ano anterior ao dia do censo. O fato de alguém ter trabalhado em uma atividade econômica, independente de sua duração, o qualifica como membro da PEA, exceto no caso dos membros de família não remunerados que teriam que trabalhar no mínimo 15 horas semanais. [...] Sob a definição de atividade principal, tais indivíduos teriam que definir o que seria a sua atividade principal. Tal decisão pode ter sido afetada, por exemplo, pela situação do entrevistado no momento da pesquisa ou por sua percepção do status de uma dada atividade; [...] (1984, p. 31).
Mas nem por isso se resolvem os problemas relativos à subenumeração que, neste caso, virão menos do escopo do conceito de PEA que de erros de enumeração ligados a representações, do entrevistador e do entrevistado, com respeito ao trabalho, seu reconhecimento e, logo, o modo de sua classificação.
Paiva (1984)PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66. nos provê com um exemplo com o qual finalizaremos. Ele é eloquente por ter tido lugar na antessala do movimento de inflexão registrado na primeira seção deste trabalho. Conquanto os censos de 1940 e 1950 mantenham o mesmo modo de identificar a atividade considerada pelos indivíduos como relevante (a “atividade principal”), é notável a variação existente na enumeração da PEA feminina no censo demográfico, expressa notadamente na queda das mulheres ocupadas, uma queda que se concentra no ramo da agricultura, pecuária e silvicultura. Tal como medido no censo demográfico, as mulheres economicamente ativas no setor primário passam de 1.270.199, em 1940, para meras 732.900, em 1950. Visto com a lente do censo agropecuário, se a queda existiu, ela foi muito menor que aquela registrada pelo censo demográfico.
O debate que atravessa a literatura especializada, e informa as várias alternativas de “correção”, aponta para uma multiplicidade de fatores que, afetando o modo de perguntar, têm efeitos no resultado contabilizado e, em consequência, na narrativa sobre a mercantilização do trabalho feminino. Assim, parte deste efeito foi creditado a uma alteração no conceito de estabelecimento agrícola que, a partir de 1960, passaria a incluir também as explorações que se destinavam apenas ao consumo doméstico; parte resultaria do modo como foram computados os que desempenhavam ocupações não diretamente ligadas a atividades agropecuárias, embora atuando neste setor de atividade; outros arguiram que parte da diferença poderia ter resultado do modo como se tratou o trabalho doméstico não remunerado nos diferentes censos nestes anos.
Com todas essas alternativas em mente, o exemplo nos serve para ilustrar a multiplicidade de fatores que poderia ser aventada para dar sentido a variações registradas na contabilidade do trabalho feminino. Diante delas, uma indagação se faz imperiosa: o quanto da notável inflexão que documentamos no Gráfico 1, com que abrimos este texto, se deve ao efetivo ingresso das mulheres na atividade produtiva, e que parcela resulta da mera visibilização de um trabalho que, dada a métrica antes usada, era mantido na penumbra da inatividade econômica? Por isso mesmo, e a titulo de provocação de encerramento, reproduzimos, no Gráfico 7, as mesmas curvas flagradas no Gráfico 1 com uma única novidade: agregamos, agora, dois outros anos censitários, 1950 e 1940. O recuo no tempo, longe de evidenciar uma tendência ainda menor ao engajamento feminino, mostra, em 1940, uma taxa de participação das mulheres igual àquela que tínhamos constatado em 1970. Tudo isso nos anima ao salutar exercício da cautela e nos obriga a matizar a hipótese de uma notável inflexão na incorporação de mulheres ao mercado de trabalho no Brasil, inoculando o gérmen (de alto valor heurístico) da atenção aos modos de construção social das medidas e de representação simbólica dos processos estruturais.
Conclusão
Nos últimos cinquenta anos, o mercado de trabalho consolidou-se, no Brasil, como o espaço em que os indivíduos estão premidos a buscar sua sobrevivência. Este processo implica ampliação da oferta efetiva de trabalho, isto é, peso crescente da população economicamente ativa (ocupados e desempregados) no conjunto dos indivíduos em idade ativa. A esfera do mercado de trabalho, que nos anos de 1960 retinha apenas quatro em cada dez brasileiros, passou, nos anos de 2010, a ser um espaço imperioso para produção da sobrevivência entre quase sete a cada dez brasileiros em idade ativa. Mais que isso, tal esfera, antes um domínio masculino, alterou de maneira substancial sua composição por sexo, com interfaces importantes com outros processos, como a notável redução da fecundidade e a significativa ampliação da escolaridade feminina. Os dados indicam que as propensões entre grupos de sexo não apenas eram distintas, como também variavam de modo diverso no curso do tempo. A evolução dos diferenciais por grupos de sexo mostra que as probabilidades de recurso ao mercado de trabalho entre as mulheres é muito diferente ao longo dos anos. Mesmo não atingindo os mesmos níveis de participação dos homens em 2010, é notável o crescimento nas suas chances de participação.
Este intenso movimento de mercantilização pautou a agenda dos intérpretes, notadamente da literatura sociológica que explorou as especificidades do mercado brasileiro de trabalho. Mas, sem dúvida, coube ao campo dos estudos de gênero afiar os instrumentos para deslindar aspectos cruciais a um movimento que, como procuramos indicar na primeira seção, parece declinar-se fortemente no feminino. Sua importância e desafios transparecem ainda, e disso procuramos tratar na ultima seção, no modo como as próprias categorias censitárias voltadas a computar a atividade econômica e aqueles a ela dedicados foram sendo esculpidas ao longo do tempo. Isso nos levou a finalizar o texto matizando o nosso próprio ponto de partida. As inflexões que registramos na nossa análise precisam ser temperadas com uma outra pitada de sal de natureza sociológica: elas são também a expressão de mudanças no modo de contar a atividade feminina, refletindo o nosso ir-e-vir no movimento por estabelecer critérios para classificar o trabalho – e o trabalho feminino – em uma sociedade patriarcal submetida a intensas mudanças associadas ao crescimento urbano e à escolarização (das mulheres em especial) com seus correlatos (na fecundidade e na atividade econômica).
BIBLIOGRAFIA
- ABREU, A.; JORGE, A. & SORJ, B. (1994), “Desigualdade de gênero e raça: o informal no Brasil em 1990”. Revista Estudos Feministas, número especial: 153-178, 2. semestre.
- BILAC, E. D. (1978), Famílias de trabalhadores: estratégias de sobrevivência: a organização da vida familiar em uma cidade paulista São Paulo, Edições Símbolo.
- BILAC, E. D. (1983), Família e trabalho feminino: a ideologia e as práticas familiares de um grupo de “trabalhadores manuais” de uma cidade do interior paulista São Paulo, tese de doutorado, FFLCH-USP.
- BILAC, E. D. (2014), “Trabalho e família: articulações possíveis”. Tempo Social, 26 (1): 129-145
- BLINDER, A. S. (1973), “Wage discrimination: reduced form and structural variables”. Journal of Human Resources, 8: 436-455.
- BRUSCHINI, C. (1998), “Gênero e trabalho feminino no Brasil: novas conquistas ou persistência da discriminação? Brasil, 1985 a 1995”. Comunicação apresentada no seminário “Trabalho e gênero: mudanças, persistências e desafios”, Abep/Nepo, Campinas, 14-15 abr.
- BRUSCHINI, C. (1998A), “Trabalho das mulheres no Brasil: continuidades e mudanças no período 1985-1995”. Textos FCC, n. 17, São Paulo, Fundação Carlos Chagas.
- BRUSCHINI, C. & LOMBARDI, M. R. (2000), “Trabalho feminino no Brasil no final do século: ocupações tradicionais e novas conquistas”. Comunicação apresentada no seminário “Organização, trabalho e gênero”, Campinas, Unicamp, 30 nov.- 1 dez.
- CARDOSO, A. M. (2000), Trabalhar, verbo transitivo: destinos profissionais dos deserdados da indústria automobilística Rio de Janeiro, FGV.
- CARDOSO, A. M. (2010), A construção da sociedade do trabalho no Brasil: sociabilidade capitalista, padrões de justiça e persistência das desigualdades Rio de Janeiro, FGV, 2010.
- CIPOLLONE, A; PATACCHINI, E. & VALLANTI, G. (2012), “Women labor market performance in Europe: trends and shaping factors”. Disponível em http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf, consultado em jul. 2013.
» http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf - COSTA, D. (2000), “From mill town to board room: the rise of women’s paid labor”. Journal of Economic Perspectives, 14 (4): 101-122.
- DE BARBIERI, T. (1984), Mujeres y vida cotidiana Cidade do México, Fondo de Cultura Económica.
- DE BARBIERI, T. & OLIVEIRA, O. de. (1987), “Reproducción de la fuerza de trabajo en América Latina: algunas hipótesis”, in M. Schteingart, Las ciudades latinoamericanas en la crisis: problemas y desafio, Cidade do México, Trillas, pp. 9-29.
- DEDECCA, C. & MONTAGNER, P. (1987), Flexibilidade produtiva e das relações de trabalho: considerações sobre o caso brasileiro Campinas, Instituto de Economia da Unicamp, 1993 (Textos para discussão, n. 29).
- DEDECCA, C.; MONTAGNER, P. & BRANDÃO, S. (1993), Recessão e reestruturação econômica: as novas condições de funcionamento do mercado de trabalho na década de 90 Campinas, Instituto de Economia da Unicamp.
- DURHAM, E. (1973), A caminho da cidade: a vida rural e a emigração para São Paulo. São Paulo, Perspectiva.
- ERICKSON, K. (1979), Sindicalismo no processo político do Brasil. São Paulo, Brasiliense.
- ESPING-ANDERSEN, G. (1990), The three worlds of welfare capitalism. Princeton, Princeton University Press.
- FAIRLIE, R. W. (1999), “The absence of the African-American owned business: an analysis of the dynamics of self-employment”. Journal of Labor Economics, 17: 80-108.
- FAIRLIE, R. W. (2005), “An extension of the Blinder-Oaxaca decomposition technique to logit and probit models. Journal of Economic and Social Measurement, 30: 305-316.
- FAUSTO NETO, A. M. Q. (1982), Família operária e reprodução da força de trabalho Rio de Janeiro, Vozes.
- GALVEZ, T. & TODARO, R. (1986), Trabajo doméstico remunerado: conceptos, hechos, datos Santiago, CEM.
- GARCÍA, B. & OLIVEIRA, O. (1994), Trabajo femenino y vida familiar en México Cidade do México, El Colegio de México.
- GARCÍA, B.; MUÑOZ, H. & OLIVEIRA, O. de. (1984), “La familia obrera y la reproducción de la fuerza de trabajo en la Ciudad de México”, in P. Gonzáles Casanova et al., El obrero mexicano Cidade do México, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de México (Uanm)/Siglo XXI, pp. 9-42.
- GOMES, A. C. (1979), Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-1937. Rio de Janeiro, Campus.
- GOMES, A. C. (1988), A invenção do trabalhismo Rio de Janeiro, Vértice.
- GUIMARÃES, N. A. (2004), Caminhos cruzados: estratégias de empresas e trajetórias de trabalhadores. São Paulo, Editora 34.
- GUIMARÃES, N. A. (2011), “O que muda quando se expande o assalariamento (e em que o debate da sociologia pode nos ajudar a compreendê-lo)?”. Dados, 54: 97-130.
- GUIMARÃES, N. A. ; BARONE, L. S. & ALVES de BRITO, M. M. (2015), “Mercado e mercantilização do trabalho no Brasil (1960-2010)”, in M. Arretche (org.), Trajetórias da desigualdade: quanto o Brasil mudou nos últimos 50 anos, São Paulo, Edunesp, pp. 399-421.
- GUIMARÃES, N. A. & HIRATA. H. (2014), “Apresentação: controvérsias desafiadoras”. Tempo Social, 26 (1): 9-16.
- HIRATA, H. & HUMPHREY, J. (1989), “Trabalhadores desempregados: trajetórias de operárias e operários industriais no Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 11 (4): 71-84.
- KUZNETS, K. (1966), Modern economic growth: rates, structure and spread New Haven, Yale University Press.
- LAVINAS, L. (1997), “Emprego feminino: o que há de novo e o que se repete”. Dados, 40 (1): 41-67.
- LAVINAS, L. (1998), “Evolução do desemprego feminino nas áreas metropolitanas”. Rio de Janeiro, documento não publicado.
- LAVINAS, L. (1998A), “Diferenciais de rendimentos entre homens e mulheres nas áreas metropolitanas”, Rio de Janeiro, documento não publicado.
- LOPES, J. R. B. (1964), Sociedade industrial no Brasil São Paulo, Difusão Europeia do Livro.
- LOPES, J. R. B. (1967), A crise do Brasil arcaico São Paulo, Difusão Europeia do Livro.
- MACHADO DA SILVA, L. A. (1971), Mercados metropolitanos de trabalho manual e marginalidade Rio de Janeiro, dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Antropologia do Museu Nacional.
- MARUANI, M. & MERON, M. (2012), Un siècle de travail des femmes en France Paris, La Découverte.
- OAXACA, R. (1973), “Male-female wage differentials in urban labor markets”. International Economics Review, 14 (3): 693-709.
- OLIVEIRA, M. C. F. A. (1988), Mercantilização e urbanização em São Paulo. Campinas, Nepo, 1988.
- OLIVEIRA, O. & SALLES, V. (1991), “Reprodução social e reprodução da força de trabalho: reflexões teóricas para o estudo do tema”. Caderno CRH, 4 (14): 7-30, jan.-jun.
- OLIVEIRA, O.; LEHALLEUR, M.; SALLES, V. (orgs.). (1989), Grupos domésticos y reproducción cotidiana Cidade do México, El Colegio de México/Porrúa.
- PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66.
- PIZA, E. & ROSEMBERG, F. (1998-1999), “A cor nos censos brasileiros”. Revista USP, 40: 122-137, dez.-fev.
- RODRIGUES, L. M. (1970), Industrialização e atitudes operárias São Paulo, Brasiliense.
- SANTOS, W. G. (1979), Cidadania e justiça Rio de Janeiro, Campus.
- SOUZA-LOBO, E. ([1991] 2011), A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência São Paulo, Fundação Perseu Abramo.
- VIANNA, L. W. (1978), Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
Notas
-
1
O argumento e as evidências que apresentamos nesta primeira seção foram originalmente preparados e receberam mais extenso tratamento estatístico em Guimarães, Barone e Alves de Brito (2015)GUIMARÃES, N. A. ; BARONE, L. S. & ALVES de BRITO, M. M. (2015), “Mercado e mercantilização do trabalho no Brasil (1960-2010)”, in M. Arretche (org.), Trajetórias da desigualdade: quanto o Brasil mudou nos últimos 50 anos, São Paulo, Edunesp, pp. 399-421.. Agradecemos à equipe de suporte metodológico do Centro de Estudos da Metrópole, coordenada por Rogério Barbosa, que nos poupou o longo e complexo trabalho de preparar as bases de dados censitários de maneira a assegurar as condições de comparabilidade entre as variáveis aqui utilizadas.
-
2
Uma observação à margem, mas que nos parece instigante: indagar-se sobre o processo de mercantilização do trabalho como um movimento de expressão recente deixa entrever quão complexa é a história do encontro entre compradores e vendedores em um mercado de trabalho como o do Brasil. Vale dizer, entre nós, (i) mesmo estando os trabalhadores formal e universalmente livres para se ofertarem no mercado desde o final do século XIX; (ii) mesmo estando consolidadas as regras de regulação da relação assalariada com a legislação trabalhista outorgada na primeira metade do século XX; e (iii) mesmo estando a dinâmica econômica organizada em bases mercantis capitalistas e crescentemente globalizada a partir da segunda metade do XX, a propensão dos trabalhadores a buscarem sua sobrevivência no mercado de trabalho não responde a qualquer automatismo jurídico ou econômico. Ao contrário, tal movimento reflete como uma construção normativa – do trabalho e dos direitos (quem trabalha, quando trabalha, sob que formas trabalha) – é socialmente assimilada e reconfigura, gradualmente, a operação deste mercado.
-
3
Para detalhes nas tendências, ver Costa (2000)COSTA, D. (2000), “From mill town to board room: the rise of women’s paid labor”. Journal of Economic Perspectives, 14 (4): 101-122. e Cipollone, Patacchini e Vallanti (2012)CIPOLLONE, A; PATACCHINI, E. & VALLANTI, G. (2012), “Women labor market performance in Europe: trends and shaping factors”. Disponível em http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf, consultado em jul. 2013.
http://www.neujobs.eu/sites/default/file... . -
4
Entre 1960 e 2010, a coleta do quesito cor nos censos brasileiros esteve sujeita a mudanças, entre as quais a mais importante foi a suspensão da investigação da condição racial no censo de 1970. Entretanto, outras igualmente relevantes tiveram lugar. Em 1960, somente àqueles que vivessem em aldeias caberia o registro da condição de “índio”; outros indígenas e caboclos eram classificados como “pardos”, tanto em 1960 como em 1980. Apenas em 1991 foi introduzida a categoria “indígena” e, assim, estabilizou-se a classificação oficial que perdura até hoje e que distingue os indivíduos em “pretos”, “pardos”, “amarelos” e “indígenas”. Nova alteração ocorreu em 1991, quando se deixou de indagar sobre a “cor” e se passou a pedir que o entrevistado indicasse a sua “cor ou raça”. Por fim, enquanto em 1940 cabia ao entrevistador “qualificar o recenseado”, indicando se sua cor seria “preta, branca ou amarela” ou marcando com um traço quando não lhe fosse possível discernir (do que resultava a contabilidade do grupo de “pardos”), a partir de 1950 o entrevistador passou a registrar os que assim “se declararam”; todavia, ainda no Censo de 1991 ocorria, como mostram Piza e Rosemberg (1998-1999PIZA, E. & ROSEMBERG, F. (1998-1999), “A cor nos censos brasileiros”. Revista USP, 40: 122-137, dez.-fev., p. 129), “a atribuição de cor pelo coletor do IBGE, quando os dados fenotípicos lhe pare[cessem] suficientemente ‘objetivos’”, o que denota as armadilhas postas pela etiqueta das relações raciais no Brasil.
-
5
De modo a contornar problemas de comparabilidade diante das importantes mudanças verificadas na coleta do quesito cor entre 1960 e 2010 (ver nota anterior), reduzimos a classificação a apenas dois grandes grupos, os “brancos” e os “não brancos”. Por outro lado, sendo preponderante, entre esses últimos, o peso dos afrodescendentes (“pretos” e “pardos”) vis-à-vis os “amarelos” e “indígenas”, o grupo dos “não brancos” será doravante referido como “negros”.
-
6
Um aspecto interessante: a propensão à mercantilização é também mais consistente entre os que detêm maior capital escolar. Aqueles que realizaram as transições escolares mais elevadas (entraram ou completaram o ensino superior) apresentam altas taxas de participação combinadas com elevada presença de empregados e empregadores, a díade típica de um mercado capitalista de trabalho. Já entre os analfabetos, o autoemprego e o trabalho não remunerado exercido para membros da família ombreiam com o assalariamento até o fim dos anos de 1990.
-
7
Foi utilizada uma versão da decomposição de Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973OAXACA, R. (1973), “Male-female wage differentials in urban labor markets”. International Economics Review, 14 (3): 693-709.; Blinder, 1973BLINDER, A. S. (1973), “Wage discrimination: reduced form and structural variables”. Journal of Human Resources, 8: 436-455.) para modelos não lineares, seguindo Fairlie (1999FAIRLIE, R. W. (1999), “The absence of the African-American owned business: an analysis of the dynamics of self-employment”. Journal of Labor Economics, 17: 80-108., 2005FAIRLIE, R. W. (2005), “An extension of the Blinder-Oaxaca decomposition technique to logit and probit models. Journal of Economic and Social Measurement, 30: 305-316.). A rigor, essa decomposição foi concebida para modelos lineares de regressão nos quais a variável explicada é contínua, como renda. Entretanto, como nos interessava a propensão de um indivíduo a se engajar no mercado de trabalho, foi preciso utilizar métodos não lineares de estimação, daí o recurso à adaptação de Fairlie. A variável dependente do modelo é binária, sendo 1 para os indivíduos que compõem a população economicamente ativa (PEA), independentemente se na condição de ocupados ou desocupados, e 0 para os demais indivíduos, que não pertencem à PEA, mas que são considerados socialmente aptos por sua idade (entre 15 e 65 anos).
-
8
Como queríamos explicar as chances diferenciais de engajamento entre grupos de sexo e raça, e, nesse sentido, elas viriam a ser utilizadas como critérios para definição dos grupos no exercício contrafactual, o modelo básico estimado não incluiu as variáveis sexo e raça.
-
9
O exercício com os grupos de sexo e raça não é passível de realização para os dados censitários de 1970, já que neste ano, como vimos antes, o questionário do censo não incluiu a pergunta sobre cor. Para a execução da decomposição de Oaxaca-Blinder é essencial que os modelos para todos os grupos e anos contenham as mesmas variáveis.
-
10
Observe-se, entretanto, que, mesmo no exercício contrafactual, algumas diferenças persistem. Sobretudo a partir de 1991, os grupos de indivíduos não brancos, homens ou mulheres, têm propensão levemente inferior aos grupos de brancos. Essas diferenças podem ser atribuídas a desigualdades nas características médias dos indivíduos pertencentes a cada um dos grupos raciais.
-
11
Ela se restringirá a alguns dos intérpretes relevantes para uma sociologia do mercado brasileiro de trabalho. Sem desvalorizar a contribuição da economia do trabalho, e mesmo dos estudos demográficos que focalizaram a dinâmica da força de trabalho, cujos resultados, de resto, transparecerão no curso dessa seção, nosso alvo será interpelar a nossa própria disciplina, a sociologia, em busca do seu modo de interpretar um processo que nos é analiticamente caro, o da constituição do trabalho como uma mercadoria, sujeita a regras e modos de circulação, que faz os indivíduos serem confrontados a (antigas e novas) desigualdades que se expressam tanto no engajamento mercantil, como nos retornos resultantes da venda da sua capacidade de trabalho.
-
12
O modo como definimos esse recorte, por certo, tem custos. Ele deixa de lado, por exemplo, o debate suscitado por uma vasta literatura sociológica e historiográfica sobre o significado e o conteúdo da legislação que regula o mercado de trabalho produzida no período Vargas, em que se destacam Gomes (1979GOMES, A. C. (1979), Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-1937. Rio de Janeiro, Campus. e 1988), Santos (1979)SANTOS, W. G. (1979), Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus., Vianna (1978)VIANNA, L. W. (1978), Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra., Erickson (1979)ERICKSON, K. (1979), Sindicalismo no processo político do Brasil. São Paulo, Brasiliense., entre outros. Sem contar a reflexão sobre a mercantilização das relações sociais e de troca no Brasil do fim do século XIX, cuidadosamente organizada em Oliveira (1988)OLIVEIRA, M. C. F. A. (1988), Mercantilização e urbanização em São Paulo. Campinas, Nepo, 1988..
-
13
Como reconheceu Santos (1979)SANTOS, W. G. (1979), Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus., cunhando a noção de “cidadania regulada”, significativamente fraseada, de início, como “cidadania ocupacional”.
-
14
Cardoso (2010CARDOSO, A. M. (2010), A construção da sociedade do trabalho no Brasil: sociabilidade capitalista, padrões de justiça e persistência das desigualdades. Rio de Janeiro, FGV, 2010., pp. 229-230) observou o movimento de três variáveis para o período entre 1940 e 1976: a população economicamente ativa (PEA) urbana; o número de carteiras de trabalho emitidas; e o número de contribuintes para a previdência no Brasil. Ele mostrou que, nesse período, foram emitidas 150% mais carteiras que o crescimento da PEA e 230% mais que a expansão de beneficiários da previdência. Em que pese caiba algum cuidado na comparação dessas taxas de crescimento (visto que o estoque dos trabalhadores com carteira era muito baixo no ponto de partida), a crescente busca da carteira sinaliza a crença na possibilidade de incorporação ao mercado formal de trabalho. Embora instituída desde 1932 e tornada obrigatória dois anos depois, é significativo que a primeira grande inflexão no crescimento da emissão de carteiras somente tenha ocorrido a partir dos anos de 1950-1960 (Idem, p. 230), o que sinaliza um momento de inflexão na propensão ao engajamento no mercado.
-
15
Não sem razão, e como veremos em mais detalhe na terceira seção, também eram tênues os limites que circunscreviam a categoria “população economicamente ativa”, tal como era traduzida operacionalmente na métrica censitária de então.
-
16
Duas outras pistas também sinalizam a instalação do engajamento mercantil compulsório. Por um lado, do debate sobre a mensuração do desemprego, que galvanizou sociólogos e economistas nos anos de 1980 e 1990, resultou uma nova métrica nas estatísticas oficiais da PME/IBGE em 2002; por outro, a mobilização sindical em torno dessa disputa pela mensuração mostrou-se tão intensa que a medida alternativa para o desemprego – a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) – foi uma iniciativa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese); mais ainda: tal medida foi experimentada justamente na maior região metropolitana, São Paulo, em 1984, apenas dois anos depois que um movimento de desempregados quase derrubara as grades do Palácio do primeiro governo estadual de oposição eleito na ditadura militar, em meio à profunda crise econômica e à notável contração de oportunidades de trabalho.
-
17
Isso foi documentado por ampla e rica literatura produzida pela sociologia brasileira, nos anos de 1980, sobre as condições de reprodução da classe trabalhadora e o papel da sociabilidade privada, familiar ou comunitária. Ver Bilac (1978)BILAC, E. D. (1978), Famílias de trabalhadores: estratégias de sobrevivência: a organização da vida familiar em uma cidade paulista. São Paulo, Edições Símbolo. e Fausto Neto (1982)FAUSTO NETO, A. M. Q. (1982), Família operária e reprodução da força de trabalho. Rio de Janeiro, Vozes..
-
18
O desemprego oculto era a modalidade que mais crescia nas metrópoles, tão logo começou-se a medir o fenômeno, em meados dos anos de 1980 (Dedecca, Montagner e Brandão, 1993DEDECCA, C.; MONTAGNER, P. & BRANDÃO, S. (1993), Recessão e reestruturação econômica: as novas condições de funcionamento do mercado de trabalho na década de 90. Campinas, Instituto de Economia da Unicamp.; Dedecca e Montagner, 1993).
-
19
Aqui radica outra particularidade do caso brasileiro. Enquanto o mainstream acadêmico examinava em escala internacional a desmercantilização do trabalho, um correlato dos regimes de bem-estar social erigidos sob o fordismo, entre nós, os “anos gloriosos” da expansão do fordismo (entre 1950 e 1970) se fizeram livres dessas contrapartidas sociais. No Brasil, tal expansão ocorreu sem a universalização da norma do assalariamento duradouro, assentando-se num sistema de proteção restrito na cobertura e avaro nos benefícios, que deixava às instâncias da sociabilidade privada tanto o ônus de prover as condições para enfrentar o desemprego, quanto a responsabilidade de sustentar e orientar a procura de trabalho.
-
20
Para um desenvolvimento desse argumento, ver Guimarães (2011)GUIMARÃES, N. A. (2011), “O que muda quando se expande o assalariamento (e em que o debate da sociologia pode nos ajudar a compreendê-lo)?”. Dados, 54: 97-130..
-
21
Novamente estruturaremos o argumento selecionando algumas autoras entre uma vasta produção analítica; elas serão aqui tomadas como exemplos de um movimento interpretativo mais amplo.
-
22
Tal problema de contagem da PEA cria dificuldades importantes para a comparação entre os dados censitários anteriores a 1960 e os posteriores (Paiva, 1984PAIVA, P. T. A. (1984), “A conceituação e a enumeração da população economicamente ativa nos censos demográficos brasileiros”, in Abep, Censos, consensos, contra-sensos, Ouro Preto, Abep, p. 19-66.).
-
23
No âmbito das ciências sociais latino-americanas (seguindo pista de Guimarães e Hirata, 2014GUIMARÃES, N. A. & HIRATA. H. (2014), “Apresentação: controvérsias desafiadoras”. Tempo Social, 26 (1): 9-16.), e para ampliar um pouco mais o espectro e ressaltar a novidade da provocação de Mortara, foi somente vinte anos depois, em fins dos anos de 1970, que o debate sobre a natureza do trabalho doméstico viria a repercutir entre nossas estudiosas do gênero (De Barbieri, 1984DE BARBIERI, T. (1984), Mujeres y vida cotidiana. Cidade do México, Fondo de Cultura Económica.; García, Muñoz e Oliveira, 1984GARCÍA, B.; MUÑOZ, H. & OLIVEIRA, O. de. (1984), “La familia obrera y la reproducción de la fuerza de trabajo en la Ciudad de México”, in P. Gonzáles Casanova et al., El obrero mexicano. Cidade do México, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de México (Uanm)/Siglo XXI, pp. 9-42.; Galvez e Todaro, 1986GALVEZ, T. & TODARO, R. (1986), Trabajo doméstico remunerado: conceptos, hechos, datos. Santiago, CEM.; De Barbieri e Oliveira, 1987DE BARBIERI, T. & OLIVEIRA, O. de. (1987), “Reproducción de la fuerza de trabajo en América Latina: algunas hipótesis”, in M. Schteingart, Las ciudades latinoamericanas en la crisis: problemas y desafio, Cidade do México, Trillas, pp. 9-29.; Oliveira, Lehalleur e Salles, 1989OLIVEIRA, O.; LEHALLEUR, M.; SALLES, V. (orgs.). (1989), Grupos domésticos y reproducción cotidiana. Cidade do México, El Colegio de México/Porrúa.; Oliveira e Salles, 1991OLIVEIRA, O. & SALLES, V. (1991), “Reprodução social e reprodução da força de trabalho: reflexões teóricas para o estudo do tema”. Caderno CRH, 4 (14): 7-30, jan.-jun.; García e Oliveira, 1994GARCÍA, B. & OLIVEIRA, O. (1994), Trabajo femenino y vida familiar en México. Cidade do México, El Colegio de México.); mesmo momento em que ecoou no Brasil (Bilac, 1983BILAC, E. D. (1983), Família e trabalho feminino: a ideologia e as práticas familiares de um grupo de “trabalhadores manuais” de uma cidade do interior paulista. São Paulo, tese de doutorado, FFLCH-USP.; Souza-Lobo, [1991] 2011)SOUZA-LOBO, E. ([1991] 2011), A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. São Paulo, Fundação Perseu Abramo., sob o impacto da modernização conservadora promovida pela ditadura militar, como posteriormente arguiria Bilac (2014)BILAC, E. D. (2014), “Trabalho e família: articulações possíveis”. Tempo Social, 26 (1): 129-145.
-
*
Este texto foi preparado para a mesa-redonda “Mercado de trabalho e desigualdades de gênero: medidas e resultados”, seminário internacional “Trabalho, cuidado e políticas sociais: Brasil-França em debate” (Universidade de São Paulo, 26 de agosto de 2014). Os autores agradecem o suporte do Centro de Estudos da Metrópole (Cebrap), através do projeto Cepid/CEM (processo n. 2013/07616-7, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp) e do projeto INCT/CEM (Processo 2008/57843-1, CNPq-MCT/Programa INCT). Agradecem, igualmente, a Ticiana Labate pelo apoio no levantamento bibliográfico sobre os estudos feministas que referimos na parte 2 e pela sistematização da documentação referente às mudanças nas categorias censitárias, tratadas na parte 3. As sugestões dos pareceristas anônimos, aos quais também agradecemos, contribuíram para aumentar a clareza e precisão dos argumentos aqui apresentados.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Fev 2016
Histórico
-
Recebido
24 Nov 2014 -
Aceito
25 Ago 2015
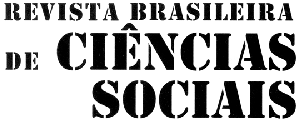

 Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do Centro de Estudos da Metrópole – CEM).
Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do Centro de Estudos da Metrópole – CEM).
 Fonte: Ilostat, Labour Force. Dados consultados em www.ilo.org.
Fonte: Ilostat, Labour Force. Dados consultados em www.ilo.org.
 * A ausência do quesito “cor” para o Censo de 1970 impediu a inclusão deste ano.Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
* A ausência do quesito “cor” para o Censo de 1970 impediu a inclusão deste ano.Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
 Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
 Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
Fonte: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM).
 Fonte: IBGE, Censo Demográfico1980 a 2010 (tabulações especiais do CEM).
Fonte: IBGE, Censo Demográfico1980 a 2010 (tabulações especiais do CEM).
 Fontes: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM e em Paiva [1984]).
Fontes: IBGE, Base de Dados: Censo Demográfico 1960-2010 (tabulações especiais produzidas pela equipe do CEM e em Paiva [1984]).