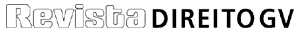Resumo
Trata-se de uma investigação por amostragem não probabilística do tipo intencional pura, abarcando elementos de teoria do direito, direito civil e direito constitucional e os estudos concernentes ao ensino jurídico. O objetivo inicial é desenvolver a conexão entre o “modelo de parecer”, tal qual pensado por Marcos Nobre, e a argumentação por autoridade, pensada por José Rodrigo Rodriguez, explicitando a dimensão “opinativa” existente na dinâmica argumentativa utilizada por uma parte não desprezível da dogmática jurídica brasileira. Feito o desenvolvimento, será possível investigar como o viés “opinativo” de parte da produção acadêmica dedicada ao tema da função social da propriedade – aqui tomada como exemplo –, produz uma visão distorcida do princípio constitucional.
Pesquisa em direito; formalismo; argumento de autoridade; função social da propriedade; ensino jurídico
Abstract
This is a non-probabilistic random sample investigation of the pure intentional type, encompassing elements of law theory, civil and constitutional law, and studies concerning legal education. The initial objective is to develop the connection between the “opinion model,” as conceived by Marcos Nobre, and the argument for authority thought by José Rodrigo Rodriguez, explaining the “opinionative dimension” in the argumentative dynamics used by a not inconsiderable part of Brazilian legal dogmatics. Once the development is done, it will be possible to investigate how the “opinionated” bias of part of the academic production dedicated to the theme of the social function of property – here taken as an example – produces a distorted view of the constitutional principle.
Research in law; formalism; argument of authority; social function of property; legal education
Introdução
Segundo o filósofo Marcos Nobre, o parecer – instrumento por meio do qual um jurista de renome pretende convencer o juiz a decidir de forma alinhada aos interesses do cliente que o contratou – não é reconhecido no Brasil como uma peça de conteúdo estratégico. Por isso, é falsamente interpretado como produto de uma investigação acadêmica, o que gera consequências nefastas para a pesquisa e o ensino do direito. Segundo Nobre (2003, p. 150) “[...] no caso brasileiro, a confusão entre prática jurídica, teoria jurídica e ensino do direito é total”. Tal confusão, segundo o autor, decorre do fato de que a lógica que orienta a elaboração do parecer disseminou-se como a forma-padrão de argumentação no âmbito da produção jurídica nacional, prejudicando o aperfeiçoamento da pesquisa em direito no País e justificando o seu atraso, se comparado ao desenvolvimento apresentado por outras áreas das Ciências Humanas.
Tomando como correto o diagnóstico apontado por Nobre, é de se supor que tal confusão seja consequência da adoção de um padrão argumentativo comum às três esferas de atuação listadas – prática, teoria e ensino. Que padrão comum é esse? O que está por trás da “lógica do parecer”?
José Rodrigo Rodriguez traz algumas pistas. Na pesquisa desenvolvida em seu livro Como decidem as cortes? (2013), o autor considera que a argumentação por autoridade é um traço marcante do modo como são tomadas as decisões no âmbito dos tribunais brasileiros, mas procura ressaltar que
[a] crítica do texto de Nobre atinge mais diretamente a doutrina brasileira, ao modo de operar dos professores, que pretendem se diferenciar dos juízes por falarem em nome de supostas “verdades” do direito. Minha preocupação é identificar as operações mentais, os raciocínios que subjazem a lógica do parecer. (RODRIGUEZ, 2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 72).
Trata-se, portanto, de análises complementares, que apontam para aspectos importantes do trabalho de identificação do modo como parte expressiva da comunidade jurídica brasileira argumenta.
A partir dessas colocações, o presente artigo tem o objetivo de promover uma aproximação maior entre a tese de Nobre (2003)NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. Novos Estudos. CEBRAP, São Paulo, v. 66, p. 145-154, 2003. e a de Rodriguez (2013)RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., desenvolvendo-as na direção das relações entre o modelo de parecer e a argumentação por autoridade, especificamente no âmbito do modo como o direito é ensinado. Parte-se do princípio de que a lógica que subjaz ao modelo de parecer é a mesma que dá corpo à argumentação por autoridade, eis que a razão de ser do parecer é o reconhecimento da autoridade do seu autor. Como a autoridade também pode ser visualizada na argumentação desenvolvida em certo tipo de produção acadêmica e de ensino do direito, os “modos de falar” do juiz, o do parecerista e o de parte relevante dos professores (especialmente das disciplinas dogmáticas) seriam muito semelhantes entre si.
Segundo a análise de Rodriguez (2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 81-82), a argumentação por autoridade desenvolvida nos tribunais é frequentemente inadequada, pois deixa de levar em conta posicionamentos contrários de autoridades equivalentes à utilizada como base da sentença. Isso confere ao exercício da jurisdição um caráter “opinativo”: simplesmente se escolhe uma autoridade entre tantas, sem o compromisso de exprimir as razões da opção, que parece óbvia.
Para o ensino do direito, o uso do argumento de autoridade compromete a racionalidade do que é ensinado, bem como o próprio potencial compreensivo da investigação jurídica, pois permite a tomada de posição não substancialmente justificada na direção do pensamento de um ou outro autor. Como consequência, quando a pesquisa jurídica adquire um caráter “opinativo”, ela fica reduzida a um catálogo de “opiniões” que podem ser aleatoriamente utilizadas de acordo com o contexto.
Para embasar essa hipótese, inicialmente será feita uma busca pela identificação dos traços necessários e suficientes para a caracterização da racionalidade que preside o “modelo de parecer”, e como esta racionalização se conecta com a argumentação por autoridade.
Em um segundo momento, será realizada uma contraposição entre essas características destacadas e o modo como os autores desenvolvem suas argumentações no âmbito dos manuais jurídicos, principalmente os de Direito Civil, dedicados à apresentação de temas como posse, propriedade e função social da propriedade. A análise da narrativa empregada nos livros de Direito Civil justifica-se porque esta é uma disciplina historicamente marcada pelos princípios da Escola de Exegese e sua relação formalista com o Código Civil. Dentro desse universo, os direitos reais representam um campo promissor para o estudo dos prejuízos decorrentes da adoção da argumentação por autoridade como modelo de apresentação da disciplina, pois a centralidade que o direito de propriedade assume em sociedades marcadas pela economia de mercado confere ao estudo do tema uma inegável vocação interdisciplinar que acaba recalcada, o que é ainda mais visível quando se trata da função social da propriedade.
Segundo a leitura de Rodriguez (2013)RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., a argumentação por autoridade prescinde da contraposição crítica aos argumentos nos quais o raciocínio da autoridade funda-se. Nesses termos, sendo assumido como correto, esse tipo de argumentação, ao ser adotado por professores e autores dos manuais jurídicos, pode ser perigoso, porque não ficam claras as razões da opção por uma ou outra posição pelos autores. Como resultado, o conhecimento gerado nessas bases reflete uma visão parcial e deformada do seu campo de investigação. Tomando como exemplo a função social da propriedade: esse “descolamento” faz com que mesmo uma leitura pretensamente progressista assuma, paradoxalmente, um caráter conservador. Isso ocorre pois a distorção da realidade, operada por esse tipo de argumentação, pode ser um fator complicador da eficácia das lutas sociais pela modificação da estrutura fundiária brasileira que tenham essa leitura como base. Ao pleitearem a efetivação de uma “função social”, com base em uma particular interpretação do conceito que não se efetiva, os movimentos sociais se veem diminuídos em sua capacidade de transformação da realidade.
1 Parecer é advocacia
Quando o parecerista faz o seu trabalho, ele está estruturando taticamente um determinado raciocínio com o objetivo definido desde o início: obter um efeito peculiar, que se configura em uma decisão judicial em conformidade com aquilo que deseja o cliente que contratou os seus serviços. O jurista vai arregimentar todo o arsenal dogmático e jurisprudencial disponível para alcançar a decisão almejada, não simplesmente “pesquisar” uma questão problemática. Ele não tem obviamente o compromisso de explicitar o escrutínio de sua tese frente à de outros investigadores e certamente vai procurar esconder os eventuais pontos fracos de sua teoria, tudo com a intenção de produzir uma fórmula aparentemente sólida para a decisão que interessa ao seu cliente. Seu objetivo não é compreender determinado tema, mas convencer o juiz a sentenciar de certo modo. A investigação, portanto, é desde o início dirigida para fazer crer que o ponto de vista ali defendido é a melhor resposta a ser dada no caso concreto, mas de forma que pareça ser a simples descrição da solução desde sempre prevista no ordenamento.
Apesar dessas características, o parecer não é encarado por professores e estudantes como uma peça de advocacia. Tanto é assim que os pareceres dos grandes nomes do direito são frequentemente publicados e estudados como dogmática (DI PIETRO, 2015; BARBOSA, 2017BARBOSA, Joaquim. Pareceres Jurídicos – Direito Penal – Direito Regulatório – Direito Tributário – Responsabilidade Civil. São Paulo: Almedina, 2017.; TEPEDINO, 2011TEPEDINO, Gustavo. Soluções práticas de direito – Pareceres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.; AZEVEDO, 2009AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009.; MELLO, 2011MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Pareceres de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011.). Se esse tipo de trabalho fosse compreendido apenas como uma estratégia de defesa comprometida e elaborada para um caso específico – e, nesse sentido, não replicável em outras situações –, não faria sentido estudar os pareceres de um autor, porque eles não serviriam para casos futuros, da mesma forma que ninguém tem a ilusão de poder conhecer o que é o direito estudando as petições de um advogado. Mas, como ressalta um dos maiores pareceristas do Brasil, Nelson Nery Jr., “[...] o parecer é o filé mignon da advocacia” (NERY JR., 2013). Ou seja: parecer é advocacia, e é elaborado para a defesa de um interesse específico.
Uma das possíveis razões da confusão é o fato de que o parecerista não é o advogado do caso, de modo que o caráter interessado de sua participação fica esmaecido. Cria-se uma situação na qual a solução defendida no parecer ganha ares de uma consulta sobre um tema problemático, analisado abstratamente, como se não houvesse o compromisso de influenciar a obtenção de um resultado a favor do seu cliente.
Por exemplo: uma coisa é pesquisar a possibilidade de uma posse injusta gerar a aquisição da propriedade pela usucapião ordinária; outra coisa, porém, é ser orientado1 a defender que a posse injusta não é um óbice à aquisição da propriedade pela usucapião ordinária. No primeiro caso, o pesquisador vai testar hipóteses: ler os autores que defendem e os que criticam essa possibilidade, investigar os argumentos de cada um e contrapor as visões; analisar dados empíricos sobre temas pertinentes, como investimentos em regularização fundiária; os entraves existentes nesse processo; os interesses políticos envolvidos na manutenção de moradias irregulares; os dados sociológicos acerca dos conflitos fundiários; os argumentos jurisprudenciais utilizados para defender e afastar a possibilidade de usucapião ordinária a partir de uma posse injusta. Ao final, escreve-se um artigo ou livro no qual esses elementos tenham sido contrapostos e examinados, gerando uma reflexão cujo produto é decorrente de investigação ampla.
O parecerista não age da mesma maneira: ele vai construir um raciocínio dirigido à obtenção de um resultado. Não é uma investigação sobre um tema, é a defesa de um ponto de vista, construída com base em uma elaboração teórica que visa dar aparência de que aquela leitura é apenas a descrição desinteressada da melhor solução jurídica disponível. Dois elementos destacam-se na formulação de um parecer: o primeiro é o seu caráter estratégico, visível no fato de que a articulação entre os dados e teses utilizados para a confecção do parecer está marcada pelo objetivo de convencimento da pertinência daquele ponto de vista. O parecerista não tem a opção de concluir seu raciocínio de modo contrário aos interesses do cliente que o contratou, ainda que as razões para isso sejam fortes. Obviamente, ele pode desistir do caso, mas o acordo não inclui a possibilidade de produzir uma peça na direção oposta à que foi encomendada.
O segundo elemento é o fato de que o parecer não tem o compromisso de explicitar o diálogo com visões contrárias à que é defendida em seu interior, o que reduz o seu potencial crítico e compreensivo. Não há dúvida de que os posicionamentos opostos à tese que tem de ser construída serão levados em conta pelo parecerista na elaboração de sua estratégia, pois sem isso a sua leitura seria facilmente vencida no tribunal. Porém, o modo pelo qual o parecerista lida com tais concepções é instrumental: elas são obstáculos a serem vencidos, não são hipóteses de trabalho.
Quando essa “lógica do parecer” apresenta-se nas obras por meio das quais se pretende ensinar o direito, os argumentos das diversas autoridades no assunto investigado aparecem frequentemente desarticulados – pois o leitor não tem acesso ao caminho pelo qual o autor da “tese minoritária” chegou àquela conclusão – o que torna todas as “teses” disponíveis sobre uma determinada questão problemática passíveis de serem encaradas como igualmente cabíveis e pertinentes. Essa é a dimensão “opinativa” da dogmática jurídica.
2 O parecer só tem sentido em um ambiente tomado pela argumentação por autoridade
O parecer só pode desempenhar seu papel em função da posição de quem o emite. Isso significa que a estratégia de convencimento só pode ser bem-sucedida se a relevância da pessoa do parecerista for um fator de peso na decisão do magistrado. Isso remete à argumentação por autoridade, pois trata-se de uma interpretação que, “vindo de quem vem”, gera uma pressão no julgador para que prolate determinada decisão. É por esse caminho que será possível desenvolver as conexões entre as teses de Nobre (2003)NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. Novos Estudos. CEBRAP, São Paulo, v. 66, p. 145-154, 2003. e de Rodriguez (2013)RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013..
Em primeiro lugar, a confusão entre ensino, pesquisa e advocacia só pode ser compreendida como fruto de uma falta de clareza de parte da comunidade jurídica nacional acerca do que seja uma pesquisa jurídica genuína. Não é tarefa fácil visualizar – especialmente nas disciplinas dogmáticas – para que serve uma dogmática jurídica que não tenha a função de dizer como o juiz deve julgar.
Em segundo lugar, o modelo de parecer só é capaz de “intoxicar” parte do pensamento acadêmico no Brasil porque existem professores e/ou autores, sobretudo de obras jurídicas de disciplinas dogmáticas, que compartilham desse mesmo código, permitindo que o parecer tenha operatividade no âmbito do processo judicial. Esse código – é o que aqui se supõe – é a argumentação por autoridade.
Só é possível aplicar o modelo de parecer na pesquisa jurídica porque parte dos que deveriam fazer pesquisa enxergam o fazer acadêmico sob a mesma óptica que o parecerista: assumindo-se como autoridades cujo trabalho deve ser direcionado a fazer valer determinada interpretação perante seus leitores/alunos. É esse compartilhamento do argumento de autoridade como parâmetro da investigação jurídica que “puxa” o modelo de parecer para “dentro” da produção acadêmica. As “supostas verdades” faladas pelos professores, bem como pelos doutrinadores por eles evocados, só são levadas em consideração em virtude da autoridade da qual emanam, do mesmo modo que o conteúdo do parecer só gera pressão sobre o magistrado em função da proeminência da figura do parecerista.
Uma das possíveis razões desse fenômeno é o próprio perfil dos autores: em sua grande maioria, os escritores das obras das disciplinas dogmáticas são operadores do direito. Isso pode explicar o motivo pelo qual estruturam seus trabalhos utilizando a mesma lógica por meio da qual se produz um parecer: aglutinando elementos estrategicamente ordenados, com o intuito de fazer valer uma dada concepção acerca da melhor forma de solucionar uma questão problemática. A eficácia desse projeto é totalmente dependente da autoridade do seu autor, do mesmo modo que a capacidade atrativa do parecer é subordinada à importância do parecerista. E aqui vai um argumento de autoridade: segundo um dos mais bem-sucedidos pareceristas do Brasil, novamente, Nelson Nery Jr., a principal diferença entre o parecer e outros modos de consulta em um processo (como é o caso da opinião legal), é “[...] o peso do nome de quem vai assinar” (NERY JR., 2013). Se o nome do autor precisa ser “de peso” é porque a análise do conteúdo vai ficar na dependência disso, ou seja, como indicado, o parecer só funciona em ambientes dominados pela argumentação por autoridade, pois
[...] uma argumentação que não se fundamente principalmente em argumentos de autoridade deve apresentar-se com convincente por si só, independentemente da pessoa que a proferiu ou de qualquer outra autoridade ou pessoa que, eventualmente, concorde com determinado modo de pensar. (RODRIGUEZ, 2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 77).
É claro que o juiz pode proceder ao enfrentamento crítico do parecer ante os diversos fatores que ele, como julgador, venha a considerar relevantes. Nessa linha, o magistrado faria a sistematização que idealmente caberia a uma pesquisa jurídica não “intoxicada”. Mas não é assim que acontece, e Rodriguez mostra bem como a argumentação por autoridade tem uma presença marcante no processo de formação da decisão judicial (2013, p. 84-102) no Brasil. Mas por que razão o modelo de argumentação por autoridade é prejudicial ao ensino e a pesquisa em direito?
3 Modelo de parecer, argumentação por autoridade e o déficit de racionalidade da dogmática jurídica
De forma bastante resumida, argumentar por autoridade significa utilizar a simples referência a determinada pessoa/norma como justificativa suficiente para a defesa do entendimento que se quer ver confirmado. Nos itens anteriores, foi demonstrado que para exercer uma pressão sobre o juiz, a fim de que ele decida do modo desejado pelo cliente que contratou o parecerista, é preciso que o parecer seja emitido por alguém cujo nome tenha relevância. Esse raciocínio foi embasado em declarações de pessoa proeminente da advocacia nacional, ou seja, de uma autoridade no ramo de elaboração de pareceres. Não se discutiu o porquê da escolha de Nery Jr., e não de outros pareceristas igualmente bem-sucedidos, tampouco as razões que estabelecem a relevância de um autor – seria o número de livros vendidos, a quantidade de orientandos em posição de destaque atualmente em suas carreiras, a quantidade de citações nas decisões judiciais? –, ou mesmo contexto no qual o jurista fez a declaração referida. A afirmação inicial tem como sua única base o prestígio da pessoa que emitiu a citação destacada, e o pressuposto é de que o leitor destas linhas compartilhe da visão de que Nery Jr. é um nome de “peso” no direito.
Isso é argumentar por autoridade: não se deixa exposto o raciocínio que levou o emissor do argumento a defender aquela interpretação e não outra qualquer, mas se pressupõe que o receptor da mensagem, compartilhando do entendimento de que o emissor fundou seu raciocínio em uma autoridade que ele também reconhece, admita a pertinência da escolha, concordando com a posição adotada. Quais são as características desse processo que podem ser perniciosas para o estudo do direito?
Especialmente no âmbito nas obras de disciplinas dogmáticas, é comum a conexão entre argumentação por autoridade e uma vertente conservadora do formalismo.2 Isso ocorre quando o recurso à autoridade é empregado como justificativa de recusa à análise das boas razões que dão corpo aos pontos de vista ou soluções de autoridades contrárias ao defendido por aquela que foi utilizada como parâmetro. Por exemplo, não se fez referência ao fato de que existem diversos pareceristas que podem pensar de maneira diferente de Nery Jr. a respeito do mesmo ponto.
Em tais condições, o recurso à autoridade tem o objetivo de “entrincheirar” determinado raciocínio ou solução oferecidos pela autoridade utilizada,3 seja com fundamento na lei, em um princípio jurídico, em uma prestigiada obra jurídica ou na tese de um parecerista. Aquele que argumenta por autoridade considera desnecessário explicitar as razões que o levaram àquele resultado concreto. Como consequência, esse tipo de argumentação naturaliza uma determinada visão. Qual é o problema em argumentar desse jeito?
É certo que a argumentação por autoridade oferece certa proteção a quem a utiliza, pois a subjetividade da decisão acaba dissolvida no “peso” da autoridade utilizada como fundamento. Mas, ao mesmo tempo, o uso inadequado dessa forma de argumentar, notadamente no âmbito do ensino jurídico, gera um perigoso déficit de racionalidade: se existem duas autoridades que dizem coisas diferentes sobre o mesmo ponto, a escolha de uma, sem a explicitação das razões pelas quais se rechaça a outra, transforma o argumento em uma falácia (ATIENZA, 2013ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica. Madrid: Editorial Trotta, 2013., p. 413).
Nesse sentido, tanto o formalismo de viés conservador como o emprego falacioso da argumentação por autoridade são criticáveis no ensino do direito, não por propriamente negarem a pluralidade de pontos de vista admissíveis no âmbito de uma questão controversa, mas, especialmente, por negarem a explicitação das razões da escolha de um caminho e não de outro. A falta de uma investigação acerca da pertinência da escolha diante das alternativas disponíveis impede a sistematização do pensamento e a articulação do raciocínio, de modo a comprometer a consistência do resultado. Por essa via também surge uma “dogmática opinativa”, nos mesmos moldes que Rodriguez (2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 81-82) imputa à dinâmica da decisão judicial.4
Na França de 1804, essa falta de explicitação da razão pela qual o juiz colocava-se como “boca da lei” era considerada óbvia, por conta de um motivo real: o racionalismo jurídico do período anterior à codificação havia finalmente conseguido obter forma concreta, e a pretensa clareza das soluções normativas bastava para que se observasse a lei de modo estrito, pois a “letra da lei” ainda não era “fria”, eis que havia uma adesão esclarecida ao seu conteúdo (NINO, 2010NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. Tradução de Elza Maria Gasparotto; revisão técnica de Denise Matos Marino. São Paulo: Martins Fontes, 2010., p. 379-385).
No âmbito do ensino do direito, essa adesão precisa ser explicada, e a sua recusa confere um caráter arbitrário ao posicionamento doutrinário. Se não é possível conhecer as razões que levaram o juiz/intérprete a “escolher” uma entre várias soluções, o resultado parece mesmo fruto de uma espécie de “loteria forense”, na qual o que prevalece parece ser a sorte.
Com o objetivo de fundamentar o “peso” do nome de Nery Jr., os responsáveis pela entrevista anteriormente mencionada ressaltam que o autor já foi citado em mais de 2 mil acórdãos do STJ e mais de cem no STF (NERY JR., 2013). O parecerista chega a falar de maneira detalhada sobre alguns casos nos quais seus pareceres modificaram o entendimento dos tribunais.
Essas informações mostram que os juízes utilizam os pareceres de Nery Jr. como uma justificativa para a sua tomada de posição, ou seja, eles frequentemente o consideram a autoridade capaz de definir os rumos do caso, e a quantidade de vezes nas quais ele é citado indica a eficácia dos seus trabalhos, emitidos justamente com esse objetivo: determinar o conteúdo da decisão. Por aí se vê a relação entre a lógica que preside o parecer e aquela que dá corpo à argumentação por autoridade. O juiz decide “conforme o exposto por Nery Jr. em seu parecer” e considera que a menção a tal nome é suficiente para garantir a racionalidade da sua escolha.
É importante ressaltar que a decisão do juiz, porém, não pode ser vista como criação arbitrária de direito, e justamente por isso a referência à autoridade também é uma via para obtenção de legitimidade. Pela mesma razão, o parecer não pode ser reconhecido em seu caráter estratégico e, ainda que o seja, tem a pretensão de ser identificado como a melhor versão do direito oficial em vigor no momento da decisão. O parecerista, como o doutrinador, cria o direito como se o estivesse descrevendo.5 Daí se vê que juízes, pareceristas e parte da comunidade de doutrinadores estão todos decidindo, escolhendo soluções e interpretações – e nesse sentido, criando o direito – como se estivessem apenas apresentando aquilo que sempre esteve pronto e à disposição no material previamente legislado.
Seria interessante refletir sobre os motivos pelos quais um jurista passa a ser um nome de “peso”, apto a emitir pareceres eficazes e valiosos. Da mesma forma, parece importante raciocinar sobre por que a maioria esmagadora dos autores dos manuais de Direito Civil é composta de juízes, procuradores, advogados, defensores, etc., ou seja, por que a disciplina é apresentada quase que exclusivamente por “operadores do direito”. É possível especular uma resposta histórica, relativa à formação dos cursos jurídicos no Brasil e ao perfil dos professores que, na origem, cuidaram das disciplinas dogmáticas.
Mas, é razoável considerar que dentro de uma dinâmica na qual prevalece o argumento de autoridade, o jurista adquire proeminência não em função da profundidade do seu trabalho acadêmico – muitos sequer são doutores, tampouco lecionam em universidades –, mas por conta do seu sucesso como operador do direito, seja advogado, juiz, promotor etc., conforme o número de casos vencidos, quantidade de teses que conseguiu ver reproduzida nas sentenças, no baixo índice de sentenças revertidas pelos tribunais etc. Nesse sentido, o professor-autor-pesquisador, notadamente das disciplinas dogmáticas, retira sua autoridade do ofício que desempenha fora da academia, e é aí que sua autoridade adquire um caráter falacioso.
O termo “autoridade” é ambíguo. Um juiz é uma “autoridade administrativa” no sentido de que tem “[...] uma espécie de direito a exercer comando sobre os outros ou a estabelecer regras através de uma posição reconhecida ou um cargo de poder” (WALTON, 2012WALTON, Douglas N. Lógica informal. Tradução de Ana Lúcia Franco e Carlos Salum. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012., p. 244). Em uma outra acepção, uma pessoa pode ser reconhecida como “autoridade cognitiva” (ou epistêmica) “[...] no que se refere à especialidade ou perícia num domínio do conhecimento ou da técnica, o que pode ser muito diferente da autoridade administrativa” (WALTON, 2012WALTON, Douglas N. Lógica informal. Tradução de Ana Lúcia Franco e Carlos Salum. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012., p. 244). Quando alguém passa a ter o seu nome apontado como uma autoridade epistêmica em decorrência do seu sucesso como juiz, as duas dimensões acabam embaralhadas e a argumentação passa a ser falaciosa.
Daí juntam-se as peças do quebra-cabeça: a argumentação por autoridade permite ao juiz decidir sem submeter o argumento utilizado como base da decisão ao teste de universalização necessário à garantia de sua consistência. Isso por conta do “peso” da autoridade da qual ele é extraído. No âmbito do fazer judicial, esse tipo de uso da argumentação por autoridade não é necessariamente ruim pois, muitas vezes, é apenas do respeito à autoridade da lei que se necessita (RAZ, 2009RAZ, Joseph. The authority of law. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.; SCHAUER, 1992SCHAUER, Frederick. The questions of authority. The Georgetown Law Journal, v. 81, n. 95, p. 95-115, 1992.). Mas, quando se trata do fazer acadêmico, principalmente no âmbito das obras cuja missão é apresentar o direito aos estudantes de graduação, o uso da autoridade representa o oposto do diálogo necessário à devida apreensão da complexidade do fenômeno jurídico.
Tendo em vista seu poder de realizar a escolha que define o que é o direito em cada caso, surge uma competição entre as “autoridades” em torno do convencimento do juiz, para se fazer presente no conteúdo da sentença. Aquele que tem mais sucesso nessa disputa pela persuasão do magistrado para decidir pelo modo que lhe convém adquire prestígio entre seus pares como a figura que “revela melhor” o direito aplicável a cada caso concreto, como aquele que tem mais conhecimento sobre o direito vigente. Isso só ocorre porque o processo de reconstrução do direito realizado pela doutrina e pelos julgadores se dá de forma velada, sempre como se fosse apenas descrição da solução apresentada desde o início pela lei. Eis o elo que vai gerar a confusão entre a argumentação por autoridade e a pesquisa jurídica.
Exatamente por isso, da mesma forma que o parecer disputa a adesão do juiz para se ver reproduzido na sentença, os trabalhos acadêmicos em grande medida adquirem um tom imperativo, no qual os autores parecem frequentemente “conversar” com um juiz imaginário que, ao lê-los, passaria a decidir de forma correta. Quando esse tom é utilizado nos manuais, tem-se a impressão de que o objetivo não é propriamente apresentar determinada área em sua complexidade real, mas convencer alunos e leitores da pertinência de determinada interpretação, talvez para que, no futuro, nos seus postos de operadores do direito, esses ex-alunos possam concretizar as teses ventiladas pelos autores em seus livros. Volta e meia isso acontece, como quando um juiz decide o caso citando o seu professor na faculdade, e uma tese sai dos bancos da universidade para adentrar o tribunal. Mas, é esse o papel dos professores e autores de direito? Treinar os alunos e leitores para a futura reprodução dos seus pontos de vista?
O que torna a assimilação do modelo de parecer pela pesquisa acadêmica um erro é o fato de que o seu caráter estratégico – por meio do qual se arregimenta uma série de teses, decisões e dados no intuito de convencer o juiz a decidir de um certo modo – interdita a disposição para autocrítica do conteúdo desenvolvido. Com isso, perde-se o traço sistemático e articulado que a pesquisa jurídica necessariamente precisa apresentar para garantir a sua consistência (NINO, 2010NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. Tradução de Elza Maria Gasparotto; revisão técnica de Denise Matos Marino. São Paulo: Martins Fontes, 2010., p. 398-408; KELSEN, 1999KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999., p. 251).
Se sob o aspecto interno o parecer não explicita a consideração das razões contrárias, externamente ele compete com outros materiais que o juiz tem à disposição para decidir. Como no âmbito do ensino do direito o caráter falacioso da argumentação por autoridade está na possibilidade de prescindir do embate teórico perante uma pluralidade de soluções abstratamente cabíveis e igualmente autorizadas, o intérprete (seja o juiz ou o aluno leitor de um manual) simplesmente escolhe uma das respostas possíveis, da mesma forma como o parecerista (ou autor de um manual de uma disciplina dogmática) define cirurgicamente os argumentos que formarão o puzzle necessário à defesa do interesse que ele quer ver concretizado. Nos dois casos, não há uma sistematização capaz de garantir a consistência da escolha ou decisão, de modo que torne compreensível a racionalidade que sustenta o resultado.
Como indicado, a absorção da lógica da argumentação por autoridade pela academia só é possível em função de um desconhecimento acerca daquilo que seria o trabalho da dogmática jurídica em sua feição ideal. Qual seria o traço distintivo dessa dogmática? Mesmo sem adentrar a profundidade desse debate, cabe aqui a menção ao pensamento de Carlos Santiago Nino, para quem a dogmática jurídica deveria ser capaz de mostrar:
[...] as diversas alternativas que os juízes têm diante de si para resolver as eventuais contradições da ordem jurídica, preencher suas possíveis lacunas. Limitar a textura aberta das normas e decidir entre seus diversos significados, no caso de se apresentarem ambiguidades. Fundamentalmente, os juristas também deveriam encarar a tarefa de mostrar as consequências de natureza social, econômica, etc., que se deduzem de cada uma das possíveis alternativas interpretativas, para o que deveria dispor de recursos teóricos fornecidos por diferentes ciências sociais, como a sociologia, a psicologia, a economia, etc. (NINO, 2010NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. Tradução de Elza Maria Gasparotto; revisão técnica de Denise Matos Marino. São Paulo: Martins Fontes, 2010., p. 404).
Trata-se de uma preparação de alto grau de complexidade e bem distante do senso comum sobre a formação jurídica no Brasil. Mas, seus traços distintivos são a sistematização e a amplitude do foco a partir do qual a investigação desenvolve-se.
A argumentação por autoridade não pode ser considerada pesquisa jurídica porque lhe falta a contraposição crítica, a articulação e a contextualização necessárias à produção de conhecimento efetivo sobre o tema investigado. Quando aplicada ao ensino jurídico, o prejuízo materializa-se na naturalização do caráter opinativo existente na argumentação que abre mão de levar em conta as razões pelas quais as autoridades discordam sobre um mesmo tema controverso, o que põe em xeque a racionalidade daquilo que está sendo passado como sendo o direito.
A seguir, serão dados exemplos de como essa forma-padrão de argumentação está presente no ensino dos direitos reais e as consequências disso para a compreensão da função social da propriedade. O objetivo será também demonstrar como o formalismo – tomando como base a definição de Rodriguez (2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 135) – pode servir como uma trava à discussão de questões novas e importantes sobre o tema da função social da posse; como a naturalização de uma visão pretensamente progressista sobre a função social da propriedade produz um conhecimento que, descolado da realidade empírica, adquire uma conotação conservadora na medida em que gera uma falsa pauta sobre o problema.
4 O Código Civil como norte e como limite na discussão sobre a posse
O emprego da argumentação por autoridade no âmbito do ensino do direito pode levar à naturalização de uma interpretação sobre o direito posto e de conceitos historicamente formulados. Desde logo, essa naturalização fica exposta nos manuais de direitos reais, em razão do modo como tais obras estão organizadas. De forma praticamente unânime, os autores seguem fielmente a mesma ordem de apresentação dos temas definida no Código Civil. O fato de os escritores organizarem suas obras replicando a composição da lei poderia a princípio significar que, sim, essa é a melhor ordem de encaminhamento dos assuntos e a estrutura do Código Civil simplesmente se harmoniza com aquilo que a comunidade dos investigadores da disciplina entende que seja o modo mais adequado de lidar com esses temas. Mas não é assim que acontece.
Quando se tem em mente as relações entre posse e propriedade, é preciso reconhecer que, apesar do esforço de parte dos estudiosos em marcar a autonomia da primeira em relação à segunda, é unânime na doutrina nacional – como de resto define explicitamente o artigo 1.196 do Código Civil – que o possuidor é “aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade”. Ou seja, a posse tem a sua existência aferida com base naquele que seria o comportamento do proprietário. Apesar de autônomos, os institutos estão intimamente relacionados, e a compreensão do que seja a posse é virtualmente dependente daquilo que se entende que seja o comportamento típico do proprietário. Se isso é assim, como pode ser didaticamente justificável estudar o fenômeno possessório antes do estudo da propriedade?6 Como é possível compreender que o possuidor tem de fato os poderes característicos da propriedade, sem estudar a propriedade?
A repetição contínua da ordem definida na lei, em prejuízo do melhor encaminhamento didático dos temas, corresponde à uma postura que torna invisível o fato de que tal reprodução é fruto de uma escolha, ou seja, ela não é “natural”. O objetivo da lei não é definir a melhor forma de estudar a disciplina. Isso quem faz, ou deve fazer, é a doutrina. Mas, ao abdicar dessa função, ela está demonstrando sua adesão incondicional ao texto elaborado pelo “legislador racional”, mas não em consequência de uma concordância esclarecida quanto ao conteúdo da lei, e sim em razão de um dogma a respeito do seu irrestrito acatamento.
É possível que se considere isso tudo um exagero e que na verdade se esteja enxergando um problema onde não há nada. Mas não é bem assim. A naturalização do arranjo estrutural por meio do qual se estudam os direitos reais pode funcionar, na prática, como um mecanismo de seleção e bloqueio daquilo que pode ou não ser investigado, do que é ou não importante na disciplina, uma vez que esteja ou não previsto no Código Civil.
O exemplo da função social da posse é eloquente. Trata-se de um tema de grande relevância em um país como o Brasil, onde o acesso à titularidade de bens, principalmente imóveis, habita o campo do sonho de grande parte da população. Nesse contexto, alguns estudiosos do Direito Civil têm defendido a tese de que a função social da posse deve ser reconhecida como um caminho por meio do qual seria possível garantir a legitimidade (leia-se: a justiça) do apossamento que, por uma leitura estrita da lei, seria “ilegal”, eis que não autorizado. Considerando-se que em diversas ocasiões o apossamento não autorizado é a única via de acesso a direitos fundamentais sociais historicamente negligenciados, como é o caso da moradia e também do trabalho, a posse que materializaria tais direitos deveria ser considerada uma posse justa. Mas não há nenhuma referência explícita à função social da posse no Código Civil, tampouco na Constituição. Qual é a consequência disso?
Como a dinâmica do estudo e da transmissão do conhecimento é, em certo sentido, formalista, em um universo de 28 livros7 atualizados de direitos reais, apenas em cinco manuais8 (cerca de 17,5%) o tema é objeto de alguma reflexão. Em contrapartida, não há nenhuma obra que deixe de tratar do tema da “anticrese”, um tipo de garantia real que tem previsão legal, mas é socialmente irrelevante na atualidade. E, se “o que não está no Código, não está no mundo”, é porque a dogmática em sua grande maioria continua a enxergar e restringir o fenômeno jurídico ao material codificado. Com isso, uma sala de aula do Brasil em 2017 aproxima-se estranhamente de uma época na qual Jean-Joseph Bugnet dizia, orgulhoso, que não ensinava o Direito Civil, mas o Código de Napoleão. É da atualidade da Escola de Exegese que se trata, portanto (CHIASSONI, 2005CHIASSONI, Pierluigi. L’utopia della ragione analítica – origini, oggetti e metodi della filosofia del diritto positivo. Torino: Giappichelli, 2005., p. 338-341).
A discussão acerca da função social da posse é apenas um de vários exemplos que poderiam ser dados sobre como a naturalização de certa leitura pode simplesmente interditar a compreensão adequada do direito enquanto fenômeno socialmente vivo e necessariamente dinâmico. Se as obras que se colocam a missão de apresentar o direito aos estudantes não refletem essa complexidade, elas acabam se tornando ferramentas de conservação de uma ordem social em grande medida inexistente, ou cuja existência interessa a uma parcela muito específica da população. Por tal motivo é que, na interpretação de Rodriguez (2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 134), o formalismo “[...] pode resultar na defesa da exclusão de novas demandas dirigidas ao ordenamento jurídico e na defesa do controle tecnocrático sobre o devir do direito”.
Outros traços fundamentais para compreensão dos prejuízos da argumentação por autoridade como forma-padrão de argumentação no direito são a falta de uma articulação entre as leituras disponíveis sobre um mesmo tema e a consequente inconsistência decorrente da sua não sistematização. Como esse tipo de argumentação está calcado no prestígio do emissor do argumento, a análise crítica de uma tese pode ser encarada como uma ofensa pessoal, ferindo suscetibilidades acadêmicas. O efeito é conhecido: uma variedade de argumentos desconexos e antitéticos postos lado a lado, mas sem conversar entre si, cabendo ao juiz, ao leitor, ou ao aluno “escolher” o que lhe parece mais correto.
Como essa lógica orienta a produção acadêmica, são frequentes os trabalhos nos quais os autores enfileiram uma série de “posições” sobre o assunto em estudo, sem contrapô-las criticamente. O leitor tem à disposição um “cardápio” de opiniões que podem ser utilizadas estrategicamente em cada auditório específico: a tese seguida pelo professor para passar na prova na faculdade; a posição adotada pela banca do concurso público; a opinião majoritariamente presente na jurisprudência do tribunal no qual advoga. O jurista, autor, não se vê constrangido a submeter sua elaboração à prova, pois em grande medida falta um ambiente que efetivamente a examine de um ponto de vista crítico.
Do mesmo modo, uma tese só se sobrepõe à outra quantitativamente, daí a importância da identificação da interpretação “majoritária” na doutrina e na jurisprudência. O reconhecimento da racionalidade do argumento decorre do número de pessoas que interpretou naquela mesma direção, e não do conteúdo da própria leitura oferecida. A arbitrariedade da escolha fica escamoteada no conforto da “maioria”. A pesquisa jurídica acaba em grande medida reduzida a um repositório caótico de opiniões que calculadamente possam ser utilizadas de acordo com cada circunstância.
5 O caráter opinativo da dogmática da função social da propriedade
O caráter opinativo da dogmática intoxicada pela autoridade padroniza um discurso jurídico no qual os autores acostumam-se a simplesmente relatar uma profusão de definições de forma inarticulada, como se a conexão entre elas fosse óbvia e, portanto, não precisasse de esclarecimento. O trecho a seguir pode ilustrar o problema:
Para José Diniz de Moraes, “função social é a satisfação de uma necessidade [...] por meio de um poder jurídico atribuído a uma pessoa, física ou jurídica, pública ou privada”. [...] Para Carlos Ari Sundfeld “função social é conceito que se opõe ao de autonomia da vontade”. [...] Além dessas posições, alguns autores, decompõem a expressão função social da propriedade para tentar explicá-la, outros fazem uma relação com a noção de propriedade ou de princípio constitucional. Há, ainda, quem considere impossível fazer uma conceituação definitiva [...]. Oliveira Ascensão observa que os direitos reais – incluindo o de propriedade – são outorgados para a realização da pessoa que os deve exercer em benefício social. Todas essas manifestações, apesar de insuficientes, colaboram para o árduo dever de definir o conteúdo da função social da propriedade. O que não se pode admitir, no entanto, é que a função social da propriedade continue sendo caracterizada como uma limitação do direito de propriedade ou, ainda, que a norma que a reconhece não seja dotada de qualquer efetividade. Carlos Frederico Marés sustenta, inclusive, que no Brasil pós-1988 a propriedade que não cumpre sua função social está desprotegida ou “simplesmente propriedade não é”. Marcos Alcino de Azevedo Torres registra que a característica do direito de propriedade que mais foi afetada pelo princípio da função social é tratar-se de direito absoluto, tanto no sentido da oponibilidade erga omnes quanto na ideia de sua utilização ampla, irrestrita e ilimitada. (GAMA, 2011GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011., p. 232).
A passagem é longa, mas muito significativa. Em primeiro lugar, como indicado, a falta de articulação entre as teses é visível. A indicação de que alguns autores decompõem o conceito para melhor explicá-lo, ao passo que “outros fazem uma relação com a noção de propriedade ou de princípio constitucional” não contribui para a melhor compreensão do problema. O caminho da decomposição do conceito se opõe ao da sua conexão com a noção de propriedade ou de princípio constitucional? Com base no que alguns autores entendem que não é possível fazer uma conceituação definitiva? Eles têm razão no que dizem?
Aqui se vê que os trechos destacados exibem pontos problemáticos que podem comprometer a sua utilização conjunta, ou pelo menos, demandar uma investigação mais detalhada de seus termos. Mas o autor, ao contrário, resume sua proposta considerando que “todas essas manifestações”, conjuntamente, “colaboram para o árduo dever de definir o conteúdo da função social da propriedade”. Em que medida?
Ao considerar que todas as manifestações podem colaborar da mesma maneira para a compreensão do tema, Gama dá a entender que estão todas no mesmo patamar de importância e consistência teórica, de modo que basta “escolher” uma dessas vias, pois todas igualmente servem para compreender o assunto de forma adequada. É possível “optar” por Carlos Ari Sundfeld, José Diniz de Moraes ou por Oliveira Ascensão. Todos eles tratam de aspectos igualmente corretos e relevantes, de modo que, dependendo do auditório, qualquer uma dessas teses pode ser utilizada como solução de um conflito, a depender da maior ou menor adesão a uma ou outra proposta.9
Ressalta-se que o trecho, como um parecer, não faz referência a nenhum posicionamento contrário à leitura que o autor desenvolve sobre a função social. Seu objetivo é demonstrar que o conceito deve ser assimilado do modo como está sendo exposto e não gerar uma reflexão sobre o problema. Ao indicar que o princípio não deve continuar sendo compreendido como “limitação ao direito de propriedade” (pergunta-se: por quê?), ou que a norma que o reconhece não deve continuar sendo carente de efetividade, o autor parece estar emitindo uma ordem. Quem é essa pessoa que “não deve continuar compreendendo o princípio da função social como uma limitação ao direito de propriedade”? A quem se dirige o comando para que o princípio não continue sendo carente de efetividade? Tal qual o parecerista, o autor parece pretender influenciar a decisão judicial.
6 A naturalização conceitual do caráter transformador da função social da propriedade
A argumentação por autoridade tem um ângulo de investigação restrito. Ao deixar de lado o enfrentamento crítico das teses opostas, faz-se um cerco em que só entra aquilo que interessa ao resultado final. A observância reiterada da interpretação defendida pela autoridade (seja da lei, da interpretação doutrinária, da jurisprudência dos tribunais superiores etc.) gera uma naturalização do significado no âmbito da discussão acerca da função social da propriedade e, aqui, ela adquire um caráter ainda mais problemático.
Como indicado, parece inegável que essa reiteração tenha um caráter conservador: ao manter aceso no tempo um determinado entendimento sem a devida investigação crítica de sua pertinência, garante-se a permanência histórica de uma visão que, ao fim e ao cabo, seria incompatível com o tempo presente. Isso acontece mesmo quando a tese naturalizada tem, ou deveria ter, um viés progressista. É o caso da função social da propriedade imóvel, especialmente a rural.
Civilistas e constitucionalistas brasileiros parecem ter firmado posição no sentido de considerar que os termos nos quais a função social da propriedade foi positivada na Constituição de 1988 provocou uma grande “transformação” no direito de propriedade.10 Nessa linha, são frequentes as indicações de que o princípio teria passado a ser parte integrante do próprio direito de propriedade. Como consequência, o direito de propriedade deixaria de existir no caso de desrespeito à função social, pois lhe faltaria uma parte decisiva de sua composição (GRAU, 2003GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). São Paulo: Malheiros, 2003., p. 251-254; TEPEDINO, 2004TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004., p. 310; SILVA, 2012SILVA, José Afonso da. Curso de direto constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012., p. 73; MARÉS, 2003MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003., p. 117; FACHIN, 1998, p. 45; MELO, 2015MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2015. v. V., p. 106; TORRES, 2008TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A posse e a propriedade: um confronto em torno da função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008., p. 236; SCHREIBER, 2013SCHREIBER, Anderson. Função social da propriedade na prática jurisprudencial brasileira. In: SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 243-266., p. 245).
Ainda que a consequência pareça lógica, simplesmente não tem base constitucional. A Constituição de 1988 consagrou o direito à indenização para o caso de desapropriação, cabível na hipótese de descumprimento da função social, o que significa que a Carta considera o direito à propriedade “completo”, mesmo sem o cumprimento da função social. Ou seja, ao contrário daquilo que a doutrina mais progressista entende, a Constituição Federal mostra que a função social da propriedade não é parte integrante do direito de propriedade.
O problema não está no fato de a dogmática afirmar algo que não tem respaldo constitucional. A dogmática poderia muito apropriadamente defender uma interpretação que a Constituição deveria ter positivado, mas não o fez. O problema está no fato de que tal leitura não é, em grande medida, feita como uma crítica à Constituição. Poderiam os autores desenvolver teses sobre como a Carta Constitucional deveria ter transformado o direito de propriedade pela via da função social se a tivesse considerado sua parte integrante, o que demandaria a explicitação de que, apesar da positivação do princípio, a estrutura da propriedade não foi alterada pela Constituição de 1988. Mas, não é isso que acontece.
A tese de que a função social é parte integrante do conceito de propriedade é, de fato, uma defesa de como o tema deveria ser compreendido, mas que é feita como se fosse apenas a descrição daquilo que o texto constitucional objetivamente estabelece. Trata-se de uma prescrição – o que só tem sentido porque aquilo que se prescreve ainda precisa se tornar realidade – desenvolvida como se fosse descrição de uma realidade atual. Esse aspecto, porém, permanece velado, o que dá à narrativa um caráter “tático” que, tal qual um parecer, tem mais o objetivo de convencer o aluno, o juiz e o operador do direito, do que explicar o problema.
7 Em nome de uma função social que não existe
Em um país como o Brasil, é razoável considerar que uma efetiva transformação na composição do direito de propriedade tenha algum reflexo no que tange à estrutura fundiária brasileira, ou seja, que a positivação do princípio da função social da propriedade na Constituição tenha um reflexo na função social concretamente desempenhada pela propriedade. É nesse sentido que se costuma considerar que o cumprimento do princípio da função social da propriedade seria um dos pilares de um rearranjo fundiário no âmbito rural. Nessa linha, são frequentes as relações entre função social e a reforma agrária (GAMA, 2011GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011., p. 229; TORRES, 2008TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A posse e a propriedade: um confronto em torno da função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008., p. 135; MARQUES, 2011, p. 130); “justiça social” (DINIZ, 2011DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Direito das coisas. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4., p. 120; ROCHA, 2010ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Direito civil – Direitos reais. São Paulo: Malheiros, 2010. v. 3., p. 77; BULOS, 2011BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011., p. 597); “redução das desigualdades sociais” (FACHIN, 2015FACHIN, Luiz Edson. Função social da posse sobre bens imóveis: um contributo à reflexão. In: AZEVEDO, Fábio de O.; MELO, Marco Aurélio B. de (Coords.). Direito imobiliário – Escritos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. São Paulo: Atlas, 2015. p. 257-268., p. 267); e “democracia social” (SCHREIBER, 2013SCHREIBER, Anderson. Função social da propriedade na prática jurisprudencial brasileira. In: SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 243-266., p. 247). O problema é que, mais uma vez, nem a Constituição, tampouco os dados empíricos existentes sobre o tema respaldam essa conexão. A função social da propriedade não tem servido para nada disso que a doutrina aponta como sendo sua missão. E o problema pode não ser decorrente apenas de falta de efetividade.
O único ponto em que a Constituição deixa explícito o conteúdo do princípio da função social da propriedade é no artigo 186, quando trata de sua versão rural. Ali, o princípio é considerado cumprido quando são obedecidos simultaneamente os requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (BRASIL, 1988).
A leitura simples do artigo já permite verificar que ele não aparenta ter qualquer pretensão distributiva. Isso significa que o cumprimento do princípio da função social da propriedade não contribui em nada para uma substituição do latifúndio como forma-padrão de estruturação da propriedade no meio rural. Ele não serve para “[...] que um maior número [de pessoas] tenha acesso à propriedade, assegurando-lhe os bens primários mínimos para sobrevivência” (TORRES, 2008TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A posse e a propriedade: um confronto em torno da função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008., p. 135). Nesse sentido, as possíveis injustiças decorrentes da adoção desse modelo não seriam diminuídas. O objetivo do legislador, ao que parece, foi apenas o de combater o não uso das grandes propriedades. O latifúndio continua protegido, apenas se exige um patamar mínimo de produtividade que deve ser observado.11 Da mesma forma, permanece inalterada a matriz econômica brasileira que, desde 1500, está em grande medida ligada à exploração e à produção de commodities para exportação em larga escala: pau-brasil, ouro, café, açúcar, soja, minério etc. O cumprimento da função social da propriedade, tal qual previsto no artigo 186 da Constituição, não tem, portanto, nenhum efeito sobre a efetivação da reforma agrária, ao contrário: reafirma a estrutura latifundiária que se critica. É o desrespeito ao princípio da função social que gera os elementos necessários para a reforma agrária, e não o contrário.
Ao mesmo tempo, os elementos objetivos existentes acerca do tema dificultam ainda mais a manutenção da tese de que o princípio da função social da propriedade teria provocado uma transformação de conotação distributiva da propriedade no Brasil após 1988, alterando concretamente a função social que a propriedade sempre desempenhou no País. Isso porque os dados empíricos mostram que, até 2010, não houve diminuição do número de latifúndios no País, o que joga por terra a ideia de uma transformação concreta motivada pelo princípio.12
Os dados jurisprudenciais também são reveladores. Uma pesquisa realizada no âmbito do TRF1, – o tribunal com o maior número de varas agrárias do País, ou seja, especializadas na resolução de conflitos fundiários rurais – revelou que, em inúmeras ações de reintegração de posse, quando o descumprimento da função social da propriedade é utilizado como argumento de defesa de ocupantes pretensamente “ilegais” ele é veementemente rechaçado pelos magistrados. Mas, quando o princípio é invocado pelo proprietário como justificativa para concessão da reintegração ele é frequentemente utilizado pelos juízes como razão da decisão (DANTAS, 2013DANTAS, Marcus Eduardo de Carvalho. Função social na tutela possessória nos conflitos fundiários. Revista Direito GV [online], v. 9, n. 2, p. 465-488, 2013. Disponível em: http://ref.scielo.org/6zsnz3 . Acesso em: 15 dez. 2014.
http://ref.scielo.org/6zsnz3...
, p. 473-477).
Isso seria apenas contraditório se não fosse, na verdade, revelador do desencontro entre o que a doutrina diz e o que a realidade mostra sobre o tema: a função social da propriedade não apenas não transformou o direito de propriedade, como também tem sido utilizada em defesa dos interesses dos proprietários de terras.
Se a dogmática apresenta uma versão do direito que simplesmente não casa com os dados concretos, ela perde o seu caráter heurístico e transforma-se em ideologia, pois gera uma visão distorcida da realidade, que acaba interditando as mudanças reais. Na prática, trata-se de um expediente moralista e conservador, pois impede a crítica do direito positivo, tal como ele se mostra (DIMOULIS, 2006DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico – Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006., p. 202), o que tem efeitos deletérios na luta política pela efetivação das transformações sociais almejadas.
Frequentemente o desencontro entre o que a doutrina diz que o direito é e aquilo que a realidade empírica mostra é resumido a um problema de efetividade. O discurso da dogmática, como em um parecer, pretende convencer os seus receptores de que a positivação constitucional do princípio da função social realizou uma transformação profunda no direito de propriedade, que até aqui não se materializou apenas porque os operadores do direito ainda não se convenceram plenamente do que deve ser feito. Para concretizar o “projeto constitucional”, basta um ajuste nas táticas de convencimento. Mas, novamente, cabe à dogmática “fazer valer” uma tese frente aos leitores, independentemente de uma investigação sistemática e coerente? Não é isso que faz o parecerista, quando pretende convencer o juiz a decidir da forma que lhe parece a melhor leitura do direito vigente?13
A ideia de que a luta deve ser por “fazer valer” a Constituição também está na fala dos movimentos sociais engajados na busca pela modificação da estrutura fundiária brasileira. Entidades como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),14 o Conselho Indigenista Missionário (CIMI)15 e a Comissão Pastoral da Terra (CPT)16 reproduzem o pensamento hegemônico na doutrina mais progressista e também se empenham em denunciar a ineficácia do projeto constitucional como o grande obstáculo a ser vencido.
Quando se dá ao princípio uma capacidade que ele não tem, nem pretendia ter, o desencontro entre a interpretação naturalizada e a realidade sobre a qual ela pretensamente deveria versar mantém a transformação na promessa. Nesse sentido, o caráter opinativo decorrente da argumentação por autoridade se apresenta contraproducente à causa da democratização do acesso à propriedade, pois adquire um tom moralista que interdita uma pergunta fundamental: e se a Constituição não for suficiente?17 E se ela tiver de ser modificada para que o projeto de democratização efetivamente seja possível? Mas não se faz esse tipo de questionamento.
É sempre possível considerar, porém, que os movimentos sociais estão na verdade lutando por uma nova leitura do princípio da função social, disputando a afirmação de um novo sentido para o qual a Constituição talvez não seja satisfatória. Mas a consideração dessa hipótese, de todo modo, demandaria uma transformação completa no debate doutrinário atual, com a adoção de contribuições da Sociologia, da Economia, das pesquisas empíricas e até da Antropologia. Demandaria, portanto, uma dogmática não formalista da função social da propriedade.
Conclusão
Mesmo os especialistas, hoje, reconhecem que há um problema na adoção da autoridade como forma-padrão de raciocínio jurídico, porque tal uso é frequentemente inadequado ou falacioso. Isso compromete verdadeiramente a racionalidade do material produzido pelos juristas e dá um caráter tático à utilização dessas narrativas. Para o ensino do direito, o cenário é desolador: o estudo passa a ser “treinamento” para a utilização eficaz de teses que, majoritárias ou minoritárias, podem ser utilizadas livremente a depender da ocasião ou da orientação política prevalecente. Com o foco no “convencimento” do interlocutor, cria-se um ambiente no qual a transformação social almejada só não ocorre por falta de uma estratégia argumentativa adequada para gerar a motivação necessária ao cumprimento da norma garantidora de direitos. Resolve-se a eficácia por um discurso que convença da necessidade de respeito à autoridade. Mas, nesse sentido, “If on thinks about law this way, one is inescapably dependent on the very techniques of legal reasoning that are being marshaled in defense of the status quo” (KENNEDY, 1998KENNEDY, Duncan. Legal education as training for hierarchy. In: KAIRYS, David (Ed.) The politics of law. 3. ed. New York: Pantheon, 1998. p. 54-75., p. 62). Ou seja, sem superar um certo tipo de formalismo, mesmo uma dogmática progressista permanece fundada na autoridade, ainda que “com o sinal trocado”.
nota de agradecimento
Agradeço aos professores Carlos Konder (UERJ) e Rachel Herdy (UFRJ) pela inestimável colaboração dada no desenvolvimento do presente artigo.
Referências
- A CONCENTRAÇÃO de terras no país. O Globo, 9 jan. 2015. Infográficos. Disponível em: http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/a-concentracao-de-terras-no-pais.html Acesso em 31 out. 2017.
» http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/a-concentracao-de-terras-no-pais.html - ALFONSIN, Jacques Távora. A legitimidade popular para cobrar função social à propriedade. MST – Movimento dos Sem Terra 13 maio 2015. Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/05/13/a-legitimidade-popular-para-cobrar-funcao-social-a-propriedade.html Acesso em: 30 maio 2015.
» http://www.mst.org.br/2015/05/13/a-legitimidade-popular-para-cobrar-funcao-social-a-propriedade.html - ALMEIDA, Maria Cecília Ladeira de. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011.
- ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica Madrid: Editorial Trotta, 2013.
- AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2014.
- AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado São Paulo: Saraiva, 2009.
- BARBOSA, Joaquim. Pareceres Jurídicos – Direito Penal – Direito Regulatório – Direito Tributário – Responsabilidade Civil. São Paulo: Almedina, 2017.
- BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Manual de direito civil – Direito das coisas e responsabilidade civil. São Paulo: Método, 2007. v. 3.
- BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em: 31 out. 2017.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm - BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- CARNACCHIONI, Daniel Eduardo. Curso de direito civil – Direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- CHIASSONI, Pierluigi. L’utopia della ragione analítica – origini, oggetti e metodi della filosofia del diritto positivo. Torino: Giappichelli, 2005.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil – Direito das coisas. Direito autoral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 4.
- CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. CIMI. Oficina regional sobre a Campanha do Limite da propriedade da terra. Brasília, 4 ago. 2010. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=4847 . Acesso em: 10 out. 2014.
» http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=4847 - DANTAS, Marcus Eduardo de Carvalho. Função social na tutela possessória nos conflitos fundiários. Revista Direito GV [online], v. 9, n. 2, p. 465-488, 2013. Disponível em: http://ref.scielo.org/6zsnz3 . Acesso em: 15 dez. 2014.
» http://ref.scielo.org/6zsnz3 - DELGADO, Guilherme C. O limite da propriedade e a função social da propriedade. CPT – Comissão Pastoral da Terra. 7 jun. 2010. Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/artigos/308-o-limite-de-propriedade-fundiaria-e-a-funcao-social-da-terra . Acesso em: 10 out. 2017.
» https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/artigos/308-o-limite-de-propriedade-fundiaria-e-a-funcao-social-da-terra - DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico – Introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006.
- DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Direito das coisas. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – Pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
- FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma perspectiva da usucapião imobiliária. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.
- FACHIN, Luiz Edson. Função social da posse sobre bens imóveis: um contributo à reflexão. In: AZEVEDO, Fábio de O.; MELO, Marco Aurélio B. de (Coords.). Direito imobiliário – Escritos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. São Paulo: Atlas, 2015. p. 257-268.
- FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil – Reais. São Paulo: Atlas, 2015. v. 5.
- FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito civil: direitos reais. Rio Grande do Sul: EDUCS, 2011.
- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais São Paulo: Atlas, 2011.
- GOMES, Orlando. Direitos reais 20. ed., atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – Direito das coisas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 5.
- GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). São Paulo: Malheiros, 2003.
- GUASTINI, Riccardo. Il diritto come linguaggio – lezioni. 2. ed. Torino: Giappichelli, 2006.
- KELSEN, Hans. Teoria pura do direito Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- KENNEDY, Duncan. Legal education as training for hierarchy. In: KAIRYS, David (Ed.) The politics of law 3. ed. New York: Pantheon, 1998. p. 54-75.
- LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil– Direitos reais e direitos intelectuais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.
- LOUREIRO, Luiz Guilherme. Direitos reais São Paulo: Método, 2004.
- MARELLA, Maria Rosaria. La funzione sociale della proprietà: dalla estrategia alla tattica. Rivista del Diritto Privato, v. 31, n. 4, p. 551-568, 2013.
- MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Pareceres de direito administrativo São Paulo: Malheiros, 2011.
- MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2015. v. V.
- MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2014. v. 4.
- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil – Direito das coisas. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3.
- NADER, Paulo. Curso de direito civil – Direito das coisas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 4.
- NERY JR., Nelson. Involução do direito – Ativismo judicial é uma imbecilidade que inventaram. 4 ago. 2013. Entrevistadores: Alessandro Cristo e Marcos Vasconcellos. Consultor jurídico , 4 ago. 2013. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-ago-04/entrevista-nelson-nery-junior-professor-advogado-parecerista Acesso em: 2 mar. 2014.
» http://www.conjur.com.br/2013-ago-04/entrevista-nelson-nery-junior-professor-advogado-parecerista - NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito Tradução de Elza Maria Gasparotto; revisão técnica de Denise Matos Marino. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 66, p. 145-154, 2003.
- PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. – Direitos reais. 20. ed., atualizada por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v. IV.
- PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
- RAZ, Joseph. The authority of law 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Direito civil – Direitos reais. São Paulo: Malheiros, 2010. v. 3.
- RODRIGUES, Silvio. Direito civil – Direito das coisas. 28. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. v. 5.
- RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013.
- RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- RIZZARDO, Arnaldo. A função social da propriedade rural e a sua prática. In: NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. (Coord.). Direito & justiça social – Por uma sociedade mais livre, justa e solidária. São Paulo: Atlas, 2013. p. 213-256.
- SANTOS, Margareth Alves. Aplicação dos requisitos da função social da propriedade no âmbito da reforma agrária pelo Supremo Tribunal Federal Monografia. Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, São Paulo, 2006, 55 p. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/69_Margareth.pdf Acesso em: 23 out. 2014.
» http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/69_Margareth.pdf - SCHAUER, Frederick. The questions of authority. The Georgetown Law Journal, v. 81, n. 95, p. 95-115, 1992.
- SCHAUER, Frederick. Formalismo. In: RODRIGUEZ, José Rodrigo (Org.). A justificação do formalismo jurídico São Paulo: Saraiva, 2011.
- SCHREIBER, Anderson. Função social da propriedade na prática jurisprudencial brasileira. In: SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição São Paulo: Atlas, 2013. p. 243-266.
- SILVA, José Afonso da. Curso de direto constitucional positivo 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
- STANLEY, Adriano. Direito das coisas 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.
- TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 4.
- TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
- TEPEDINO, Gustavo. Soluções práticas de direito – Pareceres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
- TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A posse e a propriedade: um confronto em torno da função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil – Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. v. 5.
- WALD, Arnoldo. Direito civil – Direito das coisas. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.
- WALTON, Douglas N. Lógica informal Tradução de Ana Lúcia Franco e Carlos Salum. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
-
1
Como mostra Douglas Walton, nem sempre a argumentação por autoridade é falaciosa, apesar de tais argumentos serem “intrinsecamente fracos e questionáveis” (WALTON, 2012, p. 249), dado que são sempre subjetivos. De todo modo, “Quando um especialista tem algo a ganhar ao defender um dos lados da argumentação ou quando é pago para argumentar a favor de um dos lados – como frequentemente acontece nos tribunais –, chamar atenção para essa possível parcialidade pode ser uma crítica legítima.” (WALTON, 2012WALTON, Douglas N. Lógica informal. Tradução de Ana Lúcia Franco e Carlos Salum. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012., p. 249).
-
2
O termo “formalista” é amplamente disputado. Aqui ele é utilizado, tal qual a indicação de José Rodrigo Rodriguez, para designar “[...] todos os teóricos ou agentes sociais que naturalizam o direito posto e sua racionalidade, ou seja, a forma atual do Estado e da separação de poderes, transformando em dogma estruturas históricas e mutáveis; e emprestando à pesquisa em direito uma postura defensiva e conservadora; incapaz de especular sobre possibilidades diversas de organização institucional” (RODRIGUEZ, 2013, p. 135). Nem sempre, porém, ele é empregado em um sentido negativo. Frederick Schauer, por exemplo, defende as vantagens da adoção daquilo que chama de “formalismo presumido”, dentro do qual haveria uma “presunção a favor do resultado gerado pela interpretação literal da regra mais localmente aplicável. No entanto, aquele resultado seria apenas presumido, sujeito à derrota quando normas menos localmente aplicáveis [...] oferecerem razões especialmente exigentes para que se evite o resultado gerado pela norma presumivelmente aplicável” (SCHAUER, 2011, p. 119).
-
3
Autores como Joseph Raz (2009)RAZ, Joseph. The authority of law. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. e Frederick Schauer (1992)SCHAUER, Frederick. The questions of authority. The Georgetown Law Journal, v. 81, n. 95, p. 95-115, 1992. procuram ressaltar o papel positivo que o recurso à autoridade pode desempenhar no âmbito do raciocínio judicial.
-
4
A expressão “dogmática opinativa” é utilizada em alusão à “justiça opinativa” descrita por José Rodrigo Rodriguez como sendo aquela que “não decide em função de argumentos, não é constrangida por eles, posto que [...] os fundamentos de suas decisões sempre ficam em aberto. A rigor, a argumentação individual dos juízes pode variar e é irrelevante para o funcionamento da jurisdição que decide por mera agregação de opiniões” (RODRIGUEZ, 2013, p. 82). Essa postura é facilmente reconhecida quando os autores discutem a função social da propriedade por meio de uma “listagem” de “concepções” (ou opiniões?) de função social, sem um exame crítico acerca de cada uma delas, ou seja, “sem explicar o porquê de cada autor (ou caso) ser relevante para a solução final” (RODRIGUEZ, 2013RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV, 2013., p. 81).
-
5
Não há dúvida de que parte do trabalho do diferencial da “ciência” do direito frente à que se desenvolve em outros campos é o fato de que o jurista modifica com sua atuação o seu objeto de investigação (GUASTINI, 2006GUASTINI, Riccardo. Il diritto come linguaggio – lezioni. 2. ed. Torino: Giappichelli, 2006., p. 211). O problema é quando esse trabalho criativo prescinde de sistematização e coerência, e são essas características que comprometem a racionalidade da produção.
-
6
Entre os autores nacionais com obras atualizadas, somente na obra de Luciano de Camargo Penteado (2012PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012., p. 557-606) o capítulo referente ao estudo da posse é posterior ao da propriedade.
-
7
FARIAS; ROSENVALD, 2015FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil – Reais. São Paulo: Atlas, 2015. v. 5.; GAMA, 2011GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011.; LISBOA, 2011LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil– Direitos reais e direitos intelectuais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.; TARTUCE; SIMÃO, 2010TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 4.; FERNANDES, 2011FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito civil: direitos reais. Rio Grande do Sul: EDUCS, 2011.; PINTO, 2011PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.; GONÇALVES, 2012GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – Direito das coisas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 5.; NADER, 2008NADER, Paulo. Curso de direito civil – Direito das coisas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 4.; GOMES, 2010GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed., atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010.; PEREIRA, 2010PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. – Direitos reais. 20. ed., atualizada por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v. IV.; VENOSA, 2011VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil – Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. v. 5.; PENTEADO, 2012PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.; AZEVEDO, 2014AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2014.; COELHO, 2010COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil – Direito das coisas. Direito autoral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 4.; DINIZ, 2011DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Direito das coisas. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.; CARNACCHIONI, 2014CARNACCHIONI, Daniel Eduardo. Curso de direito civil – Direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.; STANLEY, 2013STANLEY, Adriano. Direito das coisas. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.; MELO, 2015MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2015. v. V.; MONTEIRO, 2011MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil – Direito das coisas. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3.; ROCHA, 2010ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Direito civil – Direitos reais. São Paulo: Malheiros, 2010. v. 3.; WALD, 2011WALD, Arnoldo. Direito civil – Direito das coisas. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4.; ALMEIDA, 2011ALMEIDA, Maria Cecília Ladeira de. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011.; MELO, 2014MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2014. v. 4.; BARROS, 2007BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Manual de direito civil – Direito das coisas e responsabilidade civil. São Paulo: Método, 2007. v. 3.; LOUREIRO, 2004LOUREIRO, Luiz Guilherme. Direitos reais. São Paulo: Método, 2004.; RODRIGUES, 2009RODRIGUES, Silvio. Direito civil – Direito das coisas. 28. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. v. 5.; RIZZARDO, 2007RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007..
-
8
FARIAS; ROSENVALD, 2015FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil – Reais. São Paulo: Atlas, 2015. v. 5., p. 45-80; GAMA, 2011GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direitos reais. São Paulo: Atlas, 2011., p. 97-100; LISBOA, 2011LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil– Direitos reais e direitos intelectuais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 4., p. 50-51; TARTUCE; SIMÃO, 2010TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 4., p. 47-55; FERNANDES, 2011FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito civil: direitos reais. Rio Grande do Sul: EDUCS, 2011., p. 44-46.
-
9
Outros exemplos desse tipo de argumentação “opinativa”, sem nenhuma indicação da conexão entre os diversos autores que formam o “catálogo de opiniões” podem ser encontrados em Melo (2015MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil – Direito das coisas. São Paulo: Atlas, 2015. v. V., p. 103-108); Torres (2008TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A posse e a propriedade: um confronto em torno da função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008., p. 260-272); Tartuce e Simão (2010TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 4., p. 57-62) e Rizzardo (2013RIZZARDO, Arnaldo. A função social da propriedade rural e a sua prática. In: NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. (Coord.). Direito & justiça social – Por uma sociedade mais livre, justa e solidária. São Paulo: Atlas, 2013. p. 213-256., p. 232).
-
10
De maneira geral, as referências ao princípio da função social da propriedade estão baseadas no modo como ele foi disciplinado em sede constitucional e infraconstitucional. Nesses termos, trata-se de uma argumentação calcada na função social do direito de propriedade. De toda sorte, a disciplina do direito de propriedade, assim como a sua função social, tem como pretensão o estabelecimento de uma ordenação social acerca do modo como a propriedade deverá ser utilizada, no que se abre a conexão entre a função social do direito de propriedade e a função social da propriedade.
-
11
Uma análise empírica da jurisprudência mostra claramente que, apesar de o artigo 186 exigir o cumprimento simultâneo dos requisitos ali previstos, há uma notável prevalência da produtividade como a exigência sine qua non para a desapropriação. Nesse sentido, cf. Santos (2006SANTOS, Margareth Alves. Aplicação dos requisitos da função social da propriedade no âmbito da reforma agrária pelo Supremo Tribunal Federal. Monografia. Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, São Paulo, 2006, 55 p. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/69_Margareth.pdf. Acesso em: 23 out. 2014.
http://www.sbdp.org.br/arquivos/monograf... , p. 17-18). -
12
Em 2010, os dados do Incra diagnosticaram, em verdade, um cenário de expansão da concentração de terras. Em 2003, 58 mil propriedades concentravam 133 milhões de hectares improdutivos. Em 2010, eram 69,2 mil propriedades improdutivas, controlando 228 milhões de hectares (A CONCENTRAÇÃO..., 2015).
-
13
Segundo Hans Kelsen (1999KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1999., p. 251), “[...] Um advogado que, no interesse do seu constituinte, propõe ao tribunal apenas uma das várias interpretações possíveis da norma jurídica a aplicar a certo caso, e um escritor que, num comentário, elege uma interpretação determinada, entre as várias interpretações possíveis, como a única ‘acertada’, não realizam uma função jurídico-científica mas uma função jurídico-política (de política jurídica). Eles procuram exercer influência sobre a criação do Direito. Isto não lhes pode, evidentemente, ser proibido. Mas não podem fazer em nome da ciência jurídica, como frequentemente fazem”.
-
14
Segundo Jaques Távora Alfonsin (2015)ALFONSIN, Jacques Távora. A legitimidade popular para cobrar função social à propriedade. MST – Movimento dos Sem Terra. 13 maio 2015. Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/05/13/a-legitimidade-popular-para-cobrar-funcao-social-a-propriedade.html. Acesso em: 30 maio 2015.
http://www.mst.org.br/2015/05/13/a-legit... , “Os efeitos da função social da propriedade, no gozo e exercício desse direito, sua influência sobre quem é proprietária/o e sobre o próprio Poder Público, sobretudo do Judiciário, são insignificantes. Embora a Constituição Federal faça previsão dessa função, em várias das suas disposições, ela é muito pouco ou quase nada cogitada [...]”. -
15
O Conselho Indigenista Missionário promoveu em 2010 uma campanha pelo limite da terra. O objetivo era “[...] animar um debate aberto na sociedade brasileira sobre as desigualdades na distribuição da propriedade da terra, e combate o latifúndio” por meio de uma reflexão sobre a existência do princípio da ‘função social da propriedade da terra’ explicitado pela primeira vez em 1964, na Lei do Estatuto da Terra, e mais tarde assumido na Constituição Federal de 1988”, tendo em vista o fato de que “a terra é um meio fundamental para a reprodução da vida e não uma mera mercadoria” (CIMI, 2010CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. CIMI. Oficina regional sobre a Campanha do Limite da propriedade da terra. Brasília, 4 ago. 2010. Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=4847 . Acesso em: 10 out. 2014.
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.... ). -
16
Segundo Guilherme C. Delgado (2010)DELGADO, Guilherme C. O limite da propriedade e a função social da propriedade. CPT – Comissão Pastoral da Terra. 7 jun. 2010. Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/artigos/308-o-limite-de-propriedade-fundiaria-e-a-funcao-social-da-terra . Acesso em: 10 out. 2017.
https://www.cptnacional.org.br/publicaco... , “A função social da propriedade, prevista no Estatuto da Terra foi solenemente ignorada na época do regime militar. Por sua vez, a função social da propriedade na Constituição de 1988 tem sido ignorada por outros meios – não atualização dos índices de produtividade da terra, grilagem das terras tolerada e legalizada pela política oficial e agora a tentativa de revisão do Código Florestal, cujas regras vinham sendo sistematicamente violadas”. -
17
A doutrina italiana tem se mostrado aberta a esse problema, reconhecendo que a Carta Constitucional permite leituras nas quais a função social da propriedade pode representar um verdadeiro entrave às mudanças sociais necessárias a garantia de direitos fundamentais. Cf. MARELLA, 2013MARELLA, Maria Rosaria. La funzione sociale della proprietà: dalla estrategia alla tattica. Rivista del Diritto Privato, v. 31, n. 4, p. 551-568, 2013., p. 551-557.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Sep-Dec 2017
Histórico
-
Recebido
08 Mar 2016 -
Aceito
05 Set 2017