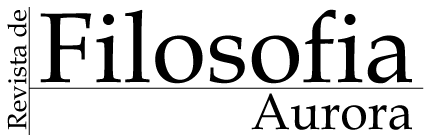Resumo
A ideia de repensar o especismo para além da querela do utilitarismo e dos direitos animais, que invadiu a causa e gerou dissensões contínuas, tem por objetivo central mostrar que a causa animal é também, em profundidade, uma causa humana, porque a luta pelo animal passa pelo enfrentamento profundo da nossa tirania, que é a responsável por também destruir a nossa própria espécie. Este entendimento da extensão do que é a própria causa animal depende, e é isso que tencionamos mostrar aqui, de aprofundarmos mais o sentido e a direção do conceito de especismo, do psicólogo britânico Richard Ryder. Intuído como um “argumento emocional egoísta, ao invés de racional” que nos leva a crer que temos direitos legítimos de submeter todas as espécies aos nossos interesses, o conceito carecia, no entanto, de maior elaboração, de maior consistência, ou seja, precisava passar por etapas rígidas de uma construção conceitual e, isso, quem forneceu não foi o próprio Ryder, mas o filósofo australiano Peter Singer na obra pioneira, no clássico da causa, o Libertação Animal. É aqui que o conceito se torna popular e provoca mudanças muito significativas, tal como o próprio crescimento exponencial do veganismo como um modo de existir ético que diz um “não” generalizado à exploração de vidas, mas que gerou, ao mesmo tempo, desacordos por tal conceito ser ativado e se desenvolver em solo utilitarista. Decididamente, pensamos que tal querela possa vir a ser minimizada diante da percepção de que o especismo é muito mais que um preconceito que se pode vencer por humanidade e compaixão. É algo que está intrinsecamente ligado a um tipo de poder que fez emergir um tipo de homem específico (que diz respeito a todos nós que vivemos submetidos a esta estrutura de poder) que precisa ser descortinado e descontruído com a máxima urgência.
Palavras-chave:
Especismo; Utilitarismo; Direitos Animais; Tirania; Libertação
Abstract
The idea of rethinking speciesism beyond the quarrel of utilitarianism and animal rights, which invaded the cause and generated continuous dissensions, has as its central objective to show that the animal cause is also, in depth, a human cause, because the struggle for animal goes through the profound confrontation of our tyranny, which is responsible for also destroying our own species. This understanding of the extension of what the animal cause itself is depends, and this is what we intend to show here, on going deeper into the meaning and direction of the concept of speciesism, from the British psychologist Richard Ryder. Intuited as a “selfish emotional argument, instead of a rational one” that leads us to believe that we have legitimate rights to subject all species to our interests, the concept lacked, however, greater elaboration, greater consistency, that is, it needed to go through rigid stages of a conceptual construction and, this, who provided it was not Ryder himself, but the Australian philosopher Peter Singer in the pioneering work, in the classic of the cause, Animal Liberation. It is here that the concept becomes popular and causes very significant changes, such as the exponential growth of veganism itself as an ethical way of existing that says a generalized “no” to the exploitation of lives, but which, at the same time, generated disagreements by such a concept will be activated and develop on utilitarian soil. Decidedly, we think that such a quarrel can be minimized in view of the perception that speciesism is much more than a prejudice that can be overcome by humanity and compassion. It is something that is intrinsically linked to a type of power that gave rise to a specific type of man (which concerns all of us who live under this structure of power) that needs to be uncovered and deconstructed with the utmost urgency.
Keywords:
Speciesism; Utilitarianism; Animal Rights; Tyranny; Liberation
Resumen
La idea de repensar el especismo, más allá de la disputa entre el utilitarismo y los derechos de los animales, que invadió la causa y generó continuas disensiones, tiene como finalidad central mostrar que la causa animal es, también y en última instancia, una causa humana, dado que la lucha a favor del animal pasa por el profundo enfrentamiento de nuestra tiranía, la cual se encarga de destruir, del mismo modo, a nuestra propia especie. Esta comprensión de la extensión de lo que es la causa animal en sí misma depende, y es lo que pretendemos mostrar aquí, de profundizar su análisis en el sentido y la dirección del concepto de especismo, del psicólogo británico Richard Ryder. Intuido como un “argumento emocional egoísta, en lugar de racional”, que nos lleva a creer que tenemos derechos legítimos para someter a todas las especies a nuestros intereses, el concepto carecía, sin embargo, de mayor elaboración y de mayor consistencia, es decir, demandaba atravesar las rígidas etapas de una construcción conceptual, lo que no fue proporcionado por el propio Ryder, sino por el filósofo australiano Peter Singer, en la obra pionera y clásico de la causa, Animal Liberation. Es a partir de esta obra que el concepto se populariza y provoca cambios muy significativos, como el crecimiento exponencial del propio veganismo como una forma ética de existir que declaró un “no” generalizado a la explotación de vidas, pero que, al mismo tiempo, generó un conjunto de desacuerdos, en virtud de tal concepto se activar y desarrollar en suelo utilitario. Decididamente, pensamos que tal disputa puede ser minimizada en vista de la percepción de que el especismo es mucho más que un prejuicio que puede ser superado por la humanidad y la compasión. Es algo que está intrínsecamente ligado a un tipo de poder que dio lugar a un tipo específico de hombre (que nos concierne a todos los que vivimos bajo esta estructura de poder) que necesita ser develado y deconstruido con la máxima urgencia.
Palabras claves:
Especismo; Utilitarismo; Derechos Animales; Tiranía; Liberación
Introdução
[...] Esta capacidade dos animais de estarem mais satisfeitos que nós pela simples existência é objeto de abuso da parte de homens egoístas e sem coração, que a exploram a um tal ponto que não lhes concedem absolutamente nada além da simples existência. Por exemplo, o pássaro que é feito para cantar através de metade do mundo, é confinado em um espaço muito reduzido, onde definha docemente até a morte, e grita; porque «o pássaro na gaiola canta não por prazer, mas de raiva», e o cão altamente inteligente, o amigo mais verdadeiro e mais fiel do homem, é acorrentado por ele! Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena
Diante do gato que me olha nu, teria eu vergonha como um animal que não tem o sentido de sua nudez? Ou, ao contrário, vergonha como um homem que guarda o sentido da nudez? Quem sou eu então? Quem é este que eu sou? A quem perguntar, senão ao outro? E talvez ao próprio gato? Jacques DerridaDERRIDA, J. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Unesp, 2002., O animal que logo sou
O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Albert CamusCAMUS, A. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1996., O homem revoltado
Antes de qualquer coisa, gostaríamos de dizer o que este artigo não é, para, em seguida, dizermos o que ele é. Ele não é uma narrativa de toda a luta pelos direitos animais; ele não é uma exposição literal das ideias de um ou de outro ideólogo da causa animal; e ele não é também uma defesa cega da posição de um ou outro dos grandes nomes desta causa - aliás, tão urgente quanto desconsiderada por uma maioria que ainda não percebeu o que realmente está em jogo aqui. Bem, uma vez exposto o que ele não é, dizemos agora o que ele é e o que pretende: ele é, antes de tudo, uma proposta de ampliação da compreensão do conceito de especismo do psicólogo britânico Richard Ryder. Conceito este que aparece, primeiramente, mais como uma intuição, uma ideia ainda pouco formalizada, em um panfleto que Ryder distribuiu na Universidade de Oxford, no ano de 1970.
Neste sentido, com mais precisão, o objetivo central deste artigo - que terá, sem dúvida, que fazer incursões na história dos direitos animais para se fundamentar - é buscar, ao fim dele, oferecer uma nova dimensão para pensarmos o próprio conceito de especismo, que talvez seja mais uma nova direção, uma nova rota, um outro caminho de problematização. E, para tal, precisamos ir além da querela que se instaurou entre os defensores dos direitos animais e os utilitaristas dentro da própria causa, e que, segundo pensamos, nasceu de um fato mais do que inusitado no campo das ideias, que é o da intuição de um autor ganhar “forma” e se desenvolver “pelas mãos” de outro, e na obra do outro.
Porque foi exatamente isso o que aconteceu com o especismo. O conceito aparece no panfleto de Ryder, mas é o filósofo australiano Peter Singer quem vai desenvolvê-lo no clássico Libertação Animal, de 1975, cinco anos depois do ato político de Ryder. Na verdade, Singer teve acesso, antes de escrever o livro, ao panfleto em Oxford, e também ao material que Richard Ryder havia reunido para o seu próprio livro Victims of Science (que foi publicado no mesmo ano). Ryder, generosamente, o emprestou, como conta o próprio Singer (2013, p. 408). Em outras palavras, Ryder cede a Singer o direito de trabalhar, de formalizar seu conceito, já que ele próprio não o fez em sua obra. Talvez, por ser um psicólogo, ele não se sentisse tão apto ou familiarizado com o processo da criação filosófica. Até porque a intuição, na verdade, é só a primeira parte de uma construção conceitual e o especismo, enquanto ideia, embora clara no panfleto, ainda carecia de uma elaboração maior, de uma delimitação mais precisa.
Singer, é preciso que se diga, levou a termo a tarefa com a máxima honestidade intelectual, sem ocultar o verdadeiro criador do conceito, embora precisasse “fazer funcionar” uma ideia que não era sua nem nasceu de suas próprias intuições no interior de um campo de ideias diferente daquele em que o próprio conceito nasceu. Sim, foi no bojo desta trama curiosa que a publicação do Libertação Animal alavancou o conceito e a própria causa animal a um nível nunca visto antes, embora não sem trazer alguns efeitos colaterais para a própria causa, como o mal-estar provocado, em alguns, pela ética utilitarista de Singer.
Sem dúvida, Singer despertou paixões, para o bem e para o mal, mas não sem despertar também a razão e a consciência de tantos que, de repente, se viram entrelaçados em um sistema perverso que coisificava as vidas sem qualquer pudor e piedade. E, assim, na mesma proporção que seu livro gerou um clamor por mudanças reais, fazendo nascer uma exigência moral, que se tornou cada vez mais urgente, de romper com este elo sangrento e abusivo da exploração de vidas, crescia, paralelamente, a discussão em torno dos fundamentos morais e éticos do movimento em defesa dos animais.
Foi aí, então, que apareceram as primeiras reações ao utilitarismo de Singer, tanto por parte do filósofo norte-americano Tom Regan, quanto do professor de Direito e filósofo, também norte-americano, Gary Francione; e embora Francione também tenha críticas a Regan, os dois realmente “estão juntos” quando se trata da oposição à perspectiva utilitarista de Singer, que Francione entende como uma espécie de bem-estarismo reformado. Em outras palavras, o utilitarismo de Singer (que tem como base as ideias do filósofo e jurista do século XVIII, Jeremy Bentham) tem, para Francione, uma perspectiva mais humanitária, de bem-estar, do que verdadeiramente abolicionista. Sem dúvida, o solo utilitarista para pensar o especismo trouxe conclusões incômodas para alguns, a ponto de levar a fissuras e a cindir, posteriormente, a própria causa animal.
Antes de continuarmos, seria importante fazer uma consideração sobre a criação dos conceitos, porque o artigo trata, de algum modo, de um conceito, e de um conceito que mudou os rumos da causa animal. Como tão bem explicam Gilles Deleuze e Félix Guattari, a criação de conceitos é a tarefa propriamente filosófica (DELEUZE; GUATTARI, 1992DELEUZE, G. & GUATTARI, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992., p. 13-14); uma tarefa rigorosa e complexa que, definitivamente, é realizada apenas pela filosofia. É claro que existem outras formas de criação, mas só a filosofia cria conceitos no sentido estrito do termo. A filosofia, neste sentido, “é a disciplina que consiste em criar conceitos” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 13) e não uma “mera arte”, nem coisa de diletantes.
Um conceito, como eles próprios afirmam, não é uma ideia simples, e nem uma palavra meramente designativa, mas uma composição, um composto de ideias e forças que se agenciam, que se compõem para produzir um novo sentido, um novo olhar para as coisas. “Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles” (DELEUZE; GUATTARI, 1992DELEUZE, G. & GUATTARI, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992., p. 27). Um conceito, neste sentido, é uma espécie de síntese, de “unidade múltipla”, porque contém em seu interior diversos sentidos e significados que se abrem a partir do seu uso. Isso quer dizer que um conceito é já “um mundo” de novos sentidos e novas possibilidades de pensar e de dizer as coisas, e que, por esta razão, está atrelado diretamente à produção de novos modos de ser e de existir no mundo. O conceito é, assim, um verdadeiro acontecimento que se dá na ordem do pensamento, mas que só se completa ao se desdobrar na própria vida.
Em suma, para os que pensam que estamos falando apenas de animais, enganam-se profundamente. E, isso, sem levar em conta que animais nós também somos, embora não haja nada que o homem mais deseje negar. Sim, antes de tudo, é sobre nós mesmos que estamos falando, sobre nossa forma de agir no mundo e de como vivemos com estes outros de nós. No fundo, a contribuição mais cara que a causa animal trouxe para ampliar a compreensão de todas as demais lutas humanas é que a exploração humana e a exploração animal têm uma mesma origem, ou seja, partem de uma mesma premissa, de uma mesma lógica, e de um mesmo “modus operandi”. Ela se baseia na falaciosa e tirânica ideia de vidas superiores e vidas inferiores, algo que se origina a partir de raciocínios hierárquicos infundados que interessam, mais do que tudo, aos poderes estabelecidos.
O resgate da intuição de Ryder e as origens de uma luta libertária mais ampla
Quando o psicólogo e escritor britânico Richard Ryder usou, pela primeira vez, o conceito de especismo em um panfleto que distribuiu na Universidade de Oxford, no início de 19701 1 O texto original do panfleto de Richard D. Ryder foi publicado, posteriormente, em 2010, em “Speciesism Again: the original leaflet”, em Critical Society, Issue 2, e pode ser encontrado no site: https://telecomlobby.com/RNMnetwork/documents/1.%20Speciesism%20Again.pdf , ninguém poderia imaginar o quanto este termo significaria para a causa animal que, enquanto movimento propriamente dito de defesa dos direitos animais, só começou realmente a tomar uma forma mais concreta no próprio século XX. Sem dúvida, a causa animal já vinha se delineando bem timidamente desde o fim do século XVIII, na esteira das lutas pelos direitos humanos, para ir ganhando mais força no decorrer do século XIX, quando surgiram na Europa (e, mais especificamente, na Inglaterra2 2 Só para citar duas delas, a Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA): fundada, em 1824, na Inglaterra, foi a primeira organização de proteção animal do mundo e a National Anti-Vivisection Society (NAVS): fundada em 1875, na Inglaterra, foi a primeira organização contra a vivissecção animal, ou seja, o uso de animais em experimentos científicos. Esta segunda, mesmo que não tenha sido criada com esta intenção, serviria como resposta ao fisiologista Claude Bernard que, não apenas defendia como plenamente justa a utilização dos animais em qualquer experimentação científica, como usou o cachorro da própria filha em uma delas, provocando a sua morte. ) as primeiras entidades e organizações protetoras de animais, bem como as primeiras leis que visavam dar algum bem-estar e dignidade a estes seres tão subjugados e explorados por nós.
Sem dúvida, as ideias iluministas estiveram na base das grandes lutas libertárias do século XVIII, e mesmo naquelas que só vieram a florescer bem depois, em função das circunstâncias sociopolíticas e históricas. Não foi diferente com a causa animal que, como dissemos, surge na esteira das lutas pelos próprios direitos humanos. Dito de outra forma, a luta pela universalização dos direitos humanos, em pleno Iluminismo, e mesmo a ideia da existência de direitos naturais inalienáveis (objeto de apreço, mas também de crítica por parte de alguns, tais como os utilitaristas, como veremos mais adiante) inaugura, mesmo que de forma mais lenta, a reflexão em torno de outros direitos aviltados no interior da história humana.
Isto quer dizer que a luta pelos direitos humanos e pelos direitos animais transitam mais ou menos juntas na ordem do tempo, ainda que a primeira tenha evoluído muito mais rapidamente em termos de reflexões e leis, e por razões óbvias, embora a mais óbvia de todas é que somos quase todos beneficiários desta exploração. Sem dúvida, não é fácil explicar como seres que se orgulham de possuir uma moralidade superior possam viver alheios ao imenso sofrimento que causam em todos os seres, destituindo-os do direito mínimo de desfrutarem suas vidas, para servirem única e exclusivamente aos nossos interesses. Não existe, definitivamente, qualquer justificativa para isso, a não ser a tirania3 3 A crítica quanto ao nosso modo de agir com os animais vem desde a Antiguidade, mas a ideia de que é por tirania que agimos assim aparece perfeitamente formulada, em 1789, na obra do filósofo e jurista Jeremy Bentham, da qual falaremos mais adiante. A frase que inicia a nota de rodapé mais conhecida da causa animal é: “Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania”. Cf. BENTHAM, J. (1789) apud SINGER, 2013. p. 12. . E é, assim, sem qualquer pudor, que reduzimos outras vidas sencientes a meros objetos, mercadorias, propriedades humanas.
Sobre a senciência que, para Bentham, era “a característica vital que confere a um ser o direito a igual consideração” (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 12), e que consiste na capacidade não apenas de sofrer, mas também de sentir prazer e felicidade, ou seja, a capacidade de “sentir”, de ter emoções, em última instância, de ter experiências positivas e negativas no contato com o mundo, nada como os avanços da neurociência para confirmar o que alguns apenas intuíam: que sentir envolve necessariamente um grau de consciência. Isto quer dizer que alguns animais não apenas sentem, mas também possuem consciência, algo que era torpemente negado pela tese das bestas-máquinas ou máquinas sem alma de Descartes.
Sobre a tese de Descartes, ela se resume à ideia de que os animais, ao contrário dos humanos, não têm alma e, por isso mesmo, não experimentam sensações ou sentimentos que Descartes atribui à consciência - que, por sua vez, está, para ele, vinculada à racionalidade. Os animais seriam, então, nesta verdadeira impostura filosófica, apenas corpos mecânicos, autômatos, que funcionam obedecendo às leis físicas da matéria e nada mais4 4 Em uma carta escrita ao marquês de Newcastle, ele compara os animais a relógios, a mecanismos puros : « Eu sei que os bichos fazem muitas coisas melhores do que nós, mas não me espanto com isso; porque é isso mesmo que serve para provar que eles agem naturalmente e por impulso, assim como um relógio ...». Sobre esta carta, cf. DESCARTES, R. Lettre au marquis de Newcastle (23 novembre 1646). Oeuvres de Descartes, Vol. IV. p. 568-576. Ed. Adam & Tannery. Paris: Léopold Cerf, 1901. Outras passagens podem ser encontradas no Discurso do Método, parte V. . Descartes retira tudo do animal, sensibilidade, sentimentos, inteligência e, em certo sentido, até mesmo a vida, tamanho o esvaziamento que ele opera no seu ser.
Mas a questão é muito mais profunda, como nos mostra o grande neurocientista Antônio Damásio em obras como E o cérebro criou o homem, O erro de Descartes e, principalmente, Sentir e saber: as origens da consciência, que estão revolucionando a própria maneira de como nos vemos e vemos os outros seres vivos. Em uma síntese, feita pelo próprio Damásio, acerca da origem primeira da consciência, ele diz:
[...] São os sentimentos básicos que nos permitem ter consciência. Eles são os alicerces da nossa realidade refletida. Depois vem a linguagem, o raciocínio complexo e toda a criatividade. "Penso, logo existo" dá uma impressão falsa de que só os seres que têm capacidade de pensar podem existir, mas, muito antes de haver pensamento, já existem seres que sentem seus próprios corpos, sentem suas vidas e, portanto, existem. O correto seria ‘tenho sentimentos, logo existo’” (A voz da consciência5 5 Entrevista de Antônio R. Damásio concedida a Carlos Messias ao caderno Ilustríssima, da Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il0611201104.htm#:~:text=Depois%2C%20h%C3%A1%20um%20self%20central,nos%20d%C3%A1%20uma%20hist%C3%B3ria%20pr%C3%B3pria. ,DAMÁSIO, 2011DAMÁSIO, A. A voz da consciência. [Entrevista concedida a] Carlos Messias. Folha de São Paulo, caderno Ilustríssima, São Paulo, novembro de 2011. Disponível em: https://shre.ink/a2NI.
https://shre.ink/a2NI... ).
De fato, sempre nos pareceu um grande equívoco atribuir demasiado poder à linguagem e até à razão como os únicos alicerces da consciência, dado que empiricamente só um cego (moral, no caso) não enxerga que os animais (alguns mais que outros), sofrem, têm interesses, preferências, vontades e mesmo uma vida interior6 6 A capacidade dos animais não humanos de terem experiências positivas e negativas, como prazer e dor, alegria e sofrimento, indicam que eles também são, mesmo que em menor grau, conscientes de si mesmos e do mundo ao seu redor, e que é exatamente por isso que podem expressar emoções, preferências, intenções e personalidades. Alguns exemplos de autores que defendem esta ideia são Peter Singer, Tom Regan, Marc Bekoff, Frans de Waal e Antônio Damásio. (e se ela é menos rica ou menos intensa que a dos humanos, segundo a avaliação dos próprios humanos, o que importa isso a eles?).
É realmente muito importante, e mesmo crucial para o próprio conhecimento científico, que um neurocientista, que sequer é vinculado à causa animal, admita que a consciência já aparece no animal, antes de ser um fenômeno puramente humano. Também admita que “um cão ou um chimpanzé são capazes de raciocinar até muito bem” e que o único problema deles é não ter uma linguagem mais aperfeiçoada para se expressarem e se comunicarem com maior amplitude (Op. Cit.). Isto, sem dúvida, reforça de modo magistral as impressões e intuições de filósofos que, desde a Antiguidade, julgavam moralmente errado o tratamento dispensado aos animais, e também daqueles que foram muito além das ideias preconcebidas e automáticas, em poucas palavras, de ideias naturalizadas por puro preconceito, sobre o fato de nenhum outro animal, além do humano, ter inteligência, raciocínios, etc.
Sim, é claro que não somos ingênuos, e menos ainda o seria Antônio Damásio; faz muita diferença a nossa linguagem, pois é ela que também amplia a nossa consciência e que, por sua vez, termina por multiplicar tanto as nossas dores quanto os nossos prazeres, mas ela também é igualmente eficaz, e aqui nenhum animal pode mesmo se comparar ao homem, na arte de legitimar a nossa própria tirania, criando ideias, sentidos, conceitos, para sustentar este mundo de vidas imoralmente hierarquizadas, incluindo aqui a própria vida humana.
No que tange ao conceito de especismo, propriamente dito, que Singer retoma de Ryder, as questões que o envolvem são tão importantes quanto a definição que o filósofo apresenta, até porque, em tese, a sua definição é relativamente simples. Sim, tendo em mente apenas o panfleto de Ryder, pode-se dizer que o especismo é a discriminação, é o preconceito que a espécie humana, a dita “espécie superior”7 7 A ideia de «espécie superior» não é usada por Ryder no panfleto, mas por nós. E é importante frisar aqui que o sentido da superioridade da nossa espécie não foi inventada pela taxonomia de Aristóteles, embora esteja contida nela, ao trazer para o seio de um saber que se pretende científico, uma distinção baseada em um argumento metafísico-religioso, que é a ideia de que o homem é o único animal que tem uma alma imortal. A hierarquia da vida e das vidas começa a se enraizar epistemologicamente aí, mas a ideia da superioridade, em si, de nossa espécie, não nasceu com a filosofia grega; ao contrário, é bem anterior a ela. , nutre contra todas as espécies. De fato, não é difícil chegar a este sentido do termo, embora a intuição de Ryder nos pareça muito mais profunda do que ele próprio imaginava, ao mesmo tempo que ela se mostrava tão simples, quase como uma evidência. O próprio nome, dado por ele, nasce de uma simples analogia que ele fez com os preconceitos que os homens nutrem pelos seus semelhantes, o racismo, o sexismo, o machismo… (RYDER, 2008RYDER, R. Os animais e os direitos humanos. Revista Brasileira de Direito Animal, Salvador, a. 3, n. 4, jan./dez. 2008., v. 3 n. 4, p. 63).
Mas o especismo ia muito além disso, e Singer o levou para longe, mas não sem incomodar também os mais humanistas, os mais religiosos, os mais metafísicos da causa animal, e também aqueles que julgam que uma ética utilitarista nunca terá muita consistência, como é o caso de Gary Francione. O problema, para Francione, é que o utilitarismo de Singer, baseado no de Bentham, mesmo com diferenças, não mudaria o status do animal e, para ele, Francione, o princípio de igual consideração, defendido pelos utilitaristas, precisa, para ser autêntico, “que reconheçamos que os animais têm o direito de não serem tratados exclusivamente como recursos dos humanos” (FRANCIONE, 2015, p. 29). Em outras palavras, enquanto o animal puder ser uma “propriedade”, e é isso exatamente a escravidão (fazer de uma vida a propriedade de outrem) nunca se terá tido por ele qualquer igual consideração, nem mesmo de interesse.
Sem dúvida, a causa animal, para além de tudo, nasceu como a mais democrática das lutas, pois a ideia é reunir tantos quantos forem possíveis em torno de práticas reais mais justas, e não de ideias abstratas e normativas. Mas não é tão fácil assim escapar do domínio das ideias que nos constituem, e mesmo Singer também não poderia escapar por completo, nem mesmo Tom Regan, com sua moral mais deontológica, ou Gary Francione, para falar apenas nos três grandes expoentes da causa. De certa forma, a questão que emergirá deve servir para nos fazer entender o quanto é difícil escapar do especismo e, mais profundamente ainda, do antropocentrismo de fundo que o fez nascer.
No panfleto, Ryder enumera dois argumentos que buscam justificar as experimentações científicas dolorosas em animais, e é no segundo que o termo especismo aparece:
“[...] 2) que os possíveis benefícios para nossa própria espécie justificam os maus tratos contra outras espécies - este pode ser um argumento bastante forte quando se aplica a experimentos onde as chances de sofrimento são mínimas e a probabilidade de contribuir com a medicina aplicada é grande, mas, mesmo assim, esse argumento ainda será apenas um “especismo” e, como tal, é um argumento emocional egoísta, ao invés de racional” (RYDER, 2020RYDER, R. Especismo. Trad. Tânia Vizachri e Thiago Pires-Oliveira. Revista Latino-Americana de Direitos da Natureza e dos Animais, Salvador, v. 3, n. 1, p. 226-228, jan.-jun., 2020., v. 3, n. 1, p. 227).
Sim, mesmo que pudesse ser um argumento forte defender o uso dos animais em nosso benefício e, mais ainda, quando as chances de sofrimento fossem mínimas (um argumento, aliás, deveras utilitarista, bem à maneira de Bentham), ainda assim, consistiria em um “especismo”, ou seja, em “um argumento emocional egoísta, ao invés de racional” (RYDER, 2010, v. 3, n. 1, p. 228). Eis a perfeita intuição de Ryder, ainda pouco elaborada, é verdade, mas bem precisa, bem cirúrgica - e com a qual Francione concorda inteiramente ao propor como única posição moral verdadeiramente aceitável a de não usar nenhuma vida como um meio para fins humanos (FRANCIONE, 2015FRANCIONE, G. Introdução aos direitos animais. Trad. Regina Rheda. Campinas: Unicamp, 2013., p. 31-32).
Ainda falando do ato em si de Ryder, é preciso considerar o que representou realmente o manifesto solitário8 8 Os atos individuais, isolados, quase sempre são julgados menores no que tange aos rumos de uma sociedade, mas isso é um equívoco profundo, porque, na verdade, é exatamente o contrário. Eis porque filosofias como as de Espinosa, Nietzsche e mesmo a de Deleuze, estão corretas quando acentuam o papel do indivíduo no campo social. Afinal, são realmente as vozes dissonantes, que se levantam de tempos em tempos para discordarem daquilo que todos aceitam naturalmente, que dão início aos processos de mudança, produzindo fissuras em uma estrutura que tende a perdurar atavicamente em sua reprodução contínua de valores e ideias, exatamente por nunca serem expostas à crítica e à problematização. deste psicólogo britânico, denunciando, dentro do próprio “templo do saber científico”, a imoralidade das experimentações com os animais. Um ato que poderia não resultar em nada tão grande, se Singer não tivesse visto o panfleto em Oxford e se também não tivesse entrado em contato com Ryder. Deste encontro fortuito e inusitado nasceu o Libertação Animal, que mudou a existência de milhares de pessoas, e ainda continua mudando.
No fundo, quase quatro séculos depois de Descartes, o panfleto e o próprio livro ainda respondiam a ele e à sua tese ultrajante das máquinas sem alma. Dizer, afinal, que os animais “não sentem nada” é tão tolo, ou tão perverso, quanto dizer, como Heidegger, que o animal é “pobre de mundo”9 9 Plagiando Agostinho, quando este distingue as três realidades, “existir, viver e entender” (cf. AGOSTINHO, O livre arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995, Livro II, Primeira Parte, p. 81) onde uma pedra existe, mas não vive, um animal existe e vive, e somente o homem existe, vive e entende, Heidegger, apresenta três modos de estar no mundo: “a pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo”. Cf. HEIDEGGER, M. Os conceitos fundamentais da metafísica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011, p. 239). . De fato, o animal não pergunta sobre o “ser”, ele é o próprio “ser” do qual nos afastamos. Em profundidade, e mesmo sem se dar conta, Ryder estava atacando um tipo de antropocentrismo tirânico que nos constitui desde tempos muito longínquos.
Enfim, o declarado entusiasta das experimentações científicas do seu século, e da pior delas, a vivissecção, só não podia ser pior, moralmente falando, do que um cientista, que mesmo sabendo que está provocando uma dor atroz em uma cobaia aberta viva sobre a mesa, ainda assim, “não sente nada”. Com certeza, a vivissecção é a prática científica mais macabra de todas, que consiste em dissecar um animal vivo, abri-lo para vê-lo por dentro, em pleno funcionamento, enquanto se experimenta as piores atrocidades com o seu corpo. Sobre este tema, aconselho a leitura do excelente artigo de Juliana Fausto, cujo título é A cadela sem nome de Descartes: Notas sobre vivissecção e mecanomorfose no século XVII10 10 Cf. FAUSTO, J., Dois pontos: Curitiba, São Carlos, volume 15, número 1, p. 43-59, abril de 2018. Para leitura na própria internet, cf: https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/57226/35685 .
Bem, é claro que depois da denúncia de Ryder e, mais ainda do que Singer nos apresentou em seu Libertação Animal, pode-se dizer que, no caso da ciência, se trata mesmo do mais alto grau do especismo humano, porque, afinal, estamos falando do saber científico, em tese, rigoroso e objetivo, entrelaçado, e mesmo fundamentado, nos raciocínios metafísicos mais insondáveis. Não se trata de exigir que os cientistas sejam racionalistas ateus ou que não amem com fervor o conhecimento, mas de exigir que a ciência tenha freios morais ou éticos essenciais para que ela não seja apenas um palco a mais para o nosso antropocentrismo delirante.
A querela entre utilitaristas e defensores dos direitos animais: o especismo oculto
Bem, falando um pouco mais de Singer e, por isso mesmo, indo até um pouco mais longe em Jeremy Bentham (considerado o pai da ética utilitarista), podemos dizer que Singer fez mudanças significativas no interior do próprio utilitarismo, em função da causa animal que ele abraçou verdadeiramente. Sem dúvida, o utilitarismo de Bentham não deixa de ser uma resposta ao cartesianismo e ao antropocentrismo mais radical do seu tempo, mesmo que o acusem de não ter ido tão fundo na defesa dos animais. Sim, os princípios de sua ética desafiavam a tradição, e embora tenha tocado na questão dos animais bem brevemente, suas considerações são contundentes. Um exemplo é que, enquanto a tradição só conferia status moral aos seres racionais (algo já questionado por alguns filósofos e pensadores da Antiguidade, dentre eles, PorfírioLOMEÑA, A. Alienación animal. Málaga: Mitad Doble, 2010. e Plutarco), Bentham estabelecia, como dito antes, o critério da senciência como determinante para incluir os animais na comunidade moral.
E, afinal, embora seja apenas em uma nota (na verdade, “a nota” da causa animal) de sua robusta obra Introdução aos princípios da moral e da legislação, de 1789, que Bentham vai mais longe e expõe a tirania que os homens exercem sobre os animais, isso não deixou de ser um ato de coragem. E, então, como que “iluminado” por uma verdade inquestionável, Bentham afirma que: “A questão não é: ‘Eles são capazes de raciocinar?’, nem: ‘São capazes de falar?’, mas, sim: ‘Eles são capazes de sofrer?’” (BENTHAM apudSINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 12). Se podem sofrer, então, são seres sencientes e enquanto tal têm, como os humanos, interesses genuínos de não sentirem dor e de buscarem seu prazer e felicidade. Esta é, em termos gerais, a conclusão de Bentham: é preciso considerá-los em nossa moral; não podemos infligir a eles nenhuma dor injusta e desnecessária.
Bentham, de fato, não fala em direitos reais ou mesmo naturais para os animais (nem para os homens). Ele “alude a ‘direitos naturais’ como um “absurdo” e a direitos naturais inalienáveis como a um ‘absurdo ao quadrado’ (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 13). Para ele, trata-se de conferir a todo ser que sofre o direito a igual consideração (SINGER, 2013, p.12), e isto vale então para todos os seres sencientes. Não existe, para a ética utilitarista, direitos naturais ou universais em si; tudo gira em torno do “princípio de utilidade” (BENTHAM, 1974, capítulo I, p. 9), que ele chama logo na primeira nota da sua “Introdução”, de “princípio da maior felicidade” (ibidem).
O princípio, diz ele, que estabelece a maior felicidade para todos aqueles cujo interesse está em jogo, deve ser entendido “como sendo a justa e adequada finalidade da ação humana, e até a única finalidade justa, adequada e universalmente desejável...” (ibidem). Mas, no que tange aos animais, não se trata, para eles, de libertá-los na sua totalidade, como Singer acenará (com algumas poucas ressalvas, em certas circunstâncias), mas do estabelecimento de princípios humanitários e de bem-estar para reger o uso do animal onde ele é indispensável ao homem, e de abolir, por completo, todas as outras práticas desnecessárias e cruéis. E aqui chegamos em Singer, ou já estávamos de algum modo nele, mas sem sabermos bem o que os diferencia. Deixemos o próprio Singer nos levar mais à frente:
O objetivo deste livro [Libertação Animal] é levar o leitor a realizar essa mudança mental, repensando suas atitudes e práticas em relação a um grupo bem amplo de seres: os membros de outras espécies. Acredito que nossas atitudes para com esses seres baseiam-se em uma longa história de preconceitos e discriminação. Argumento que não pode haver outro motivo, exceto o desejo egoísta de preservar os privilégios do grupo explorador, para que alguém se recuse a estender o princípio básico da igualdade de consideração a membros de outras espécies. Peço ao leitor que reconheça que suas atitudes em relação a esses membros são uma forma de preconceito não menos objetável do que o étnico e o sexual (SINGER, 1913, p. 437, o grifo é nosso.).
Este trecho acima refere-se ao original de 1975, onde Singer já apresenta o conceito de especismo de Ryder entrelaçado com os fundamentos da sua ética utilitarista. É natural; não poderia ser diferente. Mas se trata aqui de um livro que, levando adiante e desenvolvendo o conceito de especismo, e dentro do panorama onde são expostas as duas das piores práticas exploratórias da vida animal, pelo alto nível de crueldade que elas implicam (a pecuária e as experimentações científicas), a obra se transforma em um verdadeiro manifesto antiespecista. Aqui, sem dúvida, vemos a primeira ruptura com Bentham, que julgava o uso dos animais justo na alimentação e na ciência, desde que de modo humanitário.
Sem dúvida, o livro exigia, em função da própria realidade sombria que mostrava, uma decisão, uma consonância real entre teoria e prática ou, mais exatamente, entre o discurso libertário contrário à exploração e à tirania e uma ética compatível com o desvelamento desta realidade cruel e injusta que infligimos a todos os seres vivos.
Singer sabia bem o que estava enfrentando e fez logo uma apresentação das dificuldades maiores da causa animal (ainda sem saber que, ele próprio, teria que enfrentar outras dentro do próprio movimento). A primeira e mais óbvia delas é “o fato de que os membros do grupo explorado não podem, eles mesmos, protestar de maneira organizada contra o tratamento que recebem” (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 437). Sim, isso é algo que limita muito a luta política, porque eles dependem de membros do próprio grupo opressor (e aqui já estamos na segunda grande dificuldade) para serem a voz deles ou as vozes deles nesta opressão. E este grupo opressor é o nosso, o humano. E apesar de hoje já sermos tantos, a verdade, como dissemos antes, é que a grande maioria dos seres humanos não se sente injusta por ser beneficiária desta exploração ilimitada e cruel que transforma vidas em mercadorias, em produtos, em objetos, em coisas. E isto porque, e já estamos entrando no terceiro ponto de dificuldade trazido por Singer, estamos habituados a viver assim, desconsiderando a vida dos animais. Sim, “hábitos não apenas alimentares, mas também de pensamento e de linguagem, precisam ser contestados e alterados” (SINGER, 2013, p. 437). E eis que é aqui que a coisa realmente se complica, pois estamos tratando diretamente do simbólico humano, todo ele povoado por crenças, conhecimentos e por muita imaginação.
E eis que é neste último ponto, no que tange principalmente aos hábitos “de pensamento e de linguagem”, que começa o nó na causa animal, que leva à querela entre defensores dos direitos animais, representados por Tom Regan e por Gary Francione, embora de modos distintos, e os utilitaristas, representados por Singer que, segundo Francione, não conseguia deixar de ser um bem-estarista, ainda que Regan também não escape da crítica de Francione em torno do abolicionismo11 11 A diferença entre eles reside no fato de que Tom Regan, em princípio, só defende os direitos inalienáveis para os que ele chama de « sujeitos-de-uma- -vida », aqueles que teriam uma cognição maior, no caso, mamíferos e aves, enquanto Francione luta por um abolicionismo absoluto para todos os animais, por considerar imoral qualquer vida ser tratada como propriedade, tenha mais cognição ou menos. . Mas por que, afinal, Singer é acusado de ser um bem-estarista se, diferente de Bentham, ele ataca a questão da alimentação e da ciência, e expressa abertamente que a libertação animal é urgente?
A resposta parece ser simples, mas, no fundo, oculta questões bem complexas: Singer, e neste ponto ele comunga profundamente com Bentham, não acredita em direitos naturais inalienáveis, em direitos em si, “a priori”, para os animais, embora também os negue aos humanos, tal como Bentham. Aliás, é a negação dos direitos humanos inalienáveis que parece incomodar mais Regan com relação a Singer, mais do que ele próprio consegue admitir, ou seja, a perda de status moral do homem. É isso, pelo menos, que parece oculto no conhecido “dilema do bote” que Regan propôs e que, de algum modo, coloca em xeque a sua própria defesa de direitos iguais inalienáveis entre “pessoas”, “sujeitos de uma vida”, que deveria incluir, para ele, também alguns animais, sem qualquer diferença (REGAN, 2004REGAN, T. The case for animal rights. Los Angeles: University of California Press, 2004.a, p. 324-325).
É verdade que Singer, no Libertação Animal, ao tocar no mais do que polêmico tema da eutanásia (que se trata de uma questão ética das mais importantes para ele), acaba fazendo comparações entre vidas humanas e vidas animais, onde, visto sob certos aspectos e circunstâncias, o valor da vida de um animal pode ser considerado superior à de um ser humano (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 28-33). Singer, no entanto, ao contrário do que será acusado, não pretende fazer uma nova “taxonomia”, nem deseja estabelecer uma nova hierarquia de vidas baseada na eugenia, como alguns denunciam, mas deseja mostrar, nas análises que faz, que não se consegue fugir do especismo enquanto se considerar sempre a vida humana, e apenas ela, sagrada. “A crença de que a vida humana, e tão somente ela, é sacrossanta, é um especismo” (SINGER, 2013, p. 28).
Mas o próprio Singer defende que seria justo, caso estivéssemos em um impasse, preferir salvar um homem a um cachorro, embora não porque o homem valha mais, em si (ele é absolutamente contra a ideia de que vidas possam valer mais em si do que outras, e neste ponto ele escapa realmente do especismo de um modo muito coerente). Em certos casos, ele pensa (abstratamente falando, sempre abstratamente) que poderia ser mais justo salvar o cachorro, mesmo que quase nenhum de nós conseguisse, e isso pelo simples fato de uma vida estar em melhores condições de vingar do que a outra. Ele está falando de casos extremos, de situações-limites e, no fundo, apenas para mostrar que o princípio da senciência é ainda o mais justo, porque é o mais básico. “Para evitar o especismo, temos que admitir que seres semelhantes, em todos os aspectos relevantes, tenham o mesmo direito à vida” (SINGER, 2014, p. 30).
Sem dúvida, parece que aqui Singer “jogou o dardo longe demais” para alguns. Afinal, uma coisa é defender os animais, outra é rebaixar a vida humana (pelo menos era assim que sentiam os humanistas de plantão, os cristãos, etc.). Porque, afinal, é de se pensar realmente se a acusação de bem-estarista dirigida a Singer é tão justa assim, quando Singer também defende o vegetarianismo estrito como modo de resistência política e ética; quando ele também defende o fim da experimentação animal, e isto sem falar que ele conclama que sejam abolidas todas as práticas de entretenimento, e também a caça, a pesca, o uso de peles, a venda de animais, etc.
Entendemos que Gary Francione critique Singer, e até Regan, por não abordarem ou criticarem o estatuto jurídico e moral de propriedade dos animais, embora isto pareça implícito em qualquer discurso contra a opressão animal ou em prol de sua libertação. Mas, para Francione, isso não só não está implícito, como ele afirma que a proposta utilitarista, ou dos “neo bem-estaristas” (FRANCIONE, 1996FRANCIONE, G. The Empirical and Structural Defects of Animal Welfare Theory. In: FRACIONE, G. L. Rain without thunder: the ideology of the animal rights movement. Kobo Epub, Philadelphia: Temple University Press, 1996.), como ele chama os que não defendem abertamente a erradicação absoluta de todo uso animal (que, para ele, é tirânico por essência, seja ele qual for, quando implica em torná-lo uma propriedade humana), não é absolutamente libertária. A questão é que Singer também defende a libertação animal, mas, como um bom utilitarista, ele só acredita em mudanças profundas a longo prazo e não acha razoável deixar os animais sofrendo, sem leis de proteção, até que este dia chegue.
Mas falemos, agora, do dilema moral proposto por Regan (REGAN, 2004REGAN, T. The case for animal rights. Los Angeles: University of California Press, 2004.), em resposta a certas questões de Singer. É impossível não julgar, no mínimo, estranho, que Regan, o defensor, contra Singer, dos direitos inalienáveis dos animais (ao menos para os que são “sujeitos-de-uma-vida”), como tendo direitos absolutamente iguais entre si, como “pessoas”, afirmar que, se em um bote estivessem quatro seres humanos e um cachorro, e um precisasse ser jogado ao mar para que os demais se salvassem, ele jogaria sem titubear o cachorro. Muito bem, Singer não contestaria que talvez fosse justo salvar os seres humanos, pelas razões das mais variadas, que vão desde escolher a própria espécie ou por julgar que, no cálculo da felicidade, haveria menos sofrimento geral envolvido, mas Regan vai mais longe no ataque ao utilitarismo e diz que não se trata de números, de quantos ficariam mais felizes, mas que jogaria mil cachorros ao mar para salvar os quatro humanos. Bem, aí, nem Singer, nem nós, podemos entender bem esta resposta. Ou, sim, entendemos bem. Talvez, na prática, não seja tão equivocado pensar que a luta pela libertação dos animais terá que se dar em um processo mais lento de conscientização, porque, antes de tudo, há muito para desconstruir em todos nós.
Levando o especismo mais longe: até a origem do nosso antropocentrismo
É verdade que Singer, ao fundamentar o especismo, preferiu concentrar sua atenção no Ocidente - aliás, em duas tradições, a judaica e a da Antiguidade grega, que se mesclam no cristianismo e, através dele, tomam-se predominantes na Europa (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 270), e não sem revelar o quanto a religião do amor levou ainda mais longe a desconsideração com os animais, para os quais, dizia São Tomás de Aquino, não se deveria ter piedade ou qualquer sentimento pela maneira como os homens os tratam, porque, afinal, eles só existem para nos servir. “A caridade, afirma, não abrange as criaturas irracionais” (SINGER, 2013, p. 283). E, antes de Tomás, Agostinho já dizia “O próprio Cristo mostra que é o cúmulo da superstição refrear-se de matar animais e destruir plantas…” (SINGER, 2013, p. 279). É claro que nem todos os cristãos pensam assim, mas a verdade é que as religiões ocidentais trazem a marca poderosa deste antropocentrismo tirânico, algo que as duas grandes religiões orientais, o hinduísmo e o budismo, não possuem. Pode-se dizer que DescartesDESCARTES, R. Discours de la méthode. Ed. Étienne Gilson. Paris: J. Vrin, 1987., como um herdeiro da Escolástica, mesmo mantendo-se sempre dúbio com relação a ela, não poderia encontrar melhor solo para avançar com a sua ideia das bestas-máquinas.
Mas, não nos deixemos enganar. Se, afinal, mesmo Darwin, no século XIX, depois de reunir todas as provas da nossa origem animal (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 298), ou seja, do nosso parentesco profundo com os ditos “inferiores”, também prefere não tocar diretamente na perda do status superior da nossa espécie, para evitar maiores rejeições, enquanto segue, como tantos outros, comendo as carnes dos animais, sabendo de todo o processo de sofrimento que isso envolve (sendo que ele, mais que qualquer outro, sabia que se tratavam mesmo de seres sensíveis e inteligentes, dotados de emoções e também de memória, etc.), o que se pode esperar no geral?
Sobre este ponto, Francione tenta explicá-lo a partir da ideia de “esquizofrenia moral”, que acometeria a nossa espécie (FRANCIONE, 2008FRANCIONE, G. Animals as Persons: Essay On the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008., p. 135) e que é um tipo de corte com a realidade, de apagamento, o próprio “fechar de olhos”, que chamamos aqui de anestesiamento moral, e que encontramos em Singer, em seu Libertação Animal, como “cegueira ética condicionada” (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 104). É isto que faz com que uma mesma pessoa que diga amar animais e que deseja viver para salvá-los, não apenas suporte praticar a vivissecção, como pode julgá-la necessária mesmo depois das milhões que já foram feitas desde o século XVII. Singer aqui se refere aos estudos veterinários (SINGER, 2013, p. 105-107). E é também isso que poderia explicar que um cientista ou uma cientista, pudesse fazer experimentações cruéis em um cachorro no laboratório e, depois, chegando em casa, abraçar o seu próprio cachorro ou o seu gato, sem considerar isso um despautério ou mesmo uma hipocrisia.
Bem, voltando a Singer, ele parece, por um momento, ter acreditado demais no poder da razão e menos no das crenças quando diz que “com a aceitação da teoria de Darwin, finalmente, atingimos um conhecimento moderno da natureza” e que “somente aqueles que preferem a fé religiosa a crenças assentadas em raciocínio e em provas”, podem ainda pensar a humanidade como a favorita de todo o universo (SINGER, 2013SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013., p. 300). Sim e não. Infelizmente, há exemplos de muitos “racionalistas” bem pouco racionais quando se chega no fundo de suas ideias. As crenças superam, no geral, o poder da razão e de seus conhecimentos (em outras palavras, há um fundo metafísico até mesmo nas ciências, que se julgam o mais positivo dos saberes).
Mas, enfim, como aprofundar mais o entendimento do especismo, que direção ele nos aponta quando ultrapassamos a querela? Sim, é preciso ir mais além, para chegar na gênese do próprio especismo enquanto algo enraizado atavicamente no Homem (em maiúsculo aqui, para acentuar um tipo específico de humano que surge e se torna hegemônico). É claro que Singer tem razão ao tratar do especismo no Ocidente; isto nos coloca diante de nós mesmos. Mas ficar apenas no Ocidente desvia o olhar do essencial: que foi o nascimento do Estado - algo que vem de muito longe, no tempo e no espaço (criação originária das primeiras grandes civilizações do Oriente Próximo) - o acontecimento histórico que marcou a primeira e mais profunda distorção do olhar humano.
Sim, o especismo é, segundo entendemos, filho dileto de um tipo de poder perverso que surge com a emergência do Estado, com a fusão da esfera política com a religiosa, ou seja, é filho de um delírio teológico-político que produziu a primeira forma de transcendência do próprio poder humano - algo que mudou, definitivamente, os rumos da história humana e estabeleceu uma diferença irreconciliável entre o mundo sedentário e o mundo nômade das estepes e das florestas, que se organizam de modo completamente distinto. Foi aqui, no que Marx chamava de modo de produção asiático, que os governos despóticos dos reis divinos ou semidivinos traçaram de modo profundo a verdadeira cisão entre o homem e a natureza, que determinou, posteriormente, a cisão maior entre os próprios humanos.
O homem, de um modo bem amplo no nosso mundo sedentário, não escapará ileso deste acontecimento, ou do que denominamos de corte ontológico, que é como estamos chamando a ruptura simbólica e real, de proporções incalculáveis, do humano com o mundo natural. Isto nada mais é do que o estabelecimento de uma natureza diversa para o homem, ou seja, é quando o próprio homem se vê em exterioridade e superioridade com relação a uma natureza da qual ele é parte. E eis aqui, segundo pensamos, a causa maior da nossa loucura ou desespero. Perdemos, no fundo, o elo com as coisas, com a natureza, perdermos o elo com a própria vida.
É aqui, ou a partir daqui, que uma forma de homem tirânica emerge para ficar, e muito antes da sistematização do próprio conceito de “homem” ou de razão pelos gregos. O Estado, afinal, este acontecimento político-metafísico, marca a introjeção, quase definitiva, no mundo sedentário das ideias de hierarquia e de superioridade, pela própria natureza do Estado como um aparelho de um poder verticalizado e centralizador. Enfim, o Estado transformou significativa e inexoravelmente a relação do homem com a natureza e com o próprio homem, selando um casamento espúrio entre o poder temporal e o poder sobrenatural, o que conferiu aos primeiros soberanos direitos legítimos (ou melhor, divinos) de vida e de morte sobre todos indistintamente.
Resumindo: se dizemos que é aqui que começa a se produzir ou, simplesmente, se produzem as bases do especismo não é por já haver uma sistematização mais elaborada do termo (até porque não se poderia sequer falar em espécie antes de Aristóteles, e nem mesmo isso gerou este conceito na época dele, porque não havia um solo epistêmico propício para ele), mas, sim, porque é aqui que emergem os elementos mais essenciais e determinantes de um pensamento metafísico dualista, com devido corte ontológico que tanto o define e que, por fim, estabelece base mais subterrânea de todo o pensamento hierárquico. Em poucas palavras, o especismo é um desdobramento do antropocentrismo que está na base do corte ontológico.
Sem dúvida, para que fique mais bem entendida esta questão, o vínculo entre o mundo temporal e o sobrenatural, em tese, aparece em todos os povos e culturas humanas, desde as que vivem sob a égide do Estado até as que vivem nas estepes e nas florestas. Neste sentido, pode-se dizer que o homem é um animal simbólico, e que é aqui que sua diferença se amplia mais com relação aos outros animais, mas não por essência nem por alguma estrutura a priori, mas pelas circunstâncias de sua própria evolução. E também se pode dizer que é a partir da linguagem, mas não só dela, que este simbólico existe e se ordena em todos os povos e culturas humanas. Mas só com o Estado, o próprio poder se torna demasiado abstrato e transcendente. E se torna, sobretudo, tirânico, pela primeira de todas as hierarquias que estabelece: o humano se coloca, antes de tudo, na transcendência, como parte dela, se separando de tudo o mais que existe. O déspota é um deus ou um semideus, e é assim que ele próprio se separa dos outros homens também, que lhe devem a vida e a obediência máxima. Mesmo o mais democrático dos governos no mundo sedentário, sempre terá a marca desta verticalização, que é também uma centralização abstrata do próprio poder.
Foi exatamente este acontecimento, o da emergência do Estado, mas não aquele pensado como resultado de um acordo, de um “contrato social” espontâneo, mas como “o mais frio dos monstros frios”, como disse Nietzsche (NIETZSCHE, 2011NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011., p. 48), que se origina um pensamento que redundará nesta cisão quase irreconciliável entre o homem e a natureza, nesta cisão do homem com a própria vida, com o mundo do qual ele é parte, mas que, por um desacordo consigo mesmo, entra em guerra continuamente. No fundo, a guerra acaba sendo contra ele mesmo, “o animal que perdeu sua saudável razão natural”12 12 Cf. NIETZSCHE, F. Gaia Ciência, 224. , como Nietzsche tão bem o definiu. O antropocentrismo é, definitivamente, o delírio da “espécie superior”.
Considerações finais
Sem dúvida, para além de tudo o que foi dito, o que está sendo enunciado aqui é que o Estado, na verticalidade de seu poder, é a estrutura concreta da transcendência, a instância abstrata e superior na qual o humano se vê submetido sem escapatória. Foi esta estrutura de dominação máxima que levou à produção de um tipo de homem tirânico ou, mais ainda, a um tipo de delírio que fez o homem acreditar ser o senhor do mundo, da natureza, dos animais e de todos os demais homens que se apresentam a ele como inferiores. E, claro, fez crer, aos chamados inferiores, que eles são realmente inferiores por natureza. E quanto aos animais que não podiam obedecê-lo por meio da linguagem (e também não podiam se defender sem ela), impôs sua tirania mais pesada e os invisibilizou a ponto de transformá-los em meros objetos. Sim, Peter Singer, libertar o animal é libertar o próprio homem!
Referências
- ARISTÓTELES. História dos animais. Trad. Maria de Fátima Sousa e Silva. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2006.
- CAMUS, A. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1996.
- CARRUTHERS, P. La cuestión de los animales - Teoría de la moral aplicada. Trad. José María Perazzo. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- DAMÁSIO, A. A voz da consciência. [Entrevista concedida a] Carlos Messias. Folha de São Paulo, caderno Ilustríssima, São Paulo, novembro de 2011. Disponível em: https://shre.ink/a2NI
» https://shre.ink/a2NI - DELEUZE, G. & GUATTARI, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992.
- DERRIDA, J. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Unesp, 2002.
- DESCARTES, R. Discours de la méthode. Ed. Étienne Gilson. Paris: J. Vrin, 1987.
- ESPINOSA, B. de. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
- FRANCIONE, G. Animals as Persons: Essay On the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008.
- FRANCIONE, G. Introdução aos direitos animais. Trad. Regina Rheda. Campinas: Unicamp, 2013.
- FRANCIONE, G. The Empirical and Structural Defects of Animal Welfare Theory. In: FRACIONE, G. L. Rain without thunder: the ideology of the animal rights movement. Kobo Epub, Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- JOY, M. Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas: uma introdução ao carnismo. Trad. Mário Molina. São Paulo: Cultrix, 2014.
- LOMEÑA, A. Alienación animal. Málaga: Mitad Doble, 2010.
- NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- PORFÍRIO. Sobre la abstinencia. Trad. Miguel Periago Lorente. Madri: Gredos, 1984.
- CIVARD-RACINAIS, A. Dictionnaire horrifié de la souffrance animale. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2010.
- REGAN, T. En defensa de los derechos de los animales. Trad. Ana Tamarit. Cidade do México: UNAM, 2016.
- REGAN, T. Jaulas vazias - encarando o desafio dos direitos animais. Trad. Regina Rheda. Porto Alegre: Lugano Editora, 2006.
- REGAN, T. The case for animal rights. Los Angeles: University of California Press, 2004.
- RYDER, R. Especismo. Trad. Tânia Vizachri e Thiago Pires-Oliveira. Revista Latino-Americana de Direitos da Natureza e dos Animais, Salvador, v. 3, n. 1, p. 226-228, jan.-jun., 2020.
- RYDER, R. Os animais e os direitos humanos. Revista Brasileira de Direito Animal, Salvador, a. 3, n. 4, jan./dez. 2008.
- SCHOPENHAUER, A. Parerga y paralipomena II. Trad. Pilar López de Santa María. Madri: Editorial Trotta, 2013.
- SCHÖPKE, R. As origens da opressão: a escravidão humana e animal. Rio De Janeiro: Confraria do Vento, 2020.
- SCHÖPKE, R. “O vitalismo libertário de Gilles Deleuze - antihumanismo e etologia dos afetos: a animalidade restituída”. In: OLIVEIRA, J. (org.) Filosofia animal - Humano, animal, animalidade. Curitiba: PUCPRESS, 2016.
- SINGER, P. Ética prática. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2018.
- SINGER, P. Libertação animal. Trad. Marly Winckler e Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
- UEXKULL, J. Von. Dos animais e dos homens. Trad. Alberto Candeias e Aníbal Garcia Pereira. Lisboa: Livros do Brasil, SD.
- VILMER, J.-B. J. L’éthique animale. Paris: PUF, 2011.
- WAAL, F. De. Eu, primata - por que somos como somos. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- WAAL, F. De. La edad de la empatía. ¿Somos altruístas por naturaleza? Trad. Ambrosio García Leal. Cidade do México: Tusquets, 2011.
-
1
O texto original do panfleto de Richard D. Ryder foi publicado, posteriormente, em 2010, em “Speciesism Again: the original leaflet”, em Critical Society, Issue 2, e pode ser encontrado no site: https://telecomlobby.com/RNMnetwork/documents/1.%20Speciesism%20Again.pdf
-
2
Só para citar duas delas, a Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA): fundada, em 1824, na Inglaterra, foi a primeira organização de proteção animal do mundo e a National Anti-Vivisection Society (NAVS): fundada em 1875, na Inglaterra, foi a primeira organização contra a vivissecção animal, ou seja, o uso de animais em experimentos científicos. Esta segunda, mesmo que não tenha sido criada com esta intenção, serviria como resposta ao fisiologista Claude Bernard que, não apenas defendia como plenamente justa a utilização dos animais em qualquer experimentação científica, como usou o cachorro da própria filha em uma delas, provocando a sua morte.
-
3
A crítica quanto ao nosso modo de agir com os animais vem desde a Antiguidade, mas a ideia de que é por tirania que agimos assim aparece perfeitamente formulada, em 1789, na obra do filósofo e jurista Jeremy Bentham, da qual falaremos mais adiante. A frase que inicia a nota de rodapé mais conhecida da causa animal é: “Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania”. Cf. BENTHAM, J. (1789) apud SINGER, 2013. p. 12.
-
4
Em uma carta escrita ao marquês de Newcastle, ele compara os animais a relógios, a mecanismos puros : « Eu sei que os bichos fazem muitas coisas melhores do que nós, mas não me espanto com isso; porque é isso mesmo que serve para provar que eles agem naturalmente e por impulso, assim como um relógio ...». Sobre esta carta, cf. DESCARTES, R. Lettre au marquis de Newcastle (23 novembre 1646). Oeuvres de Descartes, Vol. IV. p. 568-576. Ed. Adam & Tannery. Paris: Léopold Cerf, 1901. Outras passagens podem ser encontradas no Discurso do Método, parte V.
-
5
Entrevista de Antônio R. Damásio concedida a Carlos Messias ao caderno Ilustríssima, da Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il0611201104.htm#:~:text=Depois%2C%20h%C3%A1%20um%20self%20central,nos%20d%C3%A1%20uma%20hist%C3%B3ria%20pr%C3%B3pria.
-
6
A capacidade dos animais não humanos de terem experiências positivas e negativas, como prazer e dor, alegria e sofrimento, indicam que eles também são, mesmo que em menor grau, conscientes de si mesmos e do mundo ao seu redor, e que é exatamente por isso que podem expressar emoções, preferências, intenções e personalidades. Alguns exemplos de autores que defendem esta ideia são Peter Singer, Tom Regan, Marc Bekoff, Frans de Waal e Antônio Damásio.
-
7
A ideia de «espécie superior» não é usada por Ryder no panfleto, mas por nós. E é importante frisar aqui que o sentido da superioridade da nossa espécie não foi inventada pela taxonomia de ARISTÓTELES. História dos animais. Trad. Maria de Fátima Sousa e Silva. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2006.Aristóteles, embora esteja contida nela, ao trazer para o seio de um saber que se pretende científico, uma distinção baseada em um argumento metafísico-religioso, que é a ideia de que o homem é o único animal que tem uma alma imortal. A hierarquia da vida e das vidas começa a se enraizar epistemologicamente aí, mas a ideia da superioridade, em si, de nossa espécie, não nasceu com a filosofia grega; ao contrário, é bem anterior a ela.
-
8
Os atos individuais, isolados, quase sempre são julgados menores no que tange aos rumos de uma sociedade, mas isso é um equívoco profundo, porque, na verdade, é exatamente o contrário. Eis porque filosofias como as de EspinosaESPINOSA, B. de. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009., Nietzsche e mesmo a de Deleuze, estão corretas quando acentuam o papel do indivíduo no campo social. Afinal, são realmente as vozes dissonantes, que se levantam de tempos em tempos para discordarem daquilo que todos aceitam naturalmente, que dão início aos processos de mudança, produzindo fissuras em uma estrutura que tende a perdurar atavicamente em sua reprodução contínua de valores e ideias, exatamente por nunca serem expostas à crítica e à problematização.
-
9
Plagiando Agostinho, quando este distingue as três realidades, “existir, viver e entender” (cf. AGOSTINHO, O livre arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995, Livro II, Primeira Parte, p. 81) onde uma pedra existe, mas não vive, um animal existe e vive, e somente o homem existe, vive e entende, Heidegger, apresenta três modos de estar no mundo: “a pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo”. Cf. HEIDEGGER, M. Os conceitos fundamentais da metafísica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011, p. 239).
-
10
Cf. FAUSTO, J., Dois pontos: Curitiba, São Carlos, volume 15, número 1, p. 43-59, abril de 2018. Para leitura na própria internet, cf: https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/57226/35685
-
11
A diferença entre eles reside no fato de que Tom Regan, em princípio, só defende os direitos inalienáveis para os que ele chama de « sujeitos-de-uma- -vida », aqueles que teriam uma cognição maior, no caso, mamíferos e aves, enquanto Francione luta por um abolicionismo absoluto para todos os animais, por considerar imoral qualquer vida ser tratada como propriedade, tenha mais cognição ou menos.
-
12
Cf. NIETZSCHE, F. Gaia Ciência, 224.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Nov 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
03 Jun 2023 -
Aceito
14 Ago 2023