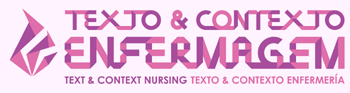RESUMO
Objetivo:
descrever e analisar os desafios e as possibilidades do retorno ao domicílio em cuidados paliativos nos cenários brasileiro e francês.
Método:
estudo etnográfico realizado em dois hospitais, domicílios e estabelecimentos médico-sociais. Participaram da pesquisa seis pessoas em cuidados paliativos, quatro familiares e oito profissionais de saúde. Os dados foram organizados por meio de mapeamento discursivo e analisados sob a perspectiva cultural e foucaultiana.
Resultados:
para apresentação dos resultados foram elaboradas duas categorias: Estratégias para a alta hospitalar em cuidados paliativos e Entre a família, o Estado e a Justiça: entraves para o retorno ao domicílio. Evidencia-se que, no Brasil e na França, o retorno ao domicílio é um evento que enfrenta resistência por parte das famílias. Tal fato relaciona-se principalmente com as concepções culturais de que unidades hospitalares de cuidados paliativos são os locais capazes de proporcionar conforto no final da vida, e com o difícil acesso a programas e serviços de atenção domiciliar. Em ambos os países, em razão da complexidade da alta hospitalar, famílias e gestores judicializam esse processo.
Conclusão:
o retorno ao domicílio em cuidados paliativos depende do modo como a morte é significada em determinada cultura, das configurações familiares e da existência ou não de uma rede de cuidados paliativos nos sistemas de saúde de cada país.
DESCRITORES:
Morte; Cuidados paliativos; Enfermagem; Assistência domiciliar; Antropologia cultural; Alta do paciente
ABSTRACT
Objective:
to describe and analyze the challenges and the possibilities of the return to the home in palliative care in the Brazilian and French scenarios.
Method:
ethnographic study conducted in two hospitals, homes and medical-social establishments. Six people in palliative care, four family members and eight health professionals participated in the study. The data were organized through discursive mapping and analyzed from a cultural and Foucaultian perspective.
Results:
to present the results, two categories were elaborated: Strategies for hospital discharge in palliative care and between the family, the state and justice: barriers to return home. It is evident that, in Brazil and in France, the return to the home is an event that faces resistance from the families. This fact is mainly related to the cultural conceptions that hospital palliative care units are places capable of providing comfort at the end of life, and difficult access to home care programs and services. In both countries, due to the complexity of hospital discharge, families and managers judicialize this process.
Conclusion:
the return to the home in palliative care depends on the way death is signified in a culture, the family settings and the existence or not of a network of palliative care in the health systems of each country.
DESCRIPTORS:
Death; Palliative care; Nursing; Home assistance; Cultural anthropology; Patient discharge
RESUMEN
Objetivo:
describir y analizar los desafíos y las posibilidades del retorno al domicilio en cuidados paliativos en los escenarios brasileño y francés.
Método:
estudio etnográfico realizado en dos hospitales, domicilios y establecimientos médico-sociales. Participaron en la investigación seis personas en cuidados paliativos, cuatro familiares y ocho profesionales de salud. Los datos fueron organizados por medio de mapeamiento discursivo y analizados bajo la perspectiva cultural y foucaultiana.
Resultados:
para la presentación de los resultados se elaboraron dos categorías: Estrategias para el alta hospitalaria en cuidados paliativos y entre la familia, el Estado y la Justicia: trabas para el retorno al domicilio. Se evidencia que, en Brasil y en Francia, el retorno al domicilio es un evento que enfrenta resistencia por parte de las familias. Este hecho se relaciona principalmente con las concepciones culturales de que unidades hospitalarias de cuidados paliativos son los locales capaces de proporcionar confort al final de la vida, y con el difícil acceso a programas y servicios de atención domiciliaria. En ambos países, en razón de la complejidad del alta hospitalaria, familias y gestores judicializan ese proceso.
Conclusión:
el retorno a domicilio en cuidados paliativos depende del modo en que la muerte es significada en determinada cultura, de las configuraciones familiares y de la existencia o no de una red de cuidados paliativos en los sistemas de salud de cada país.
DESCRIPTORES:
Muerte; Cuidados paliativos; Enfermería; Asistencia domiciliaria; Antropología cultural; Alta del paciente
INTRODUÇÃO
As unidades de cuidados paliativos constituem-se em ambientes especializados no cuidado a pessoas que apresentam doença sem possibilidade de tratamento modificador, estejam elas no final da vida ou não. Elas podem ser entendidas como espaços de ruptura com o hospital, já que transformam o modelo organizacional, tentando responder às críticas e questionamentos sobre o modo como se tratavam os moribundos.11. Cordeiro FR, Kruse MHL. Production of an end-of-life curriculum vitae through the pedagogical apparatus of the media. Interface (Botucatu) [Internet]. 2015 [cited 2017 Aug 28]; 19(55):1193-1205. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014.0199
http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014....
-22. Castra M. L’émergence des soins palliatifs dans la médecine, une forme particulière de militantisme de fin de vie. Quaderni [Internet]. 2012 [cited 2017 Nov 28];68:25-35. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2015.08.007
https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2015...
Nessas unidades, além do mobiliário e da estrutura diferenciados, as relações se dão de forma muito particular. Se nos demais setores existem espaços fechados e isolados para as equipes médica e de enfermagem, nas unidades de cuidado paliativo a equipe permanece no mesmo ambiente em que transitam os hospitalizados. Essa separação faz parte dos mecanismos disciplinares que organizam o hospital, os quais definem, delimitam e dispõem a maneira como cada um deve agir, de modo a privilegiar as ações dos profissionais de saúde sobre os corpos.33. Baptista MKS, Santos RM, Duarte SJH, Comassetto I, Trezza MCSF. The patient and the relation between power-knowledge and care by nursing professionals. Esc Anna Nery [Internet]. 2017 [cited 2018 Mar 29];21(4):e20170064. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2017-0064.
http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-...
As unidades de cuidados paliativos têm sido o local em que, primordialmente, se tem desenvolvido a filosofia dos cuidados paliativos, tanto no Brasil como em outros países. Assim, identifica-se a construção social da noção de que a “boa morte” ou a morte digna pode ser proporcionada por equipes especializadas que atuam nesses locais.44. Alonso JP. The Construction of Dying as a Process: the Management of Health Professionals at the End of Life. Univ. Humanist [Internet]. 2012 [cited 2017 Sep 14];74:123-144. Available from: Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n7...
-55. Menezes RA, Barbosa PC. The construction of a “good death” at different stages of life: reflections on the palliative care approach for adults and children. Ciênc Saúde Coletiva[Internet]. 2013 [cited 2017 Aug 25];18(9):2653-2662. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000900020
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013...
Nesse sentido, um dos aspectos que tem mobilizado as equipes dessas unidades é a alta hospitalar. Para tais equipes, ao se obter o controle de sinais e sintomas, o encaminhamento a ser realizado é o retorno ao domicílio ou a estabelecimentos que cumprem a função social de abrigo, como, por exemplo, as instituições de longa permanência de idosos ou clínicas especializadas.
Tal perspectiva vai ao encontro das políticas governamentais elaboradas nos últimos anos que priorizam o espaço da casa como um território possível para o cuidado, não apenas nas situações em que se tem a possibilidade de cura, mas também no contexto dos cuidados paliativos. Nessa linha, destaca-se, no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF); e, na França, tem-se o Plano Nacional de Cuidados Paliativos (2015-2018), que tem como um dos seus eixos o favorecimento desses cuidados no âmbito domiciliar. Também nesse país, as instituições de longa permanência são consideradas espaços para o final da vida.66. Ministére des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Plan national trienal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie - 2015/2018. [Internet]. Paris;2015 [cited 2017 Nov 26]. Available from: Available from: http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf...
Nessa conjuntura, acredita-se ser importante analisar o modo como tem ocorrido a transição de pessoas em cuidados paliativos do hospital para o domicílio. Isso porque as estratégias políticas para a condução do final da vida têm operado para além do sentido de reduzir leitos e otimizar os recursos hospitalares. Elas também pressupõem a utilização de serviços de apoio ao sistema de saúde que possam viabilizar uma morte digna, vivenciada junto da família, da maneira menos dolorosa possível.
Apesar de serem países distintos em suas constituições políticas, sociais, culturais e econômicas, Brasil e França se aproximam em elementos que dizem respeito à elaboração de políticas públicas de saúde. Muitas das propostas brasileiras para os cuidados em saúde são inspiradas em modelos europeus, como, por exemplo, o modelo de Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV). Na França, a Lei nº 2016-87 ou Loi Claeys-Leonetti, que teve sua primeira versão em 2005, dispõe sobre os direitos das pessoas com doenças que ameaçam a vida. Essa lei preconiza o fortalecimento dos cuidados paliativos nos serviços de saúde da França e recomenda que os sujeitos elaborem diretivas antecipadas de vontade em caso de doenças sem possibilidade de cura.77. Devalois B. Loi du 2 février 2016 : un droit à la sédation à visée bien traitante, pas à visée euthanasique. Médecine Palliative [Internet]. 2016 [cited 2017 Dec 02];15(1):1-3. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2016.02.001
https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2016...
Esse documento é utilizado quando a pessoa não tem mais a capacidade de expressar verbalmente os seus desejos.
No Brasil, em 2012, o Conselho Federal de Medicina aprovou a Resolução 1.995/12, que indica a elaboração de DAV e recomenda os cuidados paliativos como opção terapêutica para o final da vida, semelhante ao modelo francês.88. Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução n. 1.995, 09 de agosto de 2012: Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes [Internet]. Brasília (DF): CFM; 2012. [cited 2017 Nov 26]. Available from: Available from: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoe...
Assim, parece ser interessante olhar para o modo como estão sendo efetivadas as políticas para o governo do final da vida tanto no Brasil como na França, não com o objetivo de positivar um sistema em detrimento do outro, mas para apontar os desafios e as possibilidades que emergem a partir de cada cenário.
Ante ao exposto, este artigo apresenta a seguinte questão norteadora: Quais os desafios e as possibilidades de retorno ao domicílio de pessoas em cuidados paliativos? Para respondê-la, delineou-se como objetivo: descrever e analisar os desafios e as possibilidades do retorno ao domicílio de pessoas em cuidados paliativos nos cenários brasileiro e francês.
MÉTODO
Trata-se de um estudo etnográfico, sustentado teoricamente em dois campos de estudo: a Antropologia da Saúde e os Estudos Culturais. Os estudos etnográficos têm como característica a observação e a descrição de grupos humanos, seus comportamentos, suas relações com instituições e valores a partir de certa cultura.99. Geertz C. The interpretation of cultures. New York: Basic Books;1973.-1010. Damico J. Gestão da vida a partir do esporte e lazer em Grigny Centre - França. Movimento [Internet]. 2012 [cited 2017 Dec 02];19(1):11-31. Available from: Available from: https://doi.org/10.22456/1982-8918.29826
https://doi.org/10.22456/1982-8918.29826...
Os cenários da pesquisa foram dois hospitais públicos, um francês e um brasileiro, além do local para o qual os participantes retornaram após a alta hospitalar. A escolha pela realização de um estudo etnográfico nos dois países se deu pelo fato de serem identificadas aproximações entre as suas políticas públicas de saúde, como já mencionado. Além disso, durante o curso de doutorado, a autora principal deste estudo realizou visita técnica ao serviço francês. Deste encontro emergiram questionamentos sobre os limites das equipes de cuidados paliativos daquele país para efetivarem o retorno ao domicílio de pacientes em final de vida, situação semelhante a encontrada nos serviços brasileiros.
No Brasil, a unidade de cuidados paliativos possui sete leitos e situa-se em hospital público da cidade de Porto Alegre/RS. Na França, a unidade possui dez leitos e faz parte de um hospital público de Grenoble, cidade localizada no sudeste da França. O tempo de imersão em campo, na França e no Brasil, foi de 24 meses, entre outubro de 2014 e outubro de 2016.
Em relação às negociações e aproximações para realizar a pesquisa, no cenário brasileiro, o fato de a pesquisadora principal do estudo ter realizado estágio de docência junto com sua a orientadora na unidade de cuidados paliativos, em 2012 e 2014, favoreceu o processo de “aceitação” para acompanhamento dos profissionais no cotidiano de trabalho. Ainda nesse cenário, a aproximação com as pessoas em cuidados paliativos e suas famílias se deu da seguinte forma: a pesquisadora apresentava-se, no hospital, como enfermeira que acompanhava a equipe para uma pesquisa sobre “as dificuldades e facilidades de estar no hospital e estar em casa”. No decorrer das conversas, os pacientes ou os familiares abordavam, de alguma forma, as inquietações sobre o final de vida. Assim, após uma ou duas visitas, realizava-se o convite para participação no estudo.
Ainda sobre esse aspecto, na França, a principal limitação foi a incompreensão, por parte dos profissionais de saúde e de alguns pacientes, sobre a atuação do enfermeiro como pesquisador. Como a identidade deste profissional, nesse país, ainda está atrelada ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos específicos da área, os profissionais pensavam que a pesquisadora de deslocaria pelos serviços para prestar cuidados aos pacientes. Isso não era possível por dois motivos: 1) o diploma brasileiro não é válido na França e 2) realizar cuidados não era o objetivo da pesquisa. Contudo, assim como no Brasil, a pesquisadora auxiliou as equipes a desempenharem algumas atividades, como a higiene corporal dos pacientes, a fim de favorecer a interação e a aceitação diante dos profissionais de saúde. Em relação aos pacientes, a abordagem utilizada para negociar a participação na pesquisa se deu da mesma maneira que no Brasil.
Em relação aos profissionais de saúde, foram selecionados aqueles que participavam da organização do retorno ao domicílio, quais sejam: enfermeiros, médicos, assistentes sociais e auxiliares ou técnicos de enfermagem. As pessoas em cuidados paliativos foram selecionadas a partir de contato prévio com os profissionais de saúde e de consulta ao prontuário.
Os critérios de inclusão para a seleção dos profissionais de saúde foram: fazer parte da equipe multiprofissional da unidade de Cuidados Paliativos, sendo excluídos os profissionais que estavam em licença no período da coleta de dados. Foram convidados oito profissionais, quatro em cada país, não havendo nenhuma recusa ou desistência. Para a seleção das pessoas em cuidados paliativos, considerou-se como critérios de inclusão: idade igual ou maior que 18 anos, e ter perspectiva de retorno ao domicílio durante a internação hospitalar. No cenário brasileiro foram excluídas as pessoas que não residiam no município de Porto Alegre e, no francês, os que não residiam em Grenoble. Foram selecionados, em cada país, três pacientes, não havendo recusa ou desistência.
No Brasil, quando o familiar foi incluído como participante, selecionou-se aquele que estava mais presente durante a internação. Na França, escolheu-se a pessoa de confiança referida pelo paciente em suas DAV. A inclusão de familiares se deu a convite dos pesquisadores nas situações em que o paciente não tinha condições clínicas (fadiga, dor, dispneia) de responder ao estudo, e quando da manifestação espontânea de interesse deles em participar da entrevista. Dessa forma, incluiu-se três familiares brasileiros e uma francesa.
Salienta-se que por se tratar de pacientes que, além de estarem em cuidados paliativos encontravam-se em final de vida, não se privilegiou o quantitativo de informantes, mas procurou-se interagir o máximo possível com eles, a fim de melhor explorar os dados que emergiam das entradas em campo.
As técnicas de investigação social utilizadas foram a observação participante, a entrevista individual semiestruturada e o diário de campo. A observação participante foi sistematizada a partir das relações entre profissionais de saúde, pessoas em cuidados paliativos e suas famílias. Observou-se o cenário em que o sujeito em cuidados paliativos se encontrava, o ambiente hospitalar e o local para onde seguiu após a alta. As visitas de observação, tanto no hospital quanto no domicílio, ocorreram durante o dia, conforme acordo prévio realizado com a equipe, as pessoas em cuidados paliativos e suas famílias. Em média, durantes os dois anos de imersão em campo, a pesquisadora principal do estudo permaneceu três dias da semana nas unidades entre 8h e 17h, os demais foram reservados para realizar as visitas domiciliares. A terça-feira foi o dia da semana reservado ao acompanhamento das equipes, já que nesse dia, tanto no Brasil como na França, se realizam reuniões multidisciplinares para discussão dos “casos” da unidade.
O diário de campo foi elaborado a partir das notas registradas em caderno durante as observações. A entrevista individual semiestruturada foi realizada quando houve necessidade de aprofundar aspectos não elucidados durante as observações. No Brasil, das três pessoas acompanhadas, uma teve condições de responder. Na França, as três pessoas acompanhadas tiveram condições de serem entrevistadas. As entrevistas, cujas questões abordavam a organização da equipe e da família para o retorno ao domicílio, tiveram duração variada entre 30 e 40 minutos, sendo registradas em áudio por meio de um gravador digital e, em seguida, transcritas.
O material empírico foi organizado segundo a aproximação discursiva a que pertenciam as falas dos participantes, constituindo-se, assim, o corpus da pesquisa. Realizaram-se mapeamentos discursivos, os quais permitiram delimitar os elementos que atravessam e constituem os posicionamentos de familiares, de pessoas em cuidados paliativos e dos profissionais de saúde, nas relações que são estabelecidas na organização do retorno ao domicílio. Esse mapeamento se deu por meio de quadros que organizam as unidades analíticas, conforme utilizado em outros Estudos Culturais.1111. Cordeiro FR, Kruse MHL. The right to die and power over life: knowledge to govern the bodies. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 [cited 2017 Dec 10];25(2):e3980014. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003980014
http://dx.doi.org/10.1590/0104-070720160...
-1212. Ferreira MS, Traversini CS. A análise foucaultiana de discurso como ferramenta metodológica de pesquisa. Educ Real [Internet]. 2013 [cited 2016 Dec 10];38(1):207-226. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S2175-62362013000100012
http://dx.doi.org/10.1590/S2175-62362013...
O corpus da pesquisa foi submetido à análise cultural, com teorizações foucaultianas. Nesse processo analítico, as apreciações foram elaboradas na interface dos Estudos Culturais, antropológicos e foucaultianos, a partir da articulação das seguintes noções teóricas: governamentalidade e medicalização.1313. Foucault M. The birth of biopolitics: lectures at the College de France, 1978-79. New York, US: Palgrave Macmillan;2008.-1515. Gaudenzi P. Biopolitical mutations and discourses about normality: foucaultian actualizations in the biotechnological age. Interface (Botucatu) [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 12];21(60):99-110. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622015.0870
http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622015....
Durante todas as etapas da pesquisa foram respeitadas as diretrizes nacionais e internacionais de pesquisas envolvendo seres humanos. No caso do Brasil, foram seguidas as normas dispostas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Na França, segundo o Código de Saúde Pública (CSP) em vigor no período da pesquisa, não é necessário que os participantes de estudos não intervencionais, caso dos estudos etnográficos, assinem um termo de consentimento livre e esclarecido, dado que não incorrem em riscos e agravos à saúde. Nesses casos, orienta-se aos pesquisadores que solicitem apenas o consentimento verbal dos participantes. Solicitou-se, então, o consentimento verbal de todos os participantes, tanto no contexto hospitalar, quanto no domiciliar. Além disso, para a realização da pesquisa, obteve-se autorização escrita dos responsáveis pelo hospital e pela unidade de cuidados paliativos.
Para assegurar o anonimato dos participantes, eles foram identificados por pseudônimos. Para as pessoas em cuidados paliativos foram adotados nomes fictícios de personagens históricos do Brasil e da França. Os familiares foram identificados da seguinte forma: cuidador e nome fictício da pessoa em cuidados paliativos. Aos profissionais de saúde atribuiu-se a seguinte denominação: profissional, país de origem e número identificador.
RESULTADOS
Todos os profissionais de saúde entrevistados eram mulheres, quatro francesas e quatro brasileiras. O tempo de atuação na área de cuidados paliativos variou entre dois e 31 anos. Por se tratar de estudo realizado em unidades pequenas e de fácil reconhecimento dos sujeitos, procurou-se não identificar a profissão nos excertos de falas desses participantes. Em relação aos pacientes, no Brasil acompanhou-se duas mulheres, Tereza Cristina e Isabel, de 60 e 64 anos; e um homem, Pedro, de 61 anos. O período entre o início do acompanhamento até o óbito variou entre 15 e 45 dias. Na França, também se acompanhou duas mulheres, Marie e Jeanne, de 83 e 71 anos, e um homem, Louis, de 73 anos. O tempo de acompanhamento variou entre 11 e 40 dias. Todos os pacientes eram oncológicos.
No que diz respeito aos familiares, foram entrevistas três brasileiras e uma francesa, sendo duas filhas e duas esposas. Dos seis pacientes, cinco retornaram ao domicílio, e um, francês, foi encaminhado para um estabelecimento médico-social que abriga pessoas idosas com dependência, local que se tornou seu domicílio até o momento do óbito. Duas pacientes, uma brasileira e uma francesa, retornaram, após uma segunda hospitalização, para o domicílio da filha e da nora, respectivamente, devido ao aumento da dependência para realização das atividades básicas de vida. Destaca-se que as entrevistas em francês foram traduzidas livremente pela autora principal deste artigo.
Estratégias para a alta hospitalar em cuidados paliativos
As estratégias para efetivar a alta em cuidados paliativos, no Brasil, passam pelas tentativas de comunicação entre o hospital e os demais serviços que compõem a Rede de Atenção em Saúde: Sempre que demanda essa interlocução com a rede, acaba que fica para o serviço social dar conta. Em alguns casos, o que eu tento fazer é inserir o outro profissional junto. Em alguns casos eu faço contato com a rede, que têm algumas demandas mais específicas de cuidados da enfermagem. Eu já pedi para a enfermeira conversar com o enfermeiro lá da unidade. Dificilmente, a gente consegue que os médicos se envolvam mais nisso (Profissional brasileira 1).
Das três pessoas acompanhadas no cenário brasileiro, nenhuma foi contrarreferenciada: em uma situação, por ausência de comunicação entre a equipe do hospital e a equipe da ESF; nas outras duas, não existia vínculo das famílias com equipes do território.
Na inexistência de linha de cuidado específica para as pessoas em final de vida, elas acabam transitando entre um serviço de emergência e outro. Nestas idas e vindas, a família passa a conhecer e a suprir as necessidades do doente: E aí o que aconteceu: a minha irmã se virou daqui, dali, dali e daqui e também a minha outra cunhada. Elas contataram duas pessoas que tinham cama, uma estava emprestada, a outra, em princípio, está disponível para ser instalada lá em casa hoje, a partir das quatro horas [da tarde] (Esposa de Pedro).
Pra voltar pra casa foi o meu genro que me levou. É ele que passa o trabalho pra descer naquela escada [referindo-se à escada para acessar ao domicílio] (Isabel).
No Brasil, as famílias reorganizam suas casas e, assim, a pessoa em cuidados paliativos pode retornar ao domicílio. Quando o retorno não é possível, as instituições de longa permanência são a alternativa: A maioria das instituições que apoiam pessoas com uma maior dependência são muito caras, então depende da família dar conta desse gasto, porque a maioria dos idosos que a gente atende aqui, quando vão ter alta, eles saem bastante dependentes de cuidado. E a maioria das instituições, primeiro que nem acolhe quem está dependente de cuidado, nem acolhe um idoso que tem uma dependência (Profissional brasileira 1).
Na França, onde muitos idosos moram sós, profissionais financiados pelo sistema de saúde atuam diretamente no domicílio, auxiliando o doente ou as famílias nos cuidados: Na França, existem várias ajudas, de diferentes naturezas, para o retorno e a manutenção no domicílio, seja fornecendo material, cuidadores ou ajuda no domicílio, seja técnica, como tele-alarme, sistema de alerta e entrega de refeição. Tudo isso são ajudas que a gente vai utilizar e solicitar, que não são auxílios financeiros, mas que são ajudas concretas que vão ser realizadas no domicílio da pessoa (Profissional francesa 1).
Se, ainda assim, o retorno ao domicílio não for possível, pensa-se nos estabelecimentos médico-sociais como alternativa para a desospitalização: e, a partir do estado em que ele se encontra hoje, não é mais possível que ele retorne para a nossa casa, embora as conversas que eu tive com profissionais que pudessem atuar na nossa casa. (Esposa de Louis). Quando a gente está em uma instituição de longa permanência para idosos ou nas unidades de cuidados de longa duração, tu tem uma parte que é paga pela Sécurité Sociale, para tudo que é cuidado. Para todo o resto, a hotelaria, a comida, o manejo do paciente, a família tem que pagar ou o paciente. E na maioria das situações, os pacientes não têm dinheiro para pagar (Profissional francesa 1).
Entre a família, o Estado e a Justiça: entraves para o retorno ao domicílio
Dentre os entraves para o retorno ao domicílio, destacam-se a família, o Estado e a Justiça. A família, ao mesmo tempo que é um facilitador para a alta, também a limita: Na verdade, aqui, as maiores dificuldades que a gente tem de o paciente ir pra casa são relacionadas com a própria família no sentido de dificuldades de cuidar. Como é que vão cuidar? Como é que vão ter uma cama hospitalar, um torpedo de O 2 (Profissional brasileira 3). Eu tenho muito medo que ele morra em casa. Eu tenho muito medo. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas não é a gente que comanda, né!? Não é a gente que comanda. Se Deus quer assim, o que eu vou fazer? Por isso que eu não queria trazer ele pra casa, no caso. [...] Eu tenho a impressão que tu perder o teu ente querido dentro da tua casa deve ser tão traumático depois. Tão traumático, sabe? Eu acho que é mais traumático que se tu perde no hospital (Esposa de Pedro).
As limitações que a família impõe estão relacionadas com as responsabilidades e o cuidado. Quando as pessoas entram na fase final da vida, muitas vezes ocorrem transformações físicas que provocam vergonha por parte dos doentes e medo por parte dos familiares, que não sabem como reagir no momento da chegada da morte. Tanto no Brasil como na França, o medo relaciona-se com a morte no espaço da casa: Tem famílias que são completamente contra [o retorno ao domicílio], porque elas têm medo. Então, é todo um processo de... é um medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Eles têm medo que o final seja traumático, que a pessoa fique com falta de ar. Então a gente explica que existem tratamentos e que a gente pode conseguir um final de vida sereno, que tem pessoas que dormem. E também tem a dificuldade dos domicílios que não tem como serem adaptados, com escadas, com peças muito pequenas, onde a gente não consegue colocar um leito hospitalar, por exemplo (Profissional francesa 3).
Na França, a principal dificuldade em relação à alta hospitalar diz respeito ao tempo das internações e ao custo dos estabelecimentos que são alternativas ao domicílio. Nesse país, as unidades de cuidados paliativos são classificadas como serviços de curta estadia/permanência. Dessa forma, tratam-se de unidades financiadas pelas atividades realizadas e pelo tempo que as pessoas permanecem hospitalizadas: A grande, grande dificuldade, eu penso que é a T2A [Tarification des Activités - tarifação de atividades, em tradução livre]2 Tarification des Activités (T2A) - Na França, os serviços hospitalares de curta permanência, como as unidades de cuidados paliativos, são financiados por meio da tarifação de atividades do hospital (T2A), conforme as atividades realizadas e a duração média de internação (Durée Moyenne de Séjour - DMS). Nestes setores, as hospitalizações que duram até 12 dias são financiadas de acordo com as atividades desenvolvidas. Em internações que duram menos de 4 ou mais de 13 dias, a instituição pode não receber o valor integral por procedimento. que faz com que a gente tenha uma duração média de internação de 14 dias. E que no final de 14 dias, nós temos a impressão de jogar o paciente pra fora. É isso também. É uma grande dificuldade. Porque se a gente tivesse uma DMS [Durée Moyenne de Séjour - tempo médio de permanência, em tradução livre] que fosse maior e que não tivesse T2A, então nós teríamos dois leitos, sendo um de média estadia e não de curta estadia. E haveria muitos pacientes com os quais ficaríamos até o final (Profissional francesa 3).
Um último aspecto que desafia o retorno ao domicílio diz respeito ao processo de judicialização da saúde. No Brasil, ao se depararem com a possibilidade de voltar para casa, sem condições de cuidarem e fornecerem o suporte tido como o “ideal” para os cuidados com o familiar em final de vida, é comum recorrer à Justiça para garantir a permanência no hospital e, assim, assegurar a continuidade da assistência: Cheguei na unidade por volta das 9h05min. Ao entrar, cumprimento as pessoas ali presentes. Fico parada em um canto aguardando a reunião da equipe. No corredor, presencio uma pequena discussão entre a oncologista e outros residentes médicos. Eles discutiam a situação de uma paciente chamada Teresa Cristina. A médica relata que a filha da paciente havia entrado com uma ordem judicial para Teresa Cristina permanecer internada no hospital e que, além disso, a filha havia divulgado fotos da emergência do hospital em uma rede social. [...] A reunião contou com a presença de médicos, enfermeiras e uma nutricionista. A médica lidera as discussões. Ela apresenta os médicos presentes e depois as enfermeiras. A reunião começa quando ela pede para a enfermeira apresentar a situação de cada paciente internado. A enfermeira apresenta a situação da primeira paciente, dona Teresa Cristina. A equipe discute sobre o fato das fotos divulgadas no Facebook. Começam a fazer um tom de indignação. Por outro lado, um dos médicos diz que é preciso cuidar desta família também. Que a reação da menina, filha de Teresa Cristina, pode ter sido a forma como ela expressou todo o sofrimento de ver a mãe morrendo há quase oito anos. Outra profissional concorda com ele, falando do comportamento dos jovens e a relação com as redes sociais. Ambos falam que essa família vive um esgotamento da situação de adoecimento de Teresa Cristina, a qual perdura por oito anos e que neste momento parece chegar ao fim [...] (Diário de campo, 26 de maio de 2015).
Na França, o processo de judicialização ocorre de maneira inversa: os hospitais vão aos tribunais para solicitar que as famílias cuidem de idosos doentes e abandonados nestes estabelecimentos. Para exemplificar a complexidade dessas situações, no hospital em que foi realizada a pesquisa, existe uma equipe especializada em promover a alta hospitalar. Esse serviço é conhecido como Unidade de Altas Complexas (USC). Ele é composto por equipe multiprofissional que se desloca pela instituição para acelerar o processo de alta e, quando necessário, acionar a Justiça: Cheguei no pavilhão Dauphiné por volta das 8h50min para o encontro com monsieur X, responsável pela Unité de Sortie Complexe - USC. No encontro, ele explica que o objetivo do trabalho da equipe é diminuir o tempo médio de internação, além de facilitar ou acelerar o processo de alta hospitalar. Um objetivo indireto é a desocupação de leitos para que pacientes que estão em macas possam ser melhor acolhidos. Segundo ele, em média, oito pacientes estão hospitalizados em macas nos corredores de cada unidade. Após as investidas da equipe da USC, esse número tem diminuído. Para ele, como responsável pela equipe e como agente que implementa a proposta do hospital, a projeção é de não se ter pacientes nos corredores e aliviar o serviço de urgência. Dentre as dificuldades no trabalho da equipe, ele relata o problema do enquadramento de toda a equipe, a família e o paciente em um mesmo projeto de vida. Ele diz que os casos de pessoas idosas com demência acabam sendo mais difíceis de organizar, especialmente pela limitação de encontrar uma vaga em um estabelecimento médico-social. Em geral, o tempo de espera para acessar algum desses estabelecimentos varia entre um e três anos. [...] Nas situações em que a família se recusa a levar o paciente para casa, insistindo na hospitalização, a equipe recorre às ferramentas jurídicas, na tentativa de convencer as famílias, especialmente os filhos, a cuidarem dos pais (Diário de campo, 12 de janeiro de 2016).
DISCUSSÃO
Neste estudo, a Atenção Básica apareceu como estratégia que favorece o retorno e a permanência das pessoas no domicílio. Porém, nem todas as pessoas em cuidados paliativos conseguem se beneficiar desse acompanhamento. “Apesar de ser um sistema baseado em princípios de territorialização e da coordenação das ações e existir há várias décadas, existe ainda fragilidade na integração entre a Atenção Primária em Saúde e cuidados especializados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.1616. Protasio APL, Silva PB, Lima EC, Gomes LB, Machado LS, Valença AMG. Evaluation of the reference and counter-reference system based on the responses of the primary care professionals in the first external evaluation cycle of pmaq-ab in the state of Paraíba. Saúde debate [Internet]. 2014 [cited 2017 Oct 15];38(spe):209-20. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S016
http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014...
:218 Dentre algumas limitações, destaca-se a ausência de equipes em alguns territórios, a falta de comunicação entre os serviços hospitalares e os da APS e o desconhecimento dos profissionais sobre o fluxo de encaminhamentos na rede.
No cenário brasileiro, além de ser responsável pelos cuidados, a família deve providenciar os meios para tal. Devido ao grau de dependência e à elevada demanda de cuidados, especialmente na fase final da vida, os familiares precisariam de apoio dos serviços que atuam no domicílio, os quais podem sanar dúvidas e providenciar suporte quando necessário.1717. Marcucci FCI, Perilla AB, Brun MM, Cabrera MAS. Identification of patients referred to Palliative Care in the Brazilian Family Health Strategy: an exploratory study. Cad Saúde Colet [Internet]; 2016 [cited 2017 Dec 14];24(2):145-52. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1414-462X201600020012
http://dx.doi.org/10.1590/1414-462X20160...
Entretanto, é possível notar fragilidade no que se refere aos recursos disponibilizados pelo SUS para subsidiar os cuidados em final de vida no domicílio. Com a introdução de equipamentos, medicações, curativos de cobertura e outras tecnologias, a saúde, o controle da dor, a prevenção de feridas e a diminuição do sofrimento passam pela utilização desses recursos.1414. Illich I. Medical Nemesis: the expropriation of health. New York, US: Pantheon Books;1975. Assim, se por um lado o uso de tecnologias em saúde medicalizou os processos vitais, por outro, promoveu o alívio do sofrimento e a promoção da morte menos penosa.
Dessa forma, acredita-se que utilizar as famílias como estratégia que favorece o retorno ao domicílio pode ser interessante, desde que haja suporte para os que cuidam. Identifica-se que o Estado mobiliza e conduz os profissionais de saúde a capacitarem as famílias para o cuidado em final de vida. No Brasil, tendo em vista o tamanho da população e a capacidade de oferta de serviços, os profissionais intervêm de maneira pontual, aconselhando as famílias. Os profissionais são os experts sobre os cuidados com o corpo. Como eles não podem intervir junto ao grande número de pessoas, “capacita-se” os familiares e dita-se as regras sobre como devem ser realizados os cuidados. De tempos em tempos, visitas são efetuadas no domicílio, a fim de vigiar e corrigir o que não foi feito conforme os protocolos. Dessa forma, percebe-se que, mesmo no espaço da casa, as pessoas continuam sob o controle das práticas médicas.1818. Oliveira SG, Kruse MHL. Better off at home: safety device. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2017 [cited 2017 Dec 03];26(1):e2660015. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017002660015
http://dx.doi.org/10.1590/0104-070720170...
Em situações em que o retorno ao domicílio não é possível, os estabelecimentos médico-sociais, também denominados de instituições de longa permanência para pessoas com ou sem dependência, têm sido uma alternativa crescente, especialmente no cenário francês. Esses estabelecimentos se tornam o lugar de vida de adultos e idosos dependentes de cuidados. Na França, eles são financiados pelo sistema público de saúde, exceto aqueles que oferecem cuidados personalizados, tornando-se, assim, mais onerosos.1919. Desforges C, Montaz L. Soins palliatifs et précarité : l’impossible équation ? Étude sur l’hébergement social en unité de soins palliatifs. Médecine Palliative [Internet]. 2015 [cited 2017 Dec 03];14(1):31-9. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2014.10.002
https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2014...
Percebe-se, nesse cenário, que o final da vida continua sendo um processo medicalizado e conduzido pelos profissionais de saúde, mesmo em situações em que se oportuniza aos pacientes e famílias acesso à filosofia dos cuidados paliativos.
Na fala das profissionais, especialmente, o das francesas, fica evidenciado o modo como os números regem a lógica do mercado da saúde. Nesse sentido, o conceito de numeramentalidade (neologismo) torna-se produtivo para discutir o modo como o saber estatístico determina as condutas no campo da educação e na área da saúde, na contemporaneidade. Esse conceito, inspirado na noção de governamentalidade, diz respeito “a combinação entre as artes de governar e as práticas e normatividades em torno do quantificar, do medir, do contabilizar, do seriar, as quais orientam a produção enunciativa de práticas sociais, nos meios institucionais”.2020. Bello SEL, Sperrhake R. Educação e risco social na curricularização do saber estatístico no Brasil. Acta Scientiarum. Education. [Internet]. 2016 [cited 2018 Mar 28];38(4):415-24. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.4025/actascieduc.v38i4.27882
https://dx.doi.org/10.4025/actascieduc.v...
:416 É preciso mostrar números e valores para que se possa financiar os serviços e se compor as estatísticas e registros do Estado, os quais servem para mostrar a efetividade das ações propostas pelo Governo para gerir a vida e a morte. A partir do momento em que o direito à “boa morte”, assim como o direito à saúde, passou a ser objeto de consumo, o Estado necessitou levantar e classificar dados com o objetivo de apontar resultados das políticas implementadas. Nesse entendimento, as pessoas se tornam sujeitos de direito e objetos da ciência, já que exigem as intervenções possibilitadas pela tecnologia, ao mesmo tempo que são passíveis de identificação e classificação, de modo a legitimar as condutas do Estado.2121. Latour B. We have never been modern. Cambridge, US: Harvard University Press;1993.
Finalmente, ao perceber a saúde como um direito, e entendendo-se como sujeitos de direitos, as pessoas procuram a justiça quando não veem suas necessidades de saúde atendidas. A judicialização da saúde se refere ao modo como a justiça passa a intervir nas decisões de um campo que, até então, não lhe pertencia. Recorre-se aos tribunais para acesso a tratamentos, exames e internações.2222. Alonso JP. El derecho a una muerte digna en Argentina: la judicialización de la toma de decisiones médicas en el final de la vida. Physis Rev Saúde Coletiva [Internet]. 2016 [cited 2018 Mar 29]; 26(2):569-89. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312016000200012
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312016...
Hoje, ao se tentar desmedicalizar alguns processos, como o morrer, “não se consegue sair da medicalização e todos os esforços nesse sentido remetem a um saber médico”.2323. Foucault M. Crise da medicina ou crise da antimedicina. Verve[Internet]. 2010 [cited 2016 Dec 20];18(1):167-94. Available from: Available from: https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/view/8646
https://revistas.pucsp.br/index.php/verv...
:185 Isso porque, mesmo quando se tenta devolver aos sujeitos o direito de conduzir o final de suas vidas, o campo da saúde encontra outras formas de se apropriar dessa etapa da vida. Criam-se normas e padrões de comportamento para esse período, desenvolvem-se mecanismos para controlar a dor, afastar o sofrimento, o que reaproxima as pessoas daquilo que Foucault chamou de aparelho de medicalização coletiva: o hospital.2323. Foucault M. Crise da medicina ou crise da antimedicina. Verve[Internet]. 2010 [cited 2016 Dec 20];18(1):167-94. Available from: Available from: https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/view/8646
https://revistas.pucsp.br/index.php/verv...
Acredita-se que o estudo possui limitações que se relacionam ao fator tempo. Provavelmente, se houvesse tempo de acompanhar as pessoas por um maior período, seria possível apreender outros elementos e outras especificidades do retorno de pessoas em cuidados paliativos ao domicílio. Entretanto, pesquisar o final da vida exige flexibilidade e adaptação ao tempo das pessoas em processo de morrer e suas famílias, que pode ser mais longo e incapacitante para alguns do que para outros. Apesar das limitações, o estudo contribui para a área da enfermagem e da saúde pública, na medida em que descreve os desafios presentes na operacionalização das estratégias de cuidado junto a pessoas com doença fora de possibilidade de cura e suas famílias. Apontam-se elementos que podem ser explorados, visando a construção de uma linha de cuidado para o final da vida.
CONCLUSÃO
No Brasil, as políticas públicas de saúde vislumbram o domicílio como local potente para o cuidado. A família deve se ocupar daqueles que estão em final de vida. Os serviços da rede de atenção em saúde deveriam se articular para facilitar o deslocamento das pessoas conforme as suas necessidades de saúde. Apesar disso, o hospital ainda falha na efetivação do processo de referência e contrarreferência. As pessoas em cuidados paliativos retornam ao domicílio com suas famílias, pois o hospital precisa dos leitos, mas saem desamparadas, tendo que arcar com os custos para a compra de materiais e dispositivos necessários para o cuidado e controle dos sintomas frequentes no final da vida.
Na França, o domicílio também é o local por excelência para o final da vida. O Estado dispõe recursos financeiros para auxiliar na contratação de cuidadores e financia a transformação dos domicílios em um ambiente que possui praticamente as mesmas condições que um leito hospitalar. Embora haja investimento e suporte, as famílias não se sentem confortáveis para receber em casa uma pessoa em final de vida. Dessa forma, os estabelecimentos médico-sociais são locais nos quais os indivíduos são institucionalizados e terminam os seus dias.
Assim, em meio a essa luta entre os diferentes saberes e poderes, transformam-se as relações entre a vida e a morte dentro do hospital e no domicílio. Porém, muito além da questão do lugar em que o final da vida ocorre, trata-se aqui dos sentidos dados a este acontecimento. Tais sentidos têm forte atravessamento dos discursos da ciência, da tecnologia, do saber médico e do saber jurídico. Eles pautam os desejos das pessoas que estão em final de vida, estabelecendo o que pode, ou não, ser uma morte digna.
AGRADECIMENTO
À Doutora Noelle Carlin, do Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Grenoble, França.
REFERENCES
- 1. Cordeiro FR, Kruse MHL. Production of an end-of-life curriculum vitae through the pedagogical apparatus of the media. Interface (Botucatu) [Internet]. 2015 [cited 2017 Aug 28]; 19(55):1193-1205. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014.0199
» http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014.0199 - 2. Castra M. L’émergence des soins palliatifs dans la médecine, une forme particulière de militantisme de fin de vie. Quaderni [Internet]. 2012 [cited 2017 Nov 28];68:25-35. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2015.08.007
» https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2015.08.007 - 3. Baptista MKS, Santos RM, Duarte SJH, Comassetto I, Trezza MCSF. The patient and the relation between power-knowledge and care by nursing professionals. Esc Anna Nery [Internet]. 2017 [cited 2018 Mar 29];21(4):e20170064. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2017-0064.
» http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2017-0064. - 4. Alonso JP. The Construction of Dying as a Process: the Management of Health Professionals at the End of Life. Univ. Humanist [Internet]. 2012 [cited 2017 Sep 14];74:123-144. Available from: Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a07.pdf
» http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a07.pdf - 5. Menezes RA, Barbosa PC. The construction of a “good death” at different stages of life: reflections on the palliative care approach for adults and children. Ciênc Saúde Coletiva[Internet]. 2013 [cited 2017 Aug 25];18(9):2653-2662. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000900020
» http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000900020 - 6. Ministére des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Plan national trienal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie - 2015/2018. [Internet]. Paris;2015 [cited 2017 Nov 26]. Available from: Available from: http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
» http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf - 7. Devalois B. Loi du 2 février 2016 : un droit à la sédation à visée bien traitante, pas à visée euthanasique. Médecine Palliative [Internet]. 2016 [cited 2017 Dec 02];15(1):1-3. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2016.02.001
» https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2016.02.001 - 8. Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução n. 1.995, 09 de agosto de 2012: Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes [Internet]. Brasília (DF): CFM; 2012. [cited 2017 Nov 26]. Available from: Available from: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf
» http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf - 9. Geertz C. The interpretation of cultures. New York: Basic Books;1973.
- 10. Damico J. Gestão da vida a partir do esporte e lazer em Grigny Centre - França. Movimento [Internet]. 2012 [cited 2017 Dec 02];19(1):11-31. Available from: Available from: https://doi.org/10.22456/1982-8918.29826
» https://doi.org/10.22456/1982-8918.29826 - 11. Cordeiro FR, Kruse MHL. The right to die and power over life: knowledge to govern the bodies. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 [cited 2017 Dec 10];25(2):e3980014. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003980014
» http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003980014 - 12. Ferreira MS, Traversini CS. A análise foucaultiana de discurso como ferramenta metodológica de pesquisa. Educ Real [Internet]. 2013 [cited 2016 Dec 10];38(1):207-226. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S2175-62362013000100012
» http://dx.doi.org/10.1590/S2175-62362013000100012 - 13. Foucault M. The birth of biopolitics: lectures at the College de France, 1978-79. New York, US: Palgrave Macmillan;2008.
- 14. Illich I. Medical Nemesis: the expropriation of health. New York, US: Pantheon Books;1975.
- 15. Gaudenzi P. Biopolitical mutations and discourses about normality: foucaultian actualizations in the biotechnological age. Interface (Botucatu) [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 12];21(60):99-110. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622015.0870
» http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622015.0870 - 16. Protasio APL, Silva PB, Lima EC, Gomes LB, Machado LS, Valença AMG. Evaluation of the reference and counter-reference system based on the responses of the primary care professionals in the first external evaluation cycle of pmaq-ab in the state of Paraíba. Saúde debate [Internet]. 2014 [cited 2017 Oct 15];38(spe):209-20. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S016
» http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S016 - 17. Marcucci FCI, Perilla AB, Brun MM, Cabrera MAS. Identification of patients referred to Palliative Care in the Brazilian Family Health Strategy: an exploratory study. Cad Saúde Colet [Internet]; 2016 [cited 2017 Dec 14];24(2):145-52. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1414-462X201600020012
» http://dx.doi.org/10.1590/1414-462X201600020012 - 18. Oliveira SG, Kruse MHL. Better off at home: safety device. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2017 [cited 2017 Dec 03];26(1):e2660015. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017002660015
» http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017002660015 - 19. Desforges C, Montaz L. Soins palliatifs et précarité : l’impossible équation ? Étude sur l’hébergement social en unité de soins palliatifs. Médecine Palliative [Internet]. 2015 [cited 2017 Dec 03];14(1):31-9. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2014.10.002
» https://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2014.10.002 - 20. Bello SEL, Sperrhake R. Educação e risco social na curricularização do saber estatístico no Brasil. Acta Scientiarum. Education. [Internet]. 2016 [cited 2018 Mar 28];38(4):415-24. Available from: Available from: https://dx.doi.org/10.4025/actascieduc.v38i4.27882
» https://dx.doi.org/10.4025/actascieduc.v38i4.27882 - 21. Latour B. We have never been modern. Cambridge, US: Harvard University Press;1993.
- 22. Alonso JP. El derecho a una muerte digna en Argentina: la judicialización de la toma de decisiones médicas en el final de la vida. Physis Rev Saúde Coletiva [Internet]. 2016 [cited 2018 Mar 29]; 26(2):569-89. Available from: Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312016000200012
» http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312016000200012 - 23. Foucault M. Crise da medicina ou crise da antimedicina. Verve[Internet]. 2010 [cited 2016 Dec 20];18(1):167-94. Available from: Available from: https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/view/8646
» https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/view/8646
-
ORIGEM DO ARTIGO. Extraído da tese - O retorno ao domicílio em cuidados paliativos: interface dos cenários brasileiro e francês, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2017.
-
FINANCIAMENTO. A pesquisa foi financiada pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
-
APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, aprovado pelo Parecer n° 1.072.851, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n° 43747015.5.0000.5327.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
08 Abr 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
22 Dez 2017 -
Aceito
13 Abr 2018