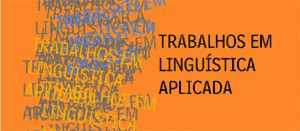Resumo
Este trabalho objetiva problematizar o ensino e a aprendizagem da escrita na universidade, apresentando uma experiência investigativa com acadêmicos do 2º período do curso de Matemática, na disciplina de Leitura e Produção de Textos, durante o segundo semestre de 2017. A execução da pesquisa considerou a aplicação de uma estratégia didática para apropriação do gênero acadêmico resumo/abstract, qual seja, a de retextualização, em que o estudante deveria ler um artigo científico da área com o propósito de escrever o resumo correspondente, colocando-se na posição de autor do artigo lido, cujo resumo circularia no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para consulta de pesquisadores e demais acadêmicos. Dessa forma, esperava-se que a mobilização de recursos linguísticos e enunciativos mantivesse o tom assumido pelo artigo científico em questão, porém a partir da organização arquitetônica do gênero dada pelo acadêmico. A pergunta de pesquisa girou em torno da seguinte questão: Quais são os limites entre a palavra do outro e a do acadêmico, considerando um processo de retextualização que tensiona os lugares destinados aos enunciadores e coloca em xeque o processo de autoria? Com tal estratégia, compreendeu-se, ainda que panoramicamente, como a universidade e os seus sujeitos regulam o universo discursivo do outro e garantem a manutenção dialógica da escrita. Para chegar a essa conclusão, adotou-se um quadro teórico que se fundamentou na perspectiva bakhtiniana e foucaultiana de linguagem (BAKHTIN, 2009BAKHTIN, M. (Volochínov). (1929) Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.; FOUCAULT, 1996FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996.) e nos estudos do letramento acadêmico (RINCK, BOCH, ASSIS, 2015), seguindo uma metodologia de abordagem qualitativa, com finalidade aplicada.
Palavras-chave:
escrita acadêmica; estratégia didática; produção de conhecimento
Abstract
This article aims at discussing the teaching and learning of writing in the university, by presenting an investigative experience with academics from the second period of Mathematics enrolled in the discipline Academic Texts Reading and Writing, which took place in the second semester of 2017. The execution of the research considered the application of a didactic strategy for the appropriation of the academic genre abstract consisting of re-contextualization activities in which the student should read a scientific paper related to the subject matter of Mathematics for the purpose of writing it corresponding abstract. To situate the practice, the academic students were asked to place themselves in the position of the author of the article whose objective would be to post the summary of it in a journal portal known as CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel) for open consultation to researchers and other academics. Therefore, it was expected that the mobilization of linguistic and enunciative resources maintained the tone assumed in the article from the perspective of the genre architectural organization given by the students. The research question revolved around the following question: what are the limits between the word of the other and that of the academic students, considering a process of retextualization that stresses the places destined to the enunciators and puts in check the process of authorship? From withing the use of such a strategy, it was understood, albeit panoramically, how the university and its subject matters regulate the discursive universe of the other and guarantee the dialogical maintenance of writing. To reach this conclusion, a theoretical framework based on the bakthinian and foucaultian conceptions of language (BAKHTIN, 2009BAKHTIN, M. (Volochínov). (1929) Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.; FOUCAULT, 1996FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996.) and academic literacy studies (RINCK, BOCH, ASSIS, 2015) was adopted, following a methodology of qualitative approach with applied purposes.
Keywords:
academic writing; didactic strategy; knowledge production
1. Percursos e perspectivas
O exercício analítico presente neste artigo teve como base a condução de uma experiência formativa para o ensino da escrita na universidade, a partir da aplicação de uma estratégia didática que focalizou a compreensão e o controle da palavra alheia, possibilitando a emergência de um novo território discursivo.
A perspectiva adotada assume o ensino da leitura e da escrita na universidade contemporânea como recurso constitutivo de produção do conhecimento e, nesse viés, como práticas que dão materialidade à regulação da palavra do outro em busca do dizer próprio, já que é na atitude responsiva, ou seja, na recepção valorativa de um dito, que é possível estabelecer enunciações outras que valorizem o exercício autoral e genuíno com a escrita.
Nessa esteira, a referida experiência formativa partiu da leitura de um artigo científico, proveniente da área de ensino de matemática financeira, com vistas à retextualização do referido texto para um resumo informativo no formato abstract2 2 A atividade de escrita focalizada neste artigo teve origem na disciplina de Leitura e Produção de Texto para o curso de Licenciatura em Matemática, em uma universidade pública, durante o segundo semestre de 2017, resultando na escrita de 16 resumos. . O comando de escrita da atividade se baseou em uma condição de produção planejada, em que o acadêmico deveria elaborar o seu projeto de escrita colocando-se na posição de autor do artigo lido, cujo resumo circularia no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para consulta de pesquisadores e demais acadêmicos. Dessa forma, esperava-se que a mobilização de recursos linguísticos e enunciativos mantivesse o tom assumido pelo artigo científico em questão, porém a partir da organização arquitetônica do gênero dada pelo acadêmico.
Resultam daí algumas importantes reflexões acerca da noção de gênero discursivo, conforme compreendida por Bakhtin (2003)BAKHTIN, M. (1979) Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. e seu círculo. Na dimensão do conteúdo temático, tem-se a unidade de sentido, o objeto do discurso movimentado para além da região verbal do texto e que irá garantir a ativação de conhecimentos que levarão em conta a interrelação entre os enunciadores. Em outras palavras e a partir da perspectiva deste artigo, o tema deve regular a escrita do acadêmico que tem em vista quem serão os seus interlocutores e quais as expectativas que guardam do resumo a ser apresentado. Isto é, a manutenção dos conceitos básicos e dos encaminhamentos analítico-metodológicos precisa ser resguardada no dizer, porém articulada ao modo de escrever do estudante.
Pensando nisso, o estilo, enquanto seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, é mobilizado tanto pelos modos de escrita do acadêmico no exercício de retextualização, quanto pelo domínio que demonstra ter do gênero discursivo e de suas condições enunciativas, somado aqui o próprio tom evocado pelo autor do artigo e também por uma ideia de não-estilo e precisão semântica que circunda a escrita acadêmica.
A composicionalidade, por sua vez, é a organização material do enunciado que se subordina às esferas da atividade nas quais circulam os gêneros. A esfera de atividade acadêmica demanda do gênero discursivo resumo informação suficiente para o leitor, de modo que este possa decidir sobre a conveniência da leitura integral do texto, expondo objetivos, metodologias e amostras, resultados e conclusões (cf.: Norma 88 da ABNT). Assim, a esfera de atividade acadêmica, representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regula os modos de dizer conforme uma concepção particular de produção do conhecimento, baseada no raciocínio lógico e em um modelo científico de predição, que se fundamenta na abordagem hipotético-dedutiva, da qual a estrutura do texto acadêmico costuma ser tributária. Nesse caso, tem-se mais um relato de conhecimentos produzidos do que um exercício retórico-argumentativo. Relativamente a este estudo, como se trata de turmas do curso de licenciatura em Matemática, é possível que as marcas metadiscursivas e estruturais atentem-se para a negociação interativa com os leitores vinculados a essa comunidade específica.
Há, assim, uma tensão própria do jogo de linguagem marcada pelo controle do dizer e, nessa medida, pelas negociações constantes que afetam os modos de organização dos textos. No âmbito deste trabalho, o gênero discursivo resumo acadêmico é construído a partir de um comando de escrita que estabelece as configurações do texto, as quais são convencionalizadas por um jogo polifônico, cuja articulação cabe ao produtor textual. Este deve escolher, a par das limitações do gênero resumo, as estratégias de apagamento e de substituição, selecionando os conteúdos relevantes e suprimindo as informações redundantes; bem como construindo novas proposições pressupostas ou inferidas.
À luz dessas escolhas, entra em curso um processo de autoria, revelado, por exemplo, na regulação do discurso especializado, a partir do grau de conhecimento do acadêmico, que suprime, apaga, elide, retoma, adiciona, entre outras ações linguístico-discursivas que julgar pertinentes. No dizer de Bakhtin, a vontade discursiva do falante se realiza, mas levando em consideração que “cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva”. (BAKHTIN, 2003BAKHTIN, M. (1979) Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003., p. 297).
Em termos de materialidade linguística, “as esferas de uso da linguagem não são uma noção abstrata, mas uma referência direta aos enunciados que se manifestam nos discursos”. (MACHADO, 2014MACHADO, I. (2005) Gêneros discursivos. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2014, p. 151-166., p. 156). Sob esse conceito, a descrição esquemática de abstracts revela pelo menos cinco movimentos de composicionalidade do gênero, também chamados por Motta-Roth e Hendges (1996)MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. (2010) Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola. de movimentos retóricos: 1. Situar a pesquisa (estabelecer interesse profissional no tópico; e/ou fazer generalizações do tópico; e/ou citar pesquisas prévias; e/ou estender pesquisas prévias; e/ou contra-argumentar pesquisas prévias; e/ou indicar lacunas em pesquisas prévias); 2. Apresentar a pesquisa (indicar as principais características; e/ou apresentar os principais objetivos; e/ou levantar hipóteses); 3. Descrever a metodologia; 4. Sumarizar os resultados; 5. Discutir a pesquisa (elaborar conclusões; e/ou recomendar futuras aplicações). (MOTTA-ROTH, HENDGES, 1996MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. (2010) Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola., p. 68). Tais movimentos solicitam marcas textuais e discursivas específicas, a partir das quais os enunciados que compõem os gêneros se moldam e canalizam as esferas de uso da linguagem acadêmica.
Os referidos movimentos, no entanto, são fruto de um exercício interacional que, no âmbito deste trabalho, foi intermediado por uma estratégia didática, em que o acadêmico deveria não só escrever o resumo proveniente do artigo, como também saber articular as dimensões do gênero face à palavra posta em uso por um outro. Nesse caso, o exercício de escrita exigiria o domínio sobre a compreensão do artigo científico lido, assim como dos modos de dizer da academia. Ainda, demandaria do produtor textual uma escrita que colocasse em fluxo aquilo o que é autorizado pela leitura do artigo, respeitando os limites do dizer do outro.
Logo, na retextualização do gênero artigo científico para o gênero resumo, a dimensão interativa se daria em dois planos enunciativos: entre o acadêmico e o artigo científico; e entre o produtor do resumo e seus leitores em potencial, que contam, devido às circunstâncias de produção textual engendrada pela estratégia didática, com a fidelidade das informações presentes no resumo. No primeiro caso, o acadêmico deveria se atentar, no seu exercício de leitura e compreensão, para a construção de sentido possibilitada pelo artigo. No último caso, com a composicionalidade ou movimentos retóricos padrões do gênero resumo, bem como com o estilo que atendam, ambos, às particularidades dos leitores que se tem em vista.
Passo agora a abordar os discursos sobre a escrita e o seu ensino, articulando-os ao contexto acadêmico, com o fim de demonstrar o controle e a regulação de que estão passíveis e os efeitos disso na escrita que se origina no ensino superior.
2. Os discursos sobre a escrita e o seu ensino na universidade
No contexto deste trabalho, parto do pressuposto de que a regulação e o controle são constitutivos da escrita acadêmica. A fim de melhor compreender o que se afirma, chamo Foucault (1996)FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996. para potencializar essa discussão à luz dos procedimentos de regulação interna do discurso, compreendidos a partir das categorias de comentário, autor e disciplina.
No que tange ao comentário, entende-se que os discursos são continuamente retomados, abrindo novas possibilidades de fala. As retomadas discursivas acontecem por meio de polifonias várias que asseguram o que já foi dito e garantem a perpetuação do poder instituído pela palavra primeira. A par disso, “o comentário não tem outro papel, sejam quais foram as técnicas empregadas, senão o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro”. (FOUCAULT, 1996FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996., p. 25). Relativamente ao autor, este é uma instância enunciativa a partir da qual certos discursos orbitam e são assegurados pelo nome que os leva adiante. Compreende-se o autor, assim, “como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência”. (FOUCAULT, 1996FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996., p. 26). A disciplina, por sua vez, é coercitiva, bem como os demais procedimentos internos, pois o discurso produzido sob sua égide tem de seguir as suas regras de funcionamento. Ou seja, “é aquilo que é requerido para a construção de novos enunciados”. (FOUCAULT, 1996FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996., p. 36).
Nos discursos sobre a escrita, há uma simbiose de vozes, que se manifestam na retomada de já-ditos (comentário), na coerência de sentidos (autoria) e na ordem que seguem seus enunciados (disciplina). Dizendo de outro modo, o comentário é responsável pelo que se diz. No âmbito dos discursos sobre a escrita e sua aprendizagem, isso se concretiza, principalmente, nas noções sobre texto e suas propriedades, bem como num conjunto de conhecimentos (linguístico, de mundo, de tipos e gêneros textuais e sociointeracional3 3 Sobre isso, ler ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2011. ) em que se fundou e, ainda se funda, o ensino do texto, seja ele na escola ou na universidade. Já o autor legitima o dizer. Nesse aspecto, quem diz ganha expressão nas abordagens que se propuseram a estudar o texto, como a Linguística Textual, a Análise do discurso, a Pragmática, a Teoria da Comunicação, os Letramentos, entre outras, por intermédio da voz de diferentes estudiosos. A disciplina, por sua vez, está associada ao como se diz, entrando em cena os modos de dizer que regulam as formas de leitura e escrita do sujeito na universidade.
Ivanic (2004), no curso das contribuições de Figueiredo e Bonini (2006)FIGUEIREDO, D. de C.; BONINI, A. (2006) Práticas discursivas e ensino do texto acadêmico: concepções de alunos de mestrado sobre a escrita. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 6, n. 3, p. 413-446., identifica seis discursos sobre a escrita e sobre o ensino-aprendizagem da escrita. São eles: discurso das habilidades, discurso da escrita como criatividade, discurso da escrita como processo, discurso de gênero sobre a escrita, discurso da escrita como prática social e discurso sociopolítico sobre a escrita. Tem-se, assim, uma rede discursiva sobre a escrita e o seu ensino, constantemente tensionada pelas disputas de poder e de legitimidade entre os elos que a constituem.
No tocante universitário, há uma aceitação geral dos gêneros acadêmicos (discurso de gênero sobre a escrita) como articuladores das práticas de leitura e escrita. A depender, no entanto, das prescrições pedagógicas que perpassam o seu ensino (ementas, planos de ensino/aula, material didático, etc.) é possível vislumbrar um hibridismo teórico que regula seus modos de ação na academia, principalmente, na associação dos pressupostos da Linguística Textual, com as categorias de textualidade; e do Letramento Acadêmico, com as lições relativas à aprendizagem de práticas formais de escrita e leitura.
Acerca do ensino de gêneros, a forma de compreensão desse construto pode recair na adequação dos textos às características mais gerais e elementares assumidas pelos gêneros, sem que haja, da parte do estudante, uma conscientização crítica que fundamente suas práticas de escrita. Do ponto de vista deste artigo, porém, optar pela mediação dos gêneros no ensino da escrita já é se comprometer com a formação crítica do acadêmico, uma vez que eles não são meras categorias classificatórias, mas, ao contrário, formas de vida dos discursos que transitam nas diferentes esferas da sociedade, cuja manifestação está circunscrita nas relações de poder implicadas no jogo do saber-dizer. Trata-se, então, de como, por meio dos gêneros, ensina-se a selecionar elementos da realidade, posicionada histórica e socialmente, (re) configurando-os na constituição do objeto de discurso. Isso, obviamente, não quer dizer que um ensino de escrita direcionado pelos gêneros discursivos esteja isento de controle e regulação, uma vez que a estabilidade integra qualquer gênero, apontando para o domínio de convenções linguísticas e estruturais. No entanto, a “relativa estabilidade” se compromete com um dizer que é manobrado, em parte, pelo produtor do texto.
É na constituição desse cenário teórico-metodológico que se fundou, no contexto deste trabalho, a estratégia didática para o ensino da escrita na universidade. Cabe, agora, a exposição do resumo produzido por um dos estudantes envolvidos na pesquisa, objetivando, na análise do seu texto, apresentar os efeitos dessa estratégia didática para uma orientação das condições de escrita na academia.
3. A escrita do gênero resumo/abstract a partir da estratégia didática traçada
Retomando os estudos de Fonseca (2014)FONSECA, J. Z. B. (2014) O processo de didatização dos gêneros discursivos em práticas de ensino de língua portuguesa: um diálogo entre a aula e o livro didático. Jundiaí: Paco. sobre as estratégias de didatização, é possível dizer que estas correspondem às formas de coordenar as ações didáticas em sala de aula, visando à aprendizagem dos alunos. Como efeito disso, surge o processo de transposição didática, isto é, a mediação entre o saber sábio e os saberes a serem ensinados (CHEVALLARD, 1991CHEVALLARD, Y. (1985) La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Paris: La Pensée Sauvagem, 1991.), cujas estratégias de didatização mobilizam a construção de conhecimentos em sequências de ações (des) e (re)contextualizadas.
Para a efetivação desta pesquisa, a estratégia didática aplicada se valeu da retextualização do gênero artigo científico para o gênero resumo/abstract. Dessa forma, por meio de um novo propósito de interação, permitiu-se ao acadêmico refletir sobre as regularidades linguísticas, textuais e discursivas presentes nos gêneros envolvidos, apostando no seu poder de decisão acerca de como operar com a organização das unidades linguísticas e com os aspectos discursivos, desde que as modificações realizadas no texto não suplantassem o dizer do outro. A estratégia didática em questão, ainda, comprometeu-se com um ensino autônomo da escrita, no qual o estudante não se fiasse em definições clássicas sobre os gêneros em destaque, mas que construísse um saber através de uma escrita fundada em modos de dizer frequentes na academia e nas maneiras de rompê-los, quando necessário.
Para isso, o artigo4 4 COUTINHO, C. de Q. e S.; TEIXEIRA, J. Letramento financeiro: um diagnóstico de saberes docentes. REVEMAT. Florianópolis (SC), v. 10, n.2, p. 1-22, 2015. sobre o qual o resumo solicitado incidiu foi resultado de um trabalho de doutoramento, tendo se valido de instrumentos metodológicos mais especializados e complexos, contudo próximos à realidade dos licenciandos de Matemática. Esperava-se, assim, que as estratégias linguístico-discursivas mobilizadas na escrita do resumo considerassem as especificidades e desafios impostos pelo artigo.
No exercício de escrita do resumo pelo acadêmico, já se observa, em comparação com o resumo do artigo-base (cf. Quadro 1), indícios de autoria que franqueiam ao resumo do estudante complementos que atendem ao contexto de escrita orientado em sala de aula. Isto é, à condição de produção solicitada, que tinha em vista a circulação do resumo em plataforma científica para consulta de acadêmicos e especialistas da área.
Vejamos, assim, a comparação entre os resumos:
Constata-se, de antemão, a assunção ao esquema clássico de construção de um texto acadêmico - Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, em cujas bases estão fundadas um determinado modelo de escrita científica. Todavia, o resumo do acadêmico, no seu início, modifica a composicionalidade esperada pelo gênero, priorizando o encaixe de elementos (objetivo, procedimentos metodológicos e voltando ao objetivo) em um só enunciado, revelando uma composicionalidade cuja ordem é reorganizada através do plano arquitetônico do produtor do texto, ou seja, das pretensões do seu dizer que, certamente, relacionam-se aos seus objetivos comunicativos; haja vista a seleção de um dos resultados mais chamativos entre pesquisas realizadas na área ([...] demonstrou que o professor de matemática recebe pouca ou nenhuma formação específica em matemática financeira) logo na posição inicial do resumo, sinalizando para a relevância da pesquisa em si e, nessa esteira, para o convencimento dos leitores do portal de periódicos da validade da investigação.
Nota-se, além disso, visível preocupação com a dimensão metodológica, em que estão presentes instrumento para coleta de dados, seleção e organização dos sujeitos de pesquisa, bem como método de coleta, organização e análise dos dados, seguidos da explicação do uso desses últimos. Ainda, os resultados, praticamente ausentes no resumo original porque escrito sob outras condições enunciativas, consideram a divisão dos sujeitos de pesquisa em diferentes grupos de análise; facilitando a percepção do leitor sobre o todo.
Importante ressaltar também as singularidades provenientes do estilo acessado pelo acadêmico no decorrer do processo de escrita, no qual se observa certo distanciamento no que tange à propriedade científica; distanciamento este expresso, por exemplo, nos verbos e expressões utilizados no resumo do artigo, como apresentar, discutir,levantar hipótese e buscar responder, que pressupõem formação de opinião e ponto de vista; e identificar, demonstrar, seguir, destacar, encontrados no resumo do estudante, que fazem jus a um tipo de narração menos engajada e mais metadiscursiva. Logo, assiste-se, no resumo do aluno, a um apagamento enunciativo e a uma diminuição da força argumentativa do texto, a favor da suposta neutralidade acadêmica. Fica claro, assim, que as características da escrita e a estruturação discursiva parecem depender do modelo de cientificidade adotado por quem escreve o texto.
O agenciamento dos recursos da língua, então, demonstra um modo particular de o estudante se fazer presente em seu próprio texto, e, nessa esteira, um cuidado em relação ao universo discursivo do outro, já que seleciona verbos que o colocam na posição de mero narrador de um evento científico sobre o qual não teve controle ou participação efetiva. Isso se comprova, também, pelo apagamento da hipótese, cujo princípio é deduzido pelo pesquisador, o qual demonstra familiaridade com o seu objeto de pesquisa.
Em outros momentos do resumo, a apropriação da palavra do outro fica comprometida, pois há construções de significado não autorizadas pelo artigo. Assistimos a isso em pelo menos dois momentos.
No primeiro caso, o objetivo do resumo do estudante coloca em evidência a verificação do letramento financeiro dos alunos do ensino médio. À luz da leitura do artigo, porém, o objetivo recai sobre os professores. Isso, aparentemente, ocorreu devido a uma falha entre a ideia de consequência identificada no artigo (“de modo que possam conduzir seus alunos no desenvolvimento da educação financeira”), e a de causa, vislumbrada no resumo do aluno (“Visando verificar se os alunos de ensino médio têm a capacidade de [...]”).
A desarticulação com a palavra alheia também se comprova com o uso do conectivo “já que”, cuja ideia de explicação reforça o conceito de que os professores serão utilizados como meros instrumentos de pesquisa, deixando-se revelar, ademais, a circulação de um discurso de senso comum que culpabiliza os professores pelo rendimento de seus alunos em sala de aula.
Nessa medida, a organização sintática de causa e consequência (se os alunos são letrados financeiramente, o nível de letramento financeiro dos professores é suficiente; se os alunos não são letrados financeiramente, o nível de letramento financeiro dos professores é insuficiente) revela o diálogo com outros discursos oriundos de esferas sociais e culturais menos especializadas.
Sendo assim, ainda que se trate de um texto científico, o acadêmico expressa sua visão de mundo quando o assunto se relaciona ao contexto educacional. Trata-se, na visão de Grossmann, de uma retórica constrativa, isto é, “à medida que a escrita [...] é fundamentalmente um fenômeno cultural, sua organização [...] está condicionada pelas características culturais específicas, adequando-se ao contexto próprio da sociedade que as produziu”. (GROSSMANN, 2015GROSSMANN, F. (2015) Por que e como as coisas mudam? Padronização e variação no campo do discurso científico. In: RINCK, F.; BOCH, F.; ASSIS, J. A. (Orgs.). Letramento e formação universitária: formar para a escrita e pela escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, p. 97-128., p. 108). Dizendo de outra forma, é comum em nossa sociedade representações negativas ou duvidosas a respeito do professor, de maneira que, no resumo em discussão, há indícios desses traços culturais, ainda que o artigo científico não tenha tratado os sujeitos de pesquisa com algum tipo de demérito profissional.
No segundo caso, a explicação acerca da elaboração do instrumento metodológico sofre comprometimento, pois a pesquisa bibliográfica é realizada com o intuito de subsidiar a elaboração do questionário, e não a escolha dos sujeitos de pesquisa, como sugere o resumo do acadêmico.
Em outra parte do resumo em que o estudante esclarece os procedimentos metodológicos, o que se tem é a ampliação de alcance da palavra alheia, em que pese não apenas a simples referência à metodologia empregada - Análise Estatística Implicativa -mas o esclarecimento do seu uso no contexto de pesquisa. É possível que tal redirecionamento se deva pelo esforço do estudante em explicar uma metodologia que desconhece e que imagina que seus leitores também desconheçam, sentindo falta de maiores esclarecimentos sobre ela.
Todavia, nem sempre a condução dos procedimentos metodológicos é fiel à perspectiva do artigo. É o que se vê quando o pesquisador explica a divisão do questionário de pesquisa em duas partes: a primeira delas dizia respeito a perguntas relacionadas à caracterização dos sujeitos investigados, cujos dados seriam organizados em tabelas e gráficos; enquanto a segunda se dedicaria a diagnosticar o letramento financeiro dos docentes, tratando as respostas a partir da análise implicativa.
No resumo do acadêmico, porém, os dados não são divididos por esse critério, sendo tratados como uma só unidade.
No que diz respeito aos resultados, o resumo deixa entrever um posicionamento subjetivo relacionado à visão do estudante sobre o que é encontrado pela pesquisa, notadamente pela expressão “em contrapartida a esses dados negativos”; o que indica que, mesmo em se tratando do texto de outro, em função da estratégia didática posta em cena, há um trabalho responsivo de compreensão que demarca o lugar do estudante. No dizer de Bakhtin, “a cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica”. (BAKHTIN, 2009BAKHTIN, M. (Volochínov). (1929) Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009., p. 137). No processo de interpretação, portanto, as palavras do acadêmico agregam-se às do texto primeiro.
Para além disso, observa-se uma seleção escalonada de resultados, apresentados desde os mais gerais - expressos na porcentagem de professores que são licenciados em matemática e que conhecem/desconhecem a ENEF; até os mais específicos - divididos entre um perfil desejável ou não de docente. Nessa divisão, o acadêmico faz uso de expressões genéricas, como “parte dos” e “um grupo de”, inobservando que os resultados relacionados à análise coesitiva dizem respeito a grupos de professores divididos em variáveis específicas, como sexo, cidade e tempo de magistério.
Ainda assim, o tratamento dado aos resultados supera a forma como foram expostos pelo resumo do artigo original, já que o acadêmico se preocupou em apresentá-los de uma perspectiva mais ampla, visando, ao que tudo indica, às condições de produção do resumo, que tinha em vista a circulação no portal de periódicos da CAPES, e à busca de informações substanciais da parte de pesquisadores interessados no assunto.
Em síntese, a tarefa de retextualização se fiou em um projeto planejado do dizer, em que foram expostas as condições de produção do texto, assim como as de circulação e de recepção. Nessa atividade, foi possível vislumbrar a atribuição de sentidos, na medida em que o acadêmico retomou/reconstruiu pontos pertinentes do artigo-base, a partir de um processo de leitura responsivo, no qual assume um posicionamento frente a um determinado dizer, expresso nos modos de construção dos enunciados presentes no seu resumo.
Os ruídos ainda existentes parecem ser fruto de problemas relacionados à compreensão geral do artigo e, talvez, da falta de hábito de releitura criteriosa do próprio texto em diálogo com outros gêneros de estudo - como um fichamento ou questionário orientado - que roteirizem ou sistematizem o artigo científico.
Nesse ponto, podemos problematizar a questão da produção de conhecimento na universidade, que, da perspectiva aqui assumida, parte de uma relação comprometida com a leitura e a escrita, ofertando ao estudante um lugar legítimo de fala. Esse lugar, entretanto, é marcado por relações de poder que determinam o que pode e deve ser dito nas enunciações que perpassam a esfera acadêmica, assim como quem pode dizer e de que forma. Nesse sentido, ensinar a escrita científica na universidade pode tanto desestabilizar o poder instituído, na medida em que se compartilham saberes, dividindo-os com outros sujeitos, como também reforçar as relações de poder. Trata-se de assumir riscos ao se ensinar uma leitura e uma escrita que se pautem no compromisso do professor com a formação do estudante questionador, criativo e intuitivo, cujas características não costumam figurar em uma atividade prototipicamente científica (GROSSMANN, 2015GROSSMANN, F. (2015) Por que e como as coisas mudam? Padronização e variação no campo do discurso científico. In: RINCK, F.; BOCH, F.; ASSIS, J. A. (Orgs.). Letramento e formação universitária: formar para a escrita e pela escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, p. 97-128.).
Considerações finais
A reflexão empreendida sobre a escrita científica e suas formas de ensino incidiu sobre a retextualização de um gênero discursivo da esfera acadêmica. A escrita do gênero resumo, enquanto instrumento de apropriação do saber, foi planejada a partir não apenas do domínio do gênero em si, mas também das condições do dizer que o cercavam. Ou seja, não somente da estrutura composicional, mas das relações temáticas e de estilo, acionadas como consequência dos parâmetros interlocutivos pensados para ilustrar a estratégia didática.
A articulação com a palavra alheia se deu na heterogeneidade constitutiva que perpassa o gênero resumo, não como expressão direta do dizer do outro, mas como manifestação das reestruturações de sentido, que deixaram entrever indícios autorais e aspectos de uma visão de conhecimento própria do acadêmico. Portanto, os lugares destinados aos enunciadores foram tensionados com a finalidade de fazer emergir uma regulação polifônica que assumisse o conhecimento como o entre lugar entre mim e o outro.
O controle da palavra e das condições que atravessam o seu ensino é, inquestionavelmente, demarcado pelas circunstâncias em que se dá a produção do conhecimento na universidade: voltada para a divulgação e publicação de resultados de pesquisas. Contudo, no entendimento deste trabalho, ao serem acionadas estratégias didáticas como a aqui tratada, abre-se espaço para que o acadêmico experimente os seus dizeres em diálogo com o dizer de outros que passarão a constituir sua escrita e a incidir sobre sua forma de ver um objeto de estudo.
Logo, respaldar o ensino da escrita em operações discursivo-textuais que solicitem apagamento, reescrita, reapropriação, síntese, incorporação, dentre outras previstas para encabeçar a retextualização solicitada em classe parece ter colaborado para a formação de um produtor de textos científicos com mais clareza e domínio sob os textos que precisa escrever na esfera acadêmica.
Por fim, a geração de conhecimento no ensino superior deve se comprometer com a formação de estudantes capazes de compreender os discursos e os dizeres veiculados pelos textos científicos, de forma que consigam afinar a sua visão sobre ciência para escrever considerando uma chave ética e política.
-
1
Esse artigo é proveniente dos estudos desenvolvidos no âmbito do projeto de pesquisa intitulado Leitura e escrita no Brasil, Honduras, Angola e Chile: formação na universidade contemporânea e (re)produção de conhecimento, aprovado pelo CNPq por meio da Chamada Universal MCTIC/CNPQ N.º 28/2018, Processo: 4/27044/2018-9.
-
2
A atividade de escrita focalizada neste artigo teve origem na disciplina de Leitura e Produção de Texto para o curso de Licenciatura em Matemática, em uma universidade pública, durante o segundo semestre de 2017, resultando na escrita de 16 resumos.
-
3
Sobre isso, ler ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2011.
-
4
COUTINHO, C. de Q. e S.; TEIXEIRA, J. Letramento financeiro: um diagnóstico de saberes docentes. REVEMAT. Florianópolis (SC), v. 10, n.2, p. 1-22, 2015.
Referências
- BAKHTIN, M. (1979) Estética da criação verbal Trad. Maria Ermantina Galvão. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- BAKHTIN, M. (Volochínov). (1929) Marxismo e filosofia da linguagem Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.
- CHEVALLARD, Y. (1985) La transposition didactique Du savoir savant au savoir enseigné. Paris: La Pensée Sauvagem, 1991.
- FIGUEIREDO, D. de C.; BONINI, A. (2006) Práticas discursivas e ensino do texto acadêmico: concepções de alunos de mestrado sobre a escrita. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 6, n. 3, p. 413-446.
- FONSECA, J. Z. B. (2014) O processo de didatização dos gêneros discursivos em práticas de ensino de língua portuguesa: um diálogo entre a aula e o livro didático. Jundiaí: Paco.
- FOUCAULT, M. (1971) A ordem do discurso Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996.
- GROSSMANN, F. (2015) Por que e como as coisas mudam? Padronização e variação no campo do discurso científico. In: RINCK, F.; BOCH, F.; ASSIS, J. A. (Orgs.). Letramento e formação universitária: formar para a escrita e pela escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, p. 97-128.
- MACHADO, I. (2005) Gêneros discursivos. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2014, p. 151-166.
- MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. (2010) Produção textual na universidade São Paulo: Parábola.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Dez 2019 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2019
Histórico
-
Recebido
30 Jun 2019 -
Aceito
10 Set 2019 -
Publicado
24 Set 2019