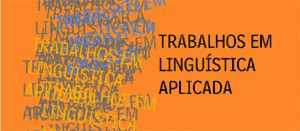Resumos
O objetivo deste artigo é propiciar aos interessados em questões de política linguística uma breve introdução a essa área de pesquisa que, até recentemente, era pouco difundida no Brasil. Entretanto, não se trata de uma introdução convencional. O que se pretende, na verdade, é reconstruir a "história epistemológica" da área desde as primeiras pesquisas na década de 1960 até as publicações mais recentes. Ao contar essa histórica, objetiva-se contribuir para a consolidação desse importante campo de pesquisa no contexto brasileiro..
política linguística; história; epistemologia
This paper provides a brief introduction to the field of language policy and planning for those interested in this topic in Brazil. However, it is not a conventional introduction to an academic subject. The aim, in fact, is to reconstruct the "epistemological history" of the field from the early research in the 60's to the most recent publications on the topic. It is hoped that the report of this history will contribute to the consolidation of research in language policy and planning in Brazil.
language policy; history; epistemology
DOSSIÊ TEMÁTICO
A pesquisa em política linguística: histórico, desenvolvimento e pressupostos epistemológicos
Research in language policy and planning: history, development and epistemological assumptions
Elias Ribeiro da Silva
UNIFAL, Alfenas (MG), Brasil. ribeirodasilva.elias@gmail.com
RESUMO
O objetivo deste artigo é propiciar aos interessados em questões de política linguística uma breve introdução a essa área de pesquisa que, até recentemente, era pouco difundida no Brasil. Entretanto, não se trata de uma introdução convencional. O que se pretende, na verdade, é reconstruir a "história epistemológica" da área desde as primeiras pesquisas na década de 1960 até as publicações mais recentes. Ao contar essa histórica, objetiva-se contribuir para a consolidação desse importante campo de pesquisa no contexto brasileiro..
Palavras-chave: política linguística; história; epistemologia.
ABSTRACT
This paper provides a brief introduction to the field of language policy and planning for those interested in this topic in Brazil. However, it is not a conventional introduction to an academic subject. The aim, in fact, is to reconstruct the "epistemological history" of the field from the early research in the 60's to the most recent publications on the topic. It is hoped that the report of this history will contribute to the consolidation of research in language policy and planning in Brazil.
Keywords: language policy; history; epistemology.
INTRODUÇÃO* * Este artigo consiste em um recorte do capítulo teórico da tese do autor (RIBEIRO DA SILVA, 2011), a qual foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (IEL/UNICAMP) e contou com financiamento do CNPq (Processo no. 140306/2007-2).
Não é exagero afirmar que, até recentemente, a área de Política Linguística era uma ilustre desconhecida de parcela expressiva dos envolvidos com a pesquisa linguística no Brasil. Em prefácio ao livro As Políticas Linguística, de Calvet (2007), Oliveira, um dos animadores da área no contexto brasileiro, destaca, a esse respeito, que "Na metade da década de 1980, por exemplo, fui aluno de um bacharelado em lingüística em uma importante universidade brasileira, com várias áreas de estudo, e não tive nenhum contato com o termo ou a disciplina" (OLIVEIRA, 2007, p. 7). Transcorridas quase três décadas do período ao qual alude o autor, o espaço reservado para questões de política linguística nos currículos de Letras ainda é muito restrito. São poucos os cursos da área em que há uma disciplina específica sobre o tema na grade curricular.
Do ponto de vista da pesquisa, a situação é um pouca mais animadora, tendo em vista que a conjuntura sociopolítica e econômica brasileira e mundial tem favorecido a discussão de temas relacionados à política linguística. Considerem-se, por exemplo, as pesquisas atuais sobre políticas para LIBRAS, para línguas indígenas e de imigração, para o português como língua estrangeira etc. A relevância do tema também pode ser avaliada pela ampliação do número de publicações especializadas. Em 2012, a Gragoatá, periódico da Universidade Federal Fluminense (UFF), e a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), publicaram números específicos sobre questões de Política Linguística.
Contudo, ainda é restrito o número de textos em língua portuguesa sobre o desenvolvimento e os principais postulados teóricos e metodológicos da área, o que é um obstáculo para sua consolidação como disciplina permanente dos cursos de formação de professores de línguas. O livro de Calvet (2007), mencionado anteriormente, continua sendo, até onde se pôde apurar, a única publicação de cunho introdutório disponível atualmente1 1 No mercado editorial anglo-americano, há uma quantidade expressiva de livros de introdução à area de Política Linguística, como, por exemplo, An Introduction to Language Policy: Theory and Method (RICENTO, 2006); Language Planning: From Practice to Theory (KAPLAN e BALDAUF JR., 1997) e Language Planning and Education (FERGUSON, 2006). .
Tendo em vista essa escassez de material bibliográfico em língua portuguesa e visando à necessária consolidação da pesquisa em Política Linguística no Brasil, pretende-se, neste artigo, apresentar um panorama histórico da área, focalizando, especificamente, as diferentes perspectivas epistemológicas que orientaram e ainda orientam as pesquisas desenvolvidas em âmbito internacional.
1. OS ANOS INICIAIS: CONJUNTURA HISTÓRICA E PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS
A Política Linguística (Language Policy) é um campo de investigação relativamente recente em comparação com outras áreas dos Estudos da Linguagem. Consequentemente, não há um consenso em relação à terminologia específica da área2 2 Para Kaplan e Baldauf Jr. (1997), essa inconsistência terminológica também pode estar relacionada ao fato de se tratar de um campo de investigação interdisciplinar. . Enquanto alguns autores utilizam as expressões "Planejamento Linguístico" (Language Planning) e "Política Linguística" (Language Policy) de forma distinta, outros preferem utilizá-las conjuntamente na expressão "Planejamento e Política Linguística" (Language Planning and Policy). Há, ainda, pesquisadores que optam pelos termos "Engenharia Linguística" (Language Engineering) e/ou "Tratamento Linguístico" (Language Treatment) (CRYSTAL, 1992, p. 310-311). Na literatura brasileira sobre o tema, embora também se observe certa inconstância terminológica, é mais frequente a utilização da expressão "política linguística" para designar o processo em sua totalidade, isto é, a política e o planejamento linguísticos (Cf, por exemplo, MAHER, 2008, 2010).
Para além dessa discussão terminológica, o importante, como lembram Kaplan e Baldauf Jr. (1997), é que se compreenda que se tratam, na realidade, de dois aspectos distintos de um processo sistematizado de mudança linguística. Para eles, o "'[p]lanejamento linguístico' é uma atividade, mais visivelmente implementada pelo Governo (simplesmente porque envolve profundas transformações na sociedade), que visa promover uma mudança linguística sistemática em uma comunidade de fala"3 3 A tradução das citações em língua estrangeira é de minha autoria. enquanto a política linguística caracterizaria-se como
[...] um conjunto de ideias, leis, regulamentos, regras e práticas que visam implementar, na sociedade, grupo ou organização sociopolítica, as mudanças linguísticas planejadas. Somente quando tal política existe é que algum tipo de avaliação efetiva do planejamento [linguístico] ocorre" (KAPLAN e BALDAUF JR., 1997, p. xi).
Eastman (1983), Ferguson (2006), Jahr (1992), Kaplan (1991), Kaplan e Baldauf Jr. (1997), Wiley (1996), entre outros autores, situam o surgimento da área por volta da década de 1960. A expressão "planejamento linguístico", especificamente, aparece pela primeira vez nos estudos de Haugen (1959, 1966) sobre o processo de desenvolvimento da língua nacional da Noruega (FERGUSON, 2006, p. 1) e teria sido cunhada por Uriel Weinreich, em 1957 (JAHR, 1992, p. 12), por ocasião de um seminário na universidade norte-americana de Columbia (COOPER, 1989, p. 29).
No período inicial de sua constituição, os pesquisadores da área dedicaram-se majoritariamente ao estudo e à resolução de "problemas linguísticos"4 4 Como discutirei na próxima seção, a área de Política Linguística foi duramente criticada nas décadas de 1980 e 1990. Muito da crítica dizia respeito ao pressuposto de que a heterogeneidade linguística é um problema a ser superado visando ao desenvolvimento social e econômico da sociedade. Para indicar que se trata de um postulado com o qual não concordo, o termo será utilizado entre aspas ao longo do texto. de nações recém liberadas da dominação colonial na África e na Ásia. Como aponta Ferguson (2006, p. 1), a ênfase na resolução de "problemas linguísticos" pode ser observada nos títulos das principais obras desse período inicial. São exemplares, nesse sentido, os livros Language problems of developing nations (FISHMAN, FERGUSON e DAS GUPTA, 1968) e Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations (RUBIN e JERNUDD, 1971). O foco na resolução de "problemas linguísticos" também é evidente no título do primeiro periódico da área, a revista Language problems and language planning, cujo primeiro número foi publicado em 1980.
A resolução de "problemas linguísticos" ainda é uma das principais características da área, como se pode observar nas definições de "Planejamento Linguístico" (Language Planning) presentes na International encyclopedia of linguistics (BRIGHT, 19925 5 Em 2003, foi publicada uma nova edição da obra. Contudo, não há mudanças significativas nos verbetes mencionados ao longo deste artigo. ). No glossário dessa obra, Crystal define planejamento linguístico como
[a] tentativa deliberada, sistemática e teoricamente orientada de resolver os problemas de comunicação de uma comunidade por meio do estudo das diferentes línguas ou dialetos que ela utiliza e do desenvolvimento de uma política relativa à seleção e ao uso dessas línguas/dialetos; [o planejamento linguístico] algumas vezes também é denominado engenharia ou tratamento linguístico. O planejamento de corpus refere-se aos processos de seleção e codificação linguísticos, tais como a elaboração de gramáticas e a padronização da ortografia; o planejamento de status envolve a escolha inicial de uma língua, incluindo as atitudes [da comunidade] em relação a línguas alternativas e as implicações políticas decorrentes das diferentes escolhas [...] (CRYSTAL, 1992, p. 310-311).
No verbete "planejamento linguístico", Jahr afirma que
o PL [Planejamento Linguístico] refere-se à atividade organizada (privada ou oficial) que busca resolver problemas linguísticos existentes no interior de uma determinada sociedade, geralmente em nível nacional. Por meio do PL, procura-se gerir, transformar ou preservar a norma linguística ou o status social de uma determinada língua (escrita/falada) ou variedade linguística. Em geral, o PL é conduzido em conformidade com um programa oficial ou um conjunto definido de critérios e a partir de um objetivo deliberado, por comitês ou grupos oficialmente constituídos, organizações de caráter privado ou linguistas prescritivistas a serviço de autoridades governamentais. Seu objetivo é estabelecer normas (primeiramente escritas), as quais são ratificadas por seu elevado status social; sucedem-se a elas normas de fala associadas a esses padrões (JAHR, 1992, p. 12-13).
Além de evidenciar o foco na resolução de "problemas linguísticos", essas duas definições explicitam alguns dos postulados básicos do período de consolidação da área de Política Linguística, pelo menos no que se refere às pesquisas desenvolvidas em sua corrente majoritária: (1) a diversidade linguística constitui um "problema" para as nações (em desenvolvimento); (2) as línguas são passíveis de modernização; e (3) cabe ao linguista propor, com base em parâmetros científicos, soluções para os "problemas" dessas comunidades e/ou nações.
O surgimento da Política Linguística coincide, como se apontou acima, com o processo de descolonização de partes da África e da Ásia6 6 Kaplan e Widdowson (1992, p. 78), entre outros autores, destacam que o grande fluxo migratório observado ao longo do século XX também motivou o desenvolvimento de políticas linguísticas e, consequentemente, da área. . Muitos dos novos países que emergiram desse processo caracterizam-se (ou caracterizavam-se) por uma grande heterogeneidade étnica e linguística. Essa diversidade de etnias e de línguas era um obstáculo a ser superado na constituição desses novos estados nacionais (KAPLAN, 1991, p. 143-144), uma vez que eles estavam sendo projetados a partir do modelo de estado-nação dominante na Europa, isto é, o estado monolíngue e monocultural7 7 Para uma ampla discussão sobre a relação entre Política Linguística e Nacionalismo, conferir a obra Language Policy and Language Planning: From nationalism to globalisation (WRIGHT, 2004). . Segundo esse modelo, esses novos países somente se modernizariam a medida em que seus "problemas linguísticos" fossem superados. Assim, uma das línguas ou variantes faladas pela população deveria ser elevada à condição de língua nacional e, para que isso fosse possível, a língua/variante selecionada deveria passar por um processo de modernização.
A possibilidade de se manipular ou planejar as línguas naturais constitui um dos pilares sobre os quais se fundou a área de Política Linguística e, consequentemente, foi objeto de debate entre os primeiros pesquisadores da área. A publicação do livro Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations (RUBIN e JERNUDD, 1971), já mencionado, reflete a importância do tema. Contudo, em sua introdução ao livro Advances in language planning (1974a), também já mencionado, Fishman (1974b) afirma que a pergunta presente no título do livro de Rubin e Jernudd é, na verdade, uma pergunta retórica, uma vez que
[o]bviamente, a língua vem sendo planejada, de uma forma ou de outra, há muito tempo [...]. Também obviamente, ela, algumas vezes, foi planejada com considerável sucesso. Por fim, está claro que a língua continuará sendo planejada no futuro, tanto em conexão com o cultivo de uma língua previamente modernizada, quanto em conexão com a modernização de línguas até então utilizadas apenas para atividades tradicionais. Assim, a questão a ser enfrentada no futuro não é se a língua deve ou pode ser planejada (visto que obviamente ela será planejada por aqueles propensos a fazê-lo em função do desenvolvimento social com o qual esse tipo de planejamento sempre está inter-relacionado), mas, sim, como fazer isso mais efetivamente, em conexão com critérios de sucesso pré-estabelecidos (FISHMAN, 1974b, p. 25-26).
Como se depreende desse excerto, a possibilidade de se manipular ou planejar as línguas é (ou era) algo evidente para Fishman, autor que, como aponta Estman (1983, p. 3), é considerado o fundador da área. Também transparece a ideia segundo a qual o que importa, de fato, é discutir a eficiência dos processos de planejamento linguístico. Na mesma direção, Neustupný (1974), outro dos pioneiros da pesquisa na área, ao discutir o que ele define como "tratamento de problemas linguísticos" (treatment of language problems), afirma:
[o] tratamento racional [dos problemas linguísticos] é caracterizado por neutralidade afetiva, por especificidade de metas e soluções, por universalismo, por ênfase na efetividade e por objetivos de longo prazo. Por outro lado, a falta de racionalidade é marcada por afetividade, difusão, particularismo, por ênfase na qualidade, em vez de na efetividade, e por preocupação com metas de curto prazo (NEUSTUPNÝ, 1974, p. 38).
Como se pode observar, Neustupný, além de se posicionar favoravelmente quanto à manipulação linguística no âmbito de processos de planejamento linguístico, entende que se trata de um procedimento fundamentado no raciocínio lógico (e prático). Assim, pode-se afirmar com bastante segurança que a posição de Fishman e de Neustupný era compartilhada pela maioria dos seus pares, pois, como lembram Kaplan e Widdowson (1992),
[a] questão da modernização está necessariamente incluída [no planejamento linguístico]; à medida que novas nações emergem, surgem preocupações quanto à capacidade de o sistema político subsidiar seus cidadãos. Modernização implica disponibilidade de informação científica e técnica, além de preocupação com tecnologia apropriada e com sua transferência (KAPLAN e WIDDOWSON, 1992, p. 78).
Como se apontou anteriormente, a modernização linguística (segundo dos três postulados fundamentais da área de Política Linguística em seus primeiros anos) era percebida como uma prática necessária nos contextos de descolonização, pois se acreditava que as nações liberadas da dominação política e linguística dificilmente poderiam se gerir, dada sua heterogeneidade étnica e linguística. Frente a essa necessidade (e a esse pressuposto "científico"), as lideranças desses novos países desenvolviam e implementavam, com base no parecer de linguistas, políticas linguísticas visando alçar uma das línguas ou das variedades linguísticas faladas pela população à condição de língua nacional8 8 Tradicionalmente, o processo de modernização linguística envolvia dois componentes inter-relacionados: o "planejamento de corpus" (corpus planning) e o "planejamento de status" (status planning). Posteriormente, Cooper (1989) introduz um terceiro elemento: o "planejamento de aquisição" (acquisition planning). O "modelo" triádico proposto por Cooper consolidou-se e passou a balizar o desenvolvimento das pesquisas e das práticas de política linguística. Trata-se, por exemplo, do modelo utilizado por Spolsky e Cooper (1991) em sua análise da política linguística em Jerusalém. Posteriormente, Spolsky (1998), em seu livro de introdução à Sociolinguística, retoma a proposta de Cooper. De forma implícita, a divisão em três componentes também aparece em Calvet (2002, 2007). O planejamento de corpus relaciona-se à seleção e à codificação de uma das línguas ou variantes linguísticas utilizadas pela população de um país ou região. Inicialmente, seleciona-se uma das línguas/variantes faladas e/ou escritas pela comunidade para, posteriormente, modernizá-la por meio de procedimentos tais como: seleção ou adoção de um sistema de escrita (no caso de línguas ágrafas); criação ou modificação lexical; padronização fonética; desenvolvimento de dicionários e gramáticas, etc (COOPER, 1989, p. 31; CRYSTAL, 1992, p. 310-311). Em Calvet (2007), encontra-se uma ampla descrição das etapas e procedimentos de implementação de uma política linguística. Paralelamente ao planejamento de corpus, implementa-se o planejamento de status. Como aponta Crystal, essa modalidade de planejamento envolve as atitudes da população em relação à língua/variante em processo de modernização (e de alçamento à condição de língua regional ou nacional) comparativamente às outras línguas/variantes que compõem o repertório linguístico da comunidade. O que está em foco, em última instância, são as implicações sociais e políticas de se escolher uma língua/variante e, consequentemente, preterir outras (KAPLAN e WIDDOWSON, 1992, p. 78). Os processos de ensino e de aprendizagem de línguas (ou de língua) são fundamentais na implementação de uma política linguística, uma vez que, após ser selecionada e modernizada, a nova língua regional ou nacional deve ser ensinada à população o mais rapidamente possível. Cooper (1989, p. 33-34) sugere que as práticas relacionadas ao ensino da nova língua integram, ao mesmo tempo, o domínio do planejamento de status e de uma terceira modalidade de planejamento: o planejamento de aquisição. Uma das principais metas de qualquer processo de planejamento linguístico é difundir, o mais amplamente possível, a língua objeto do planejamento, ou seja, ampliar o número de usuários e de usos sociais dessa língua. Tratar-se-ia, à primeira vista, de um procedimento de planejamento de status. Contudo, Cooper acredita que nem todos os procedimentos de difusão linguística podem ser inscritos sob essa rubrica. Para o autor, quando as atividades relacionadas à difusão linguística visam à ampliação dos usos sociais da língua alvo do planejamento, trata-se de planejamento de status. Quando, diferentemente, esses procedimentos visam especificamente expandir o número de usuários da nova língua, estar-se-ia no âmbito de uma outra modalidade de planejamento, que envolveria os processos de aquisição da nova língua. Cooper argumenta ainda que, ao mesmo tempo em que as mudanças de função (planejamento de status) e de forma (planejamento de corpus) desencadeiam um crescimento no número de usuários da nova língua, também se verifica um efeito contrário, isto é, o fato de um maior número de pessoas utilizar a nova língua em seu dia a dia desencadeia alterações em suas funções sociais e em sua estrutura. Novos usuários são atraídos pelos novos usos sociais da língua e acabam por implementar padrões linguísticos diferenciados, oriundos, muitas vezes, de suas línguas/variedades maternas. Para Cooper, função, forma e aquisição estão inter-relacionados, o que justificaria a proposição do planejamento de aquisição, cuja função básica seria expandir o número de usuários e, ao mesmo tempo, gerir o ensino da nova língua, isto é, definir o que ensinar e a quem (COOPER, 1989, p. 34-42). .
Na argumentação dos autores evocados para se discutir os dois primeiros postulados sobre os quais está fundada a Política Linguística, observa-se, implícita e/ou explicitamente, o terceiro e talvez mais importante dos axiomas do período de consolidação da área: o pressuposto da cientificidade. Crystal inicia sua definição de planejamento linguístico afirmando, justamente, que se trata da tentativa deliberada, sistemática e teoricamente fundamentada de resolver os "problemas" de comunicação de uma comunidade (CRYSTAL, 1992, p. 310-311). Em sua definição da área, Jahr afirma, por sua vez, que a política linguística de estado normalmente é implementada e conduzida por um comitê composto por autoridades políticas e por linguistas prescritivistas a partir de um conjunto de critérios estabelecido previamente (JAHR, 1992, p. 12-13).
O pressuposto de que as políticas linguísticas são implementadas a partir de critérios cientificamente pré-estabelecidos também pode ser observado na argumentação de Fishman (1974b) acerca da possibilidade de se planejar as línguas. Contudo, é na formulação de Neustupný que a caracterização da Política Linguística como ciência se dá de forma evidente. Segundo ele, como já visto, o tratamento racional (e, portanto, científico) dos "problemas linguísticos" caracteriza-se pela neutralidade afetiva, pela especificidade das metas e soluções, pelo universalismo, pela ênfase na eficácia e pelo estabelecimento de objetivos de longo prazo (NEUSTUPNÝ, 1974, p. 38). Assim, a legitimidade da abordagem dos "problemas linguísticos" preconizada por ele e seus pares derivaria do fato de ela apresentar os pré-requisitos da chamada "Ciência Normal" (KUHN, 2009). Inscrita no rol das "disciplinas" científicas, a Política Linguística ocupar-se-ia dos "problemas linguísticos" das comunidades humanas de forma objetiva e, consequentemente, neutra. Tratar-se-ia, portanto, de uma prática inócua e benéfica para a comunidade.
2. AS CRÍTICAS À POLÍTICA LINGUÍSTICA NAS DÉCADAS DE 1980 E 1990: CONTROVÉRSIAS EPISTEMOLÓGICAS?
Como se assinalou na seção anterior, a Política Linguística emerge e se consolida como campo acadêmico e atividade técnico-científica ao longo das décadas de 1960 e 1970. As duas décadas seguintes, por outro lado, foram marcadas por críticas à área (FERGUSON, 2006; KAPLAN e BALDAUF JR, 1997). Pesquisadores de orientação marxista e pós-estruturalista acusaram a área de servir aos interesses de grupos sociais específicos ao mesmo tempo em que se autoproclamava um empreendimento objetivo (científico) e ideologicamente neutro. Em nome do discurso da racionalidade e da eficiência técnica, os pesquisadores da área estariam negligenciando as motivações políticas, sociais e ideológicas da atividade na qual estavam envolvidos (FERGUSON, 2006, p. 3-4)9 9 Como se pode observar, estavam em jogo duas formas distintas de se entender a política linguística como atividade "científica". Enquanto um grupo de pesquisadores defendia a ideia de que o fazer científico é ideologicamente neutro, outro grupo postulava que a prática científica, como toda atividade humana, está envolvida nas relações de poder que caracterizam as sociedades. .
A Política Linguística também foi acusada de transplantar para os países africanos e para outras partes do globo um modelo ocidental de estado-nação, segundo o qual os cidadãos de um país devem estar unidos em torno de uma língua comum. O problema, como lembra Ferguson, é que
[t]ais concepções, com sua ênfase no ideal de coincidência entre nação, estado e língua, ajudaram, inevitavelmente, a propagar a ideia de que o multilingualismo era problemático, uma fonte potencial de ineficiência e de desunião, o que serviu como justificativa para medidas intervencionistas de PL [Planejamento Linguístico] que procuravam domesticá-lo (FERGUSON, 2006, p. 4).
Ao assumir que a diversidade linguística constitui um "problema" para o desenvolvimento das comunidades humanas, a Política Linguística estaria legitimando, cientificamente, a ideologia do monolinguismo. Os críticos argumentavam que a diversidade linguística não pode e não deve ser definida como um "problema" na medida em que as comunidades minoritárias devem ter o direito de utilizar e cultivar suas línguas maternas sem sofrer nenhum tipo de constrangimento.
Em linhas gerais, as críticas à área compreendiam os seguintes questionamentos: (1) Quem define o que é um "problema linguístico"? (2) Como uma situação linguística específica passa a configurar um "problema"? (3) Para quem ela é um "problema"? e (4) Em que medida a prática do planejamento linguístico em si não desencadeia conflitos linguísticos e étnicos? (WILEY, 1996, p. 109). A questão de fundo dessas críticas dizia respeito, como lembra Wiley, à relação entre as práticas de política linguística e as lutas pelo poder que atravessam as sociedades. Nas palavras do autor: "[...] como podemos conciliar a aparente tentativa benevolente de resolver os problemas de comunicação com o fato de que essa tentativa pode impor uma forma de controle social?" (WILEY, 1996, p. 110).
Em um artigo intitulado Critiques to Language Planning: A Minority Languages Perspective, de 1994, Fishman responde as essas críticas nos seguintes termos:
[t]odavia, a teoria de planejamento linguístico e a pesquisa teoricamente fundamentada no planejamento linguístico podem ter outros objetivos. Ambas podem ser relevantes tanto para projetos hegemônicos e proto-hegemônicos quanto para iniciativas anti-hegemônicas. Ambas devem empenhar-se por uma prática multimetodológica e por um treinamento que habilite os iniciantes na área a escolher e implementar os métodos que melhor se adequem aos diferentes problemas e circunstâncias de pesquisa. Os especialistas em planejamento linguístico devem ser capazes de escolher entre métodos, em vez de se limitarem a um único. Por fim, os especialistas em planejamento linguístico devem compreender que, embora muito da crítica pós-estruturalista e neomarxista a eles dirigida tenha sido e continua sendo completamente corrigida, a maioria das questões levantadas pela crítica não pode ser plenamente resolvida ainda que a sociedade seja completamente subvertida e reconstruída. As autoridades continuarão a ser motivadas por interesses pessoais. Novas desigualdades estruturais inevitavelmente surgirão para substituir as anteriores. Segmentos mais poderosos da sociedade estarão menos inclinados a modificar a si mesmos do que a modificar o outro. A ocidentalização e a modernização continuarão a gerar problemas e satisfações para a maior parte da humanidade. Em última análise, o planejamento linguístico será utilizado tanto por aqueles que são a favor quanto pelos que são contra essa prática qualquer que seja o clima sociopolítico. Essa é a verdade que os críticos neomarxistas e pós-estruturalistas do planejamento linguístico parecem nunca entender [...] (FISHMAN, 1994, p. 98, apud KAPLAN e BALDAUF JR, 1997, p. 81).
Como se depreende desse excerto, embora Fishman reconheça que as práticas de política linguística podem estar a serviço de projetos hegemônicos e, inclusive, aponte a possibilidade de a pesquisa na área contribuir para projetos anti-hegemônicos, o autor recusa e essência da crítica. Como se observa no final do fragmento, Fishman reduz a crítica marxista e pós-estruturalista a uma quimera, a uma utopia, e aconselha os pesquisadores iniciantes a se concentrarem na escolha da metodologia mais adequada para resolver os "problemas linguísticos" dos quais vierem a se ocupar, uma vez que, como bem lembra Baldauf Jr., "[n]aturalmente, a área de planejamento linguístico, como o próprio nome sugere, tem concentrado seus esforços na descrição e na prática do desenvolvimento linguístico planejado" (BALDAUF JR., 1994, p. 82, ênfase no original). Frente à crítica, refugia-se no axioma da cientificidade: a sociedade é desigual por natureza e, ao pesquisador, caberia somente escolher o método mais apropriado para resolver, cientificamente, os "problemas linguísticos" que lhe forem apresentados.
O que se observa nas publicações desse período de "crise" (ou de críticas) é um esforço por parte dos dois grupos de pesquisadores no sentido de desenvolver modelos conceituais e tipologias para a área10 10 Conferir, por exemplo, Tollefson (1981, 1988, 1991), Nahir (1984), Bamgbose (1989), Holden (1989), Cooper (1989), Bruthiaux (1992), Baudauf Jr. (1994), Schiffman (1996), Donnacha (2000), entre outros. . Contudo, enquanto Tollefson, Schiffman, entre outros, procuravam desenvolver uma abordagem que contemplasse as implicações sociais dos aspectos não-planejados e/ou não-explícitos dos processos de política linguística, a maioria dos pesquisadores dedicava-se a tornar o "modelo padrão" mais sofisticado e mais preciso (TOLLEFSON, 1991, p. 28). Esse expediente, ao que parece, tinha uma dupla funcionalidade: por um lado, reafirmava o caráter "científico" da área de Política Linguística e, por outro, reforçava a ideia de que as críticas da corrente neomarxista e pós-estruturalista fundamentavam-se somente em uma diferença de enfoque (teórico) relativamente à diversidade linguística. Como propõe Ruíz em um artigo publicado em 1984 e republicado em 198811 11 O texto em questão foi publicado pela primeira vez em 1984 no NABE Journal e republicado no livro Language Diversity: Problem or Resource? (McKAY e WONG, 1988). A versão consultada para este artigo foi a publicada em McKay e Wong. , tratar-se-ia fundamentalmente de diferenças de orientação (orientation).
Ruíz inicia seu "célebre" texto afirmando justamente que as divergências existentes entre as duas correntes de pesquisadores envolvidos com a educação bilíngue nos Estados Unidos fundamentavam-se basicamente em diferenças de orientação. Orientação, para o autor, refere-se a um conjunto complexo de disposições em relação à linguagem e à sua função na sociedade e, de forma mais restrita, em relação a determinadas línguas e a seu papel na estrutura social. Essas disposições seriam inconscientes e pré-racionais, considerando-se que elas constituem o substrato da argumentação "tradicional" sobre a linguagem e as línguas. Dessa forma, argumenta Ruiz,
[a]s orientações são fundamentais para o planejamento linguístico visto que elas delimitam a forma como falamos sobre a linguagem e sobre questões a ela relacionadas, além de determinarem as questões básicas que formulamos, as conclusões a que chegamos a partir dos dados e até mesmo os próprios dados. As orientações estão relacionadas a atitudes linguísticas na medida em que constituem o contexto em que atitudes são formadas: elas ajudam a delimitar o conjunto de atitudes aceitáveis em relação à língua e a tornar legítimas certas atitudes. Em suma, as orientações determinam aquilo que pode ser pensado sobre língua em sociedade (RUÍZ, 1988, p. 4).
Para Ruíz, caberia aos pesquisadores da área de Política Linguística explicitar as orientações existentes em seu contexto de atuação (e a principal forma de cumprir essa tarefa seria identificar as diferentes orientações que subjazem às políticas e propostas locais) e, paralelamente, propor orientações inovadoras. A partir desse pressuposto, Ruíz distingue, no contexto norte-americano do início de década de 1980, duas perspectivas concorrentes: língua como problema (language-as-problem) e língua como direito (language-as-right).
Segundo a primeira perspectiva, a heterogeneidade linguística constituiria um obstáculo ao desenvolvimento da sociedade. Como argumenta Ruíz e como se procurou demonstrar na seção anterior, essa foi a concepção dominante entre os pesquisadores da área de Política Linguística nas décadas de 1960 e 1970. Para Ruíz, a ênfase na resolução de "problemas linguísticos" observada nesse período se justificaria, parcialmente, em razão de os pesquisadores da área estarem mais preocupados com sua consolidação como atividade acadêmica e menos com os problemas práticos das políticas linguísticas e sociais (RUÍZ, 1988, p. 7). Essa orientação também seria o reflexo da representação (ou crença), presente na legislação norte-americana sobre educação bilíngue e no imaginário popular daquele país, de que os falantes bilíngues cuja língua materna não é o inglês estariam em desvantagem socioeconômica.
A segunda orientação identificada por Ruíz defende que a língua é um direito das comunidades minoritárias. Como demonstra o autor, o surgimento e a consolidação dessa orientação estão fortemente vinculados às lutas travadas no interior da sociedade norte-americana por igualdade de direitos e oportunidades. Tendo em vista que a língua desempenha uma função importante em diferentes aspectos da vida social, os pesquisadores orientados por essa perspectiva postulavam que a questão linguística não poderia ser discutida somente em termos de eficiência comunicativa. Também estariam em jogo questões de liberdade individual e a manutenção da identidade dos diferentes grupos étnicos que integram aquela sociedade.
Após identificar e discutir as bases políticas e científicas dessas duas orientações, Ruíz propõe uma síntese de ambas. A superação das divergências entre as duas perspectivas se daria pela proposição da língua como recurso (language-as-resource). Para o autor, essa terceira via possibilitaria uma superação das hostilidades entre os defensores das duas perspectivas, uma vez que levaria a um maior reconhecimento do valor social das línguas minoritárias e, consequentemente, diminuiria a tensão entre os grupos hegemônicos e as minorias étnicas e linguísticas. O ponto central da proposta de Ruíz relaciona-se à ideia de que a diversidade linguística constitui um recurso a ser explorado social, política e economicamente pela sociedade.
Embora muito possa ser dito acerca dessa visão economicista da diversidade linguística (poder-se-ia, por exemplo, questionar qual seria o lugar reservado para as línguas que não apresentam um "potencial significativo" a ser explorado), interessa mais discutir a afirmação de Ruíz segundo a qual a proposição da língua como recurso poderia constituir um ponto de convergência entre as duas orientações litigantes. Ruíz parece estar propondo, a partir da transformação das potencialidades humanas em uma "reserva de mercado", uma conciliação entre paradigmas que são filosoficamente incompatíveis. Tollefson (1991, p. 26) parece estar correto ao afirmar que o fracasso (ou a recusa) de muitos pesquisadores da área de relacionar a política e o planejamento linguísticos a questões de ordem sociopolítica reflete, na verdade, a tendência da área de travestir em diferenças teóricas aquilo que, em essência, revela valores políticos e ideológicos conflitantes.
Ao longo da década de 1980, Tollefson havia publicado na revista Language Problems and Language Planning, principal periódico da área, um conjunto de artigos nos quais discutia as implicações sociopolíticas dos processos de planejamento linguístico (TOLLEFSON, 1980, 1988) e propunha uma distinção entre políticas linguísticas centralizadas (centralized language planning) e descentralizadas (decentralized language planning) (TOLLEFSON, 1981). Contudo, é no livro Planning language, planning inequality: language policy in the community, de 1991, que o autor sistematiza e explicita os postulados dos dois principais paradigmas de pesquisa na área: a abordagem neoclássica (Neoclassical Approach) e a histórico-estrutural (Historical-Structural Approach)12 12 No restante desta seção, sintetiza-se a reflexão de Tollefson (1991) acerca dessas duas abordagens. Como se observará, o autor opõe-se à Abordagem Neoclássica por entender que ela não contempla as implicações sociais das práticas de política linguística. .
Essas duas abordagens se distinguem, fundamentalmente, quanto ao foco das análises. Enquanto a primeira enfatiza as escolhas individuais no âmbito dos processos de política linguística, a segunda interessa-se pelos fatores históricos e sociais que as condicionam. Nos termos de Tollefson, "[na] abordagem neoclássica, considera-se que a avaliação racional dos indivíduos é o foco apropriado de pesquisa. Pressume-se que os fatores que afetam o planejamento linguístico e o uso da linguagem são aqueles que variam de um indivíduo para outro" (p. 27). A abordagem histórico-estrutural
[...] rejeita o pressuposto neoclássico de que a avaliação individual é o foco apropriado de pesquisa e, contrariamente, busca as origens das pressões envolvidas no planejamento, as fontes dos custos e benefícios das escolhas individuais e os fatores sociais, políticos e econômicos que desestimulam ou motivam mudanças na estrutura e no uso da linguagem (p. 31).
Segundo Tollefson, a abordagem neoclássica está presente em todas as Ciências Sociais e caracteriza-se pelos seguintes pressupostos: 1) a chave para se compreender os sistemas sociais é o indivíduo; 2) as diferenças entre os sistemas sociopolíticos resultam do efeito cumulativo de decisões individuais; 3) as decisões individuais são livres, embora previsíveis; e 4) o foco da pesquisa social deve ser as decisões dos indivíduos. Esses postulados, para Tollefson, determinam a forma como os pesquisadores percebem e se relacionam com seu objeto de pesquisa. Na realidade, eles definem o próprio objeto de estudo das "disciplinas".
No caso específico das pesquisas sobre política linguística, esses princípios podem ser observados na tendência dos pesquisadores de desconsiderar todo e qualquer elemento externo às práticas de política e planejamento linguísticos. Ao pesquisador, visto apenas como um observador, caberia analisar o processo de mudança linguística sem promover qualquer tipo de interferência, exceto naqueles contextos em que ele for convocado a, cientificamente, desenvolver e implementar processos de modernização linguística. Como a única avaliação esperada refere-se ao cumprimento das metas pré-estabelecidas, não há questionamentos acerca da adequação ou inadequação de uma política linguística. Tollefson argumenta que, além de não avaliar a adequação dos projetos de política linguística do ponto de vista social, identitário, político, econômico, ideológico, entre outros, o modelo neoclássico constitui, de fato, um obstáculo para esse tipo de análise.
Tollefson acredita que o fato de grande parte dos pesquisadores envolvidos em projetos de política linguística nas décadas de 1960 e 1970 se orientarem pelo modelo neoclássico limitou a capacidade da área de avaliar criticamente a ineficácia de muitos dos projetos implementados nesse período, uma vez que
[a]s avaliações neoclássicas de planejamentos [linguísticos] 'ineficientes' limitam-se, teoricamente, à crítica de decisões individuais. Elas não incluem a análise das forças que conduzem à adoção de um determinado modelo de planejamento, dos fatores históricos e estruturais que determinam o critério de avaliação a partir do qual os planejamentos são julgados como ineficientes ou dos interesses políticos e econômicos que se beneficiam com o fracasso do planejamento (TOLLEFSON, 1991, p. 28).
Dado o foco nas decisões individuais (de um indivíduo consciente, diga-se de passagem), o modelo neoclássico é inadequado para responder questões importantes na compreensão dos processos de política linguística, tais como: 1) Como as comunidades linguísticas são formadas e como elas atribuem diferentes graus de valor às línguas? 2) Por que alguns grupos aprendem uma língua facilmente, chegando mesmo a perder sua língua materna ao longo do processo, enquanto outros se apegam tenazmente à sua língua a despeito das pressões pró-mudanças? e 3) Quais são os mecanismos por meio dos quais ocorrem mudanças na estrutura e nos usos de uma língua e como os processos de política linguística afetam esses mecanismos? (TOLLEFSON, 1991, p. 29).
Para os pesquisadores orientados pela abordagem neoclássica, esses questionamentos simplesmente não procedem, uma vez que eles diriam respeito a temas que fogem ao escopo da área. Nessa perspectiva, a formação e desenvolvimento das comunidades linguísticas seria objeto de estudo da Antropologia, enquanto a relação entre linguagem e política deveria ser estudada pela Ciência Política. Já a explicação dos processos de mudança linguística ficaria a cargo de "disciplinas" como Linguística Histórica, Psicolinguística e Sociolinguística (TOLLEFSON, 1991, p. 29-30). Numa compreensão neoclássica da Política Linguística, somente caberia aos pesquisadores da área aplicar o conhecimento produzido em outras áreas quando eles se mostrarem relevantes na resolução de "problemas linguísticos".
Para Tollefson, a incongruência da abordagem neoclássica pode ser avaliada com base nas pesquisas sobre ensino e aprendizagem de línguas como prática de política linguística. O autor utiliza como exemplo as pesquisas sobre motivação patrocinadas pelo Governo Norte-Americano ao longo da década de 1970 como parte de seu programa de acolhimento de refugiados e migrantes. Em sua maioria, essas pesquisas focalizavam os elementos que motivavam esses grupos a se integrarem à comunidade que os estava recebendo e distinguiam dois tipos principais de motivação: a instrumental (instrumental) e a sentimental (emocional) ou integrativa (integrative).
A motivação instrumental refere-se à constatação, pelo migrante, de que seu bem estar econômico e social passa pela aquisição eficiente da língua e dos padrões culturais de sua nova comunidade. A motivação integrativa, por outro lado, diz respeito ao desenvolvimento de um sentido de pertencimento ao novo grupo. Um migrante está motivado instrumentalmente a aprender a língua de sua nova comunidade quando visa, com isso, conseguir um bom emprego ou um título acadêmico, por exemplo. A motivação integrativa mobiliza o migrante a aprender a nova língua o mais eficientemente possível na medida em que ele deseja se integrar organicamente à comunidade que o acolheu. Trata-se, portanto, da construção de uma nova identidade.
As pesquisas de orientação neoclássica partem do princípio de que a motivação é algo inerente ao indivíduo. Assim, o sucesso ou o fracasso na aprendizagem da nova língua é avaliado como sendo de responsabilidade do migrante-aprendiz. Se aprender rápida e eficientemente a nova língua, ele está altamente motivado. Caso ocorra o contrário, o aprendiz estaria desmotivado. Fracasso ou sucesso são avaliados unicamente em termos de variantes individuais. Para Tollefson, a proposição dessas duas modalidades de motivação é redutora, na medida em que elas não são capazes de explicar, por exemplo, as razões pelas quais se impõe a aprendizagem de uma língua a um determinado grupo; os acontecimentos históricos que levaram ao desenvolvimento de motivações instrumentais e integrativas; ou o impacto de fatores históricos e estruturais nos processos de aprendizagem de uma língua estrangeira.
Tollefson argumenta que as análises que focalizam a vontade individual são falhas por não considerarem as variáveis sociais envolvidas no processo de aprendizagem, uma vez que a possibilidade de fracasso ou de sucesso varia de um estudante para outro em decorrência de diferenças sociais, econômicas e étnicas e não somente em consequência do esforço individual. Importa perguntar em que medida uma pessoa que precisa aprender uma língua estrangeira para conseguir um emprego ou ingressar em um curso superior consegue controlar essas variáveis.
Na visão neoclássica, acredita-se que a decisão de se aprender ou não uma língua resulta da análise, pelo indivíduo, dos custos e dos benefícios envolvidos. Um pesquisador que se orienta pela abordagem histórico-estrutural, diferentemente, focalizará a origem histórica e social dos custos e dos benefícios envolvidos nessa escolha, tendo em vista que se acredita que o indivíduo, em última instância, não escolhe. Assim, as perguntas a serem formuladas remetem para a conjuntura social e histórica que constitui o pano de fundo da ação dos indivíduos. Questionar-se-ia, por exemplo: 1) Por que o indivíduo tem que arcar com o ônus (social, simbólico, identitário) de aprender uma outra língua; 2) Por que determinados benefícios (e não outros) estão disponíveis para o indivíduo que aprende uma outra língua? 3) Quais são os custos e os benefícios para outros membros da comunidade? e 4) Quais são os embates sociais que estão implicados na decisão de aprender uma língua? (TOLLEFSON, 1991, p. 32).
Na perspectiva histórico-estrutural, a política linguística, quase sempre, é vista como um mecanismo de preservação dos interesses dos grupos hegemônicos. Ao mesmo tempo, acredita-se que, subvertidas, eles podem se transformar em mecanismos de mudança social. Assim, para Tollefson, a pesquisa na área deve ter como principal objetivo explicitar as bases históricas das práticas de política linguística visando desnudar os interesses sociais e econômicos em jogo. Propõe-se que as instituições envolvidas com política linguística são inseparáveis da economia e da política e, portanto, assemelham-se a outras estruturas de classe. Na mesma direção,
[...] o modelo histórico-estrutural pressupõe que a principal meta das pesquisas e análises é revelar as pressões históricas e estruturais que conduzem a políticas e a planejamentos específicos e que motivam as restrições individuais. Os fatores estruturais influenciam as decisões de planejamento linguístico por meio de seu impacto na composição dos comitês de planejamento e nos interesses econômicos que são expressos em metas sociopolíticas com as quais esses comitês estão comprometidos. Assim, o planejamento linguístico é considerado um processo macro, em vez de micro-social (TOLLEFSON, 1991, p. 32).
Contudo, é importante que se tenha claro que a abordagem histórico-estrutural não reduz a discussão das práticas de política linguística em termos de lutas de classe. Como lembra Tollefson, a explicação das decisões referentes às práticas de política e planejamento linguísticos deve abranger fatores históricos e estruturais mais amplos, como, por exemplo, o papel do país na divisão internacional do trabalho; o nível de desenvolvimento socioeconômico do país; a organização política das instâncias de decisão; e o papel das línguas na policial social mais ampla (TOLLEFSON, 1991, p. 33).
Para Tollefson, supor, como faz a abordagem neoclássica, que as políticas linguísticas são formuladas em resposta direta às demandas sociais implica uma compreensão a-histórica dos processos de política linguística e da própria linguagem, o que impede que se discutam as causas históricas das decisões relativas a questões linguísticas. Na mesma direção, não cabe propor que essas decisões dizem respeito somente a custos e benefícios, uma vez que custos e benefícios são determinados pela conjuntura política e econômica e, na maior parte das vezes, não são distribuídos de forma igualitária. Para a abordagem histórico-estrutural, variáveis supostamente individuais como, por exemplo, motivação e atitude têm uma explicação histórica.
Com relação à questão da motivação especificamente, interessa compreender quais as variáveis históricas e sociais que subjazem aos diferentes níveis e tipos de motivação e quais são os seus efeitos nos processos de ensino e de aprendizagem. Presume-se que a motivação não é uma variável presente ou ausente no aprendiz e sim que ela é determinada por fatores sociais mais amplos, tais como os interesses sociais associados às diferentes línguas, o suporte ideológico que fomenta a aprendizagem de uma língua, e o acesso (ou a falta dele) à educação linguística de qualidade. Assim, a abordagem histórico-estrutural entende a motivação como sendo o resultado de fatores históricos e estruturais e não como a causa da aprendizagem (TOLLEFSON, 1991, 33).
Tollefson acredita que, ao propor que a população de um país ou região escolhe livremente a língua (ou línguas) que irá aprender a partir da análise de custos e benefícios, a abordagem neoclássica configura-se como um paradigma a-histórico e amoral que contribui para a manutenção das desigualdades sociais relacionadas ao uso, ao ensino e à aprendizagem de línguas. As análises desenvolvidas segundo essa abordagem recusam-se a reconhecer que as políticas linguísticas atuam no sentido de direcionar as escolhas individuais. Tanto as deliberações das instâncias legislativas quanto as escolhas das pessoas afetadas por essas decisões são explicadas em termos da avaliação (consciente) de custos e benefícios. Ignora-se que essas decisões supostamente racionais resultam de condicionantes históricos.
Tollefson defende que a principal tarefa dos pesquisadores da área de Política Linguística é desenvolver uma teoria capaz de explicitar os mecanismos por meio dos quais os processos de política linguística interagem com outras forças histórico-estruturais que, simultaneamente, atuam na formação das comunidades de usuários de uma língua e na determinação dos padrões estruturais e de uso dessa língua. É necessário explicar a relação existente entre a estrutura organizacional da sociedade, a utilização da linguagem e os processos de tomada de decisão relativamente a questões de política linguística, na medida em que, a um só tempo, o planejamento afeta os significados e funções sociais da língua e todos são afetados pela história.
O desenvolvimento dessa teoria passa (ou passaria) obrigatoriamente por uma revisão das concepções de agência13 13 A questão da agência será retomada e desenvolvida na próxima seção. e de linguagem que tem orientado a maioria das pesquisas em Política Linguística. Historicamente, as pesquisas de orientação neoclássica pressupõem que a linguagem é um recurso como outro qualquer, ideia da qual decorre o pressuposto de que os indivíduos decidem se aprenderão ou não uma língua a partir de uma análise do tipo custo/benefício. Na concepção histórico-estrutural, diferentemente, assume-se que a linguagem é um recurso com características distintas, uma vez que ela assume feições e funções específicas a partir das relações sociais nas quais está implicada. Na perspectiva de Tollefson, a linguagem deve ser entendida como um recurso com uma especificidade própria, uma vez que as mudanças linguísticas envolvem pessoas reais que vivem no interior de grupos organizados por símbolos, papeis sociais e ideologias e que, portanto, não podem ser submetidas à lógica do custo e do benefício (TOLLEFSON, 1991, p. 36).
3. AS PROPOSTAS DE BAUDAUF JR. (1994) E SCHIFFMAN (1996) EM DIREÇÃO A UMA OUTRA EPISTEMOLOGIA?
Em análises do tipo histórico-estrutural, parte-se da premissa de que a ação individual deve ser situada no interior do sistema econômico e político mais amplo. Nessa perspectiva, a categoria de classe é central para as análises. Contudo, como Tollefson (1991) argumenta, a aplicação desse pressuposto (de forma categórica) constitui um problema para as pesquisas em política linguística, tendo em vista que frequentemente não há uma relação direta entre categorias estruturais e a ação de instâncias legislativas e de grupos e instituições envolvidas com política e planejamento linguísticos. Nos termos de Tollefson,
[a] abordagem [histórico-estrutural] assume que, se conhecermos a posição dos policymakers na conjuntura histórico-estrutural, então poderemos antever as políticas que eles apoiarão. O problema com esse pressuposto é que nem todos os policymarkers agem segundo os interesses de seu grupo (classe). Alguns membros de agências de planejamento, por exemplo, podem entusiasticamente formular uma política, alguns podem apoiá-la relutantemente, e outros podem ativamente/efetivamente miná-la e subvertê-la (TOLLEFSON, 1991, p. 35).14 14 Para uma discussão dessa questão relativamente à política linguística brasileira para a língua inglesa, consultar Autor (2011).
Tendo em vista que a abordagem histórico-estrutural, em sua versão clássica, entende que os indivíduos são vítimas ou beneficiários dos processos históricos e estruturais, ela não é capaz de explicar essa aparente contradição apontada por Tollefson no funcionamento dos processos de política linguística. Essa incapacidade está relacionada, em certa medida, à concepção de agência que orienta as análises de orientação histórico-estrutural. Como se procurou demonstrar na seção anterior a partir do trabalho de Tollefson, enquanto a abordagem neoclássica pressupõe um indivíduo totalmente livre que faz escolhas conscientes, a abordagem histórico-estrutural supõe um indivíduo controlado por forças sociais e políticas que não lhe permitem qualquer tipo de escolha.
Quando se revê a literatura da área de Política Linguística, principalmente os textos do período de consolidação da área, constata-se a centralidade da categoria de agência. Em praticamente todas as definições de planejamento linguístico discutidas na primeira seção deste artigo, por exemplo, observa-se a ideia de que se trata da uma ação deliberada de um indivíduo localizável visando modificar uma determinada situação linguística. Jahr (1992, p. 12-13), por exemplo, afirma que o planejamento linguístico é implementado por um comitê, por uma organização privada ou por um grupo de linguistas, sendo que todos são indicados por e estão a serviço de uma autoridade oficial. Assim, é correto afirmar que a Política Linguística, como entendida tradicionalmente, refere-se à intervenção consciente de um agente em uma língua ou contexto linguístico.
Contudo, a partir da década de 1980, sobretudo a partir das críticas neomarxistas e pós-estruturalistas dirigidas à área, surgem tentativas de superar, em alguma medida, o pressuposto de que as práticas de política linguística sempre são implementadas a partir da vontade consciente de um agente específico. Como se mencionou na seção anterior, Tollefson propõe, em um artigo de 1981, os conceitos de planejamento linguístico centralizado (centralized language planning) e descentralizado (decentralized language planning). Posteriormente, Baudauf Jr. (1994), em um artigo publicado em um volume da Annual Review of Applied Linguistics dedicado à política e ao planejamento linguísticos, sugere uma distinção entre política e planejamento linguísticos planejados (planned language policy and planning) e não planejados ("unplanned" language policy and planning). No livro Language Planning: from Practice to Theory, de 1997, Kaplan e Baldauf Jr. retomam brevemente essa distinção. Mais recentemente, Eggington (2002) discute essa proposta no [The] Oxford Handbook of Applied Linguistics (KAPLAN, 2002).
Como proposto originalmente por Baudauf Jr. (1994), o planejamento linguístico não planejado diria respeito a processos involuntários. Eggington afirma, nesse sentido, que
[...] o planejamento linguístico não planejado pode envolver a modificação linguística desencadeada de forma acidental por um conjunto partilhado de atitudes descomprometidas relativamente à situação linguística e/ou por uma solução ad hoc para um problema imediato (EGGINGTON, 2002, p. 404).
Como se pode observar, trata-se basicamente de uma atualização dos pressupostos que orientaram o surgimento e consolidação da área. Ao pressuposto de que a Política Linguística é uma "ciência objetiva" e neutra que atua na resolução de "problemas linguísticos", acrescentou-se a ideia de que, eventualmente, as situações linguísticas podem ser modificadas acidentalmente por instituições e indivíduos.
Quando se analisa o texto de Baudauf Jr. (1994) e o de Kaplan e Baudauf Jr. (1997), percebe-se uma relutância por parte dos autores (que parece refletir a postura da própria corrente que eles representam) no sentido de ampliar o escopo da área para além das "práticas planejadas". Embora os autores reconheçam que a situação sociolinguística de uma região possa ser afetada pela ação "involuntária" de agentes não oficiais, reafirma-se o foco nos aspectos planejados dos processos de planejamento linguístico. Baudauf Jr. (1994, p. 82) inicia seu texto lembrando justamente que o Planejamento Linguístico (aliás, como outros autores de mesma filiação teórica, Baudauf Jr. raramente utiliza a expressão "Política Linguística") ocupa-se dos aspectos planejados dos processos de política linguística. Assim, a área relega as práticas não planejadas a um segundo plano de interesses15 15 É significativo, nesse sentido, que Kaplan e Baudauf Jr. tenham dedicado pouco mais de duas páginas (297-299) ao tema em sua introdução à área de Política Linguística (KAPLAN e BAUDAUF JR., 1997, 403 p.). .
No livro Linguistic Culture and Languague Policy, de 1996, Schiffman propõe, por sua vez, uma distinção bastante produtiva entre política linguística explícita (overt) e implícita (covert). A política linguística explícita diz respeito à legislação oficial sobre questões linguísticas, enquanto o conceito de política linguística implícita refere-se àquelas regras linguísticas que não são oficiais ou mesmo formalizadas, mas que, cotidianamente, manifestam-se em práticas e sanções sociais.
A proposta de Schiffman constitui um avanço significativo na medida em que põe em evidência que as políticas linguísticas não são homogêneas (as diversas divisões administrativas de um país podem formular ou implementar políticas linguísticas diferentes) e que práticas linguísticas implementadas cotidianamente por uma população refletem uma política linguística implícita que, embora não sistematizada, possui regras claras. Essa distinção proposta por Schiffman é produtiva na medida em que explicita o caráter contraditório das políticas linguísticas oficiais de vários países. Como o autor destaca, o fato de um país não ter uma política linguística explícita relativamente a uma língua não significa que não exista uma política implícita que fomenta seu uso.
O autor toma como exemplo desse tipo de situação a política linguística norte-americana. Oficialmente, os Estados Unidos não têm uma política linguística explícita ou oficial para a língua inglesa ou para qualquer outra língua. Contudo, isso não significa que aquele país não tenha uma política linguística implícita (ou informal) para o inglês. Na realidade, como aponta Schiffman, há, na sociedade norte-americana, uma vigorosa política linguística implícita que funciona no sentido de desencorajar o uso de outras línguas que não o inglês. No que diz respeito aos serviços públicos, por exemplo, é praticamente impossível solicitar uma carteira de habilitação de trânsito ou um financiamento estudantil público em uma língua diferente do inglês. Como aponta Schiffman, caso uma pessoa tente solicitar um desses serviços em outra língua, argumentando que se trata de uma opção legalmente fundamentada, possivelmente ouviria de seu interlocutor que "todos sabem que" a língua padrão é o inglês (SCHIFFMAN, 1996, p. 14-15). Assim, a política linguística implícita norte-americana atua no sentido de tornar ilegítima a utilização de outras línguas na vida pública daquele país. As demais línguas devem ficar restritas à vida privada16 16 Desde a publicação do texto de Schiffman, a política linguística oficial norte-americana modificou-se significativamente. O espanhol, particularmente, vem ganhando legitimidade na vida pública de muitas cidades e estados. Contudo, a política linguística informal pró língua inglesa continua atuando de forma contundente no dia a dia da população. .
Um outro aspecto produtivo da proposta de Schiffman é a ideia, já expressa no título do livro, de que a política linguística está fortemente relacionada à cultura linguística (language culture). A esse respeito, o autor afirma, na introdução da obra, que
[d]eve estar claro a essa altura que o pressuposto básico desta obra é que a política linguística fundamenta-se, em última instância, na cultura linguística, ou seja, no conjunto de comportamentos, suposições, formas culturais, preconceitos, sistemas populares de crenças, atitudes, estereótipos, formas de pensar sobre a linguagem e as circunstâncias histórico-religiosas associadas a uma língua específica (SCHIFFMAN, 1996, p. 5).
Schiffman acredita que as representações ou crenças (beliefs) de uma comunidade linguística relativamente à sua língua definem suas atitudes em relação a outras línguas. Assim, as representações linguísticas de uma comunidade influenciam na manutenção e transmissão da língua ou variante falada pelo grupo ao mesmo tempo em que fomentam ou desestimulam o ensino e a aprendizagem de outras línguas.
Para o autor, a descrição da política linguística de uma sociedade deve, obrigatoriamente, levar em consideração a história (em sentido amplo) dessa comunidade. Caso contrário, as análises resultarão em uma descrição simplista e inexata, uma vez que, muitas vezes, a política linguística explícita não corresponde à política linguística implícita que vigora na sociedade. Descrições fundamentadas somente na legislação oficial sobre a questão linguística fazem crer que as políticas linguísticas são aleatórias, ideia que subjaz ao pressuposto neoclássico de que a prática da política linguística é objetiva. Essa ideia também fundamenta o pressuposto de que os indivíduos decidem livremente estudar ou não uma determinada língua.
Schiffman propõe que se confronte a política linguística explícita com a política linguística informal, o que implica estabelecer uma relação entre as práticas e representações linguísticas e a conjuntura histórica, social, cultural, educacional e mesmo religiosa da comunidade cuja política se deseja compreender. Nessa perspectiva, deve-se focalizar o papel de outros agentes (tais como os veículos de comunicação de massa, o mercado editorial, a instituição escolar, as associações religiosas, étnicas e profissionais, as empresas, a instituição familiar, entre muitos outros) na manutenção das representações linguísticas da comunidade e, consequentemente, de sua política linguística.
A proposta de Schiffman representa um avanço significativo na discussão acerca do funcionamento da política linguística uma vez que desloca o foco da análise das decisões de um indivíduo consciente (Abordagem Neoclássica) ou crítico (Abordagem Histórico-Estrutural) para a cultura linguística, entendida como fenômeno inscrito na história. Ao enfatizar o papel das representações linguísticas na tomada de decisão relativamente às línguas, Schiffman transfere o foco das investigações para as práticas cotidianas e para o imaginário social17 17 Em texto posterior (2006), Schiffman retoma a discussão acerca da importância da "cultura linguística" na compreensão dos fenômenos de política linguística. Tollefson (2006) também enfatiza a importância da cultura para os estudos da área e sugere uma abordagem de orientação discursiva. .
Contudo, Schiffman não chega a desenvolver uma abordagem capaz de captar o funcionamento desse modelo ampliado de política linguística (que contempla representações (ou crenças), atitudes e práticas sociais). Posteriormente, em 2004, Spolsky lança as bases de uma proposta teórica que seria capaz de descrever o funcionamento das políticas linguísticas não oficiais, mas não chega a desenvolvê-la. A partir da proposta de Spolsky, Shohamy (2006) formaliza um modelo teórico que possibilita a descrição das políticas linguísticas em funcionamento no dia a dia das sociedades contemporâneas, sejam elas explícitas e formalizadas, sejam implícitas e informais18 18 Rajagopalan (2007) apresenta uma análise contundente acerca da importância do livro de Shohamy para a área de Política Linguística e o saúda entusiasticamente. .
4. A PROPOSTA DE SPOLSKY (2004) E SHOHAMY (2006): A CONSOLIDAÇÃO DE UMA NOVA EPISTEMOLOGIA PARA A ÁREA19 19 Nesta seção, apresentam-se as linhas gerais do modelo ampliado de Política Linguística proposto inicialmente por Spolsky (2004) e desenvolvido e formalizado por Shohamy (2006). Para uma visão mais ampla da proposta dos autores, consultar a tese de Autor (2011), na qual se investigou, a partir do modelo teórico de Shohamy, o funcionamento da avaliação de línguas como instrumento da política linguística brasileira para a língua inglesa.
No livro Language Policy, de 2004, Spolsky propõe, na mesma direção que Schiffman (1996), uma concepção ampliada de política linguística, partindo do princípio de que a compreensão da política linguística das sociedades democráticas da atualidade passa mais pela análise das práticas e representações linguísticas e menos pela discussão da legislação oficial.
Essa proposta fundamenta-se, por um lado, na constatação de que as políticas linguísticas oficiais frequentemente não coincidem com aquelas que, de fato, vigoram na sociedade, e, por outro, no pressuposto de que a política linguística pode existir sem que se possa determinar um grupo (um agente) que a promova explicitamente, o que significa uma "ruptura" com os modelos ortodoxos de pesquisa na área. Como propõe Spolsky,
[...] a política linguística existe mesmo naqueles contextos em que ela não foi explicitada ou estabelecida oficialmente. Muitos países, instituições e grupos sociais não têm uma política linguística formal, de modo que a natureza de sua política linguística deve ser derivada a partir do estudo de suas práticas e crenças linguísticas. Mesmo naqueles contextos em que há uma política linguística formal, seu efeito nas práticas linguísticas não é garantido nem consistente (SPOLSKY, 2004, p. 08).
A política linguística pode aparecer explicitamente em um documento específico ou de forma difusa em vários documentos. Nos países em que não há nenhuma referência à questão linguística no texto legislativo, a descrição da política linguística em vigor naquela comunidade torna-se muito mais complexa e, nesses casos, devem-se focalizar as práticas e representações linguísticas da comunidade para descrevê-la (SPOLSKY, 2004, p. 13).
Como Schiffman (1996), Spolsky acredita que os membros de uma comunidade de fala (speech community) compartilham um conjunto de representações sobre a linguagem, sobre sua língua materna, sobre as línguas faladas por outros povos e sobre as práticas linguísticas. Muitas vezes, essas representações fomentam a constituição daquilo que Spolsky denomina de "ideologia consensual", a qual pode levar à atribuição de valor positivo e prestígio a uma língua e a determinados usos linguísticos. Nos termos do autor, "ideologia ou crenças linguísticas designam o consenso de uma comunidade de fala acerca de qual valor atribuir a cada uma das variantes ou variedades linguísticas que compõem seu repertório" (SPOLSKY, 2004, p. 14). Outro aspecto importante da proposta de Spolsky é que as representações derivam das práticas ao mesmo tempo em que as influenciam. A compreensão dessa relação de influência mútua deve sempre levar em consideração a conjuntura histórica mais ampla.
A proposta de Spolsky rompe com o modelo binário que, desde o surgimento da Política Linguística na década de 1960, orientou os pesquisadores da área. No modelo tradicional, há uma rígida relação hierárquica entre a política linguística e o planejamento. Formula-se uma política e, posteriormente, implementam-se ações de planejamento visando atingir as metas pré-estabelecidas. Na perspectiva de Spolsky, diferentemente, a política linguística apresenta três componentes hierarquicamente equivalentes e inter-relacionados: representações (beliefs), práticas (practices) e gerenciamento (management). As representações se referem às ideologias sobre a língua(gem) que subjazem às políticas, enquanto as práticas linguísticas se relacionam à ecologia linguística de uma região e focalizam as práticas que, de fato, ocorrem na comunidade, independentemente da política linguística oficial. Essas práticas podem confirmar a política linguística oficial ou contrariá-la20 20 Para Spolsky, dada a presença hegemônica da língua inglesa no mundo atual, ela também faz parte da ecologia linguística e das práticas de todas as sociedades. Considere-se, por exemplo, que qualquer usuário da Internet, independentemente da nacionalidade, utiliza frequentemente a língua inglesa em suas interações com a Rede. . O gerenciamento linguístico, por sua vez, refere-se às ações específicas que objetivam manipular o comportamento linguístico de uma dada comunidade21 21 Na proposta de Spolsky, não há uma hierarquia entre os componentes do modelo. Em Shohamy (2006), verifica-se algo semelhante. A partir da leitura desses dois autores, pode-se afirmar que a força de cada um dos componentes do modelo pode variar, a depender das especificidades dos diferentes contextos. . Shohamy (2006, p. 53) propõe a seguinte representação do modelo de Spolsky:
Em Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches, de 2006, Shohamy amplia e formaliza o modelo de política linguística proposto inicialmente por Spolsky (2004). Como se pode depreender do título, a autora procura desenvolver uma abordagem capaz de revelar e explicar o funcionamento das políticas linguísticas ocultas ou implícitas que vigoram nas sociedades contemporâneas. Na mesma direção que Schiffman (1996) e, particularmente, que Spolsky (2004), Shohamy propõe uma concepção ampliada de política linguística. A autora parte do pressuposto, enunciado anteriormente por Spolsky, de que as políticas linguísticas oficiais de muitos países, muitas delas baseadas no respeito ao multilingualismo, nem sempre refletem a real política linguística em funcionamento nessas sociedades. Seriam somente declarações de intenções. Shohamy acredita que
[...] as políticas linguísticas de fato são determinadas alhures por um conjunto de mecanismos que, indiretamente, perpetuam as PLs [Políticas Linguísticas] e que servem como instrumentos para converter ideologias, principalmente em estados-nação tradicionais, em políticas homogêneas e hegemônicas (SHOHAMY, 2006, p. 53).
Como se apontou na seção anterior, a proposta de Schiffman (1996) representou um avanço considerável relativamente às abordagens neoclássica e histórico-estrutural na medida em que deslocou o foco das análises para a "cultura linguística". Pessoas e instituições implementariam em suas práticas (linguísticas) cotidianas sua cultura linguística, isto é, suas representações relativamente à linguagem e à(s) língua(s). Shohamy compartilha desse pressuposto. Contudo, o trabalho da autora vai muito além dessa constatação. Como se afirmou anteriormente, ela procura desenvolver um modelo capaz de explicar o funcionamento daquilo que ela denomina política linguística oculta (hidden language policy) ou de fato (de facto language policy).
Sua proposta se fundamenta no conceito de mecanismo (mechanism) ou dispositivo (device) de política linguística. Os mecanismos são os canais por meio do quais as políticas são disseminadas e/ou reproduzidas na sociedade. Portanto, eles incorporam as agendas ocultas da política linguística e atuam em seu funcionamento de forma explícita e/ou implícita. A política linguística oficial, expressa em um texto legislativo, seria um exemplo de mecanismo explícito, enquanto os materiais didáticos, os exames de línguas, os sinais de trânsito, os nomes próprios (de pessoas, lojas e objetos etc.), o vestuário, entre outros, seriam mecanismos implícitos.
Na proposta de Shohamy, é por meio desses mecanismos que as ideologias (ou representações) são transformadas em políticas homogêneas e hegemônicas. Assim, para compreender a real política linguística em vigor em uma sociedade, é necessário examinar outros indicadores que não a legislação oficial, pois são eles que, explícita e/ou implicitamente, ditam e impõem práticas linguísticas (as quais, para Shohamy, constituem a política linguística de fato). É por meio desses mecanismos que as reais políticas linguísticas de uma comunidade se manifestam e podem ser apreendidas e problematizadas.
Como se pode observar, Shohamy propõe uma política linguística dispersa no tecido social (ou na cultura linguística, como sugere Schiffman (1996)). Portanto, é necessário examinar o funcionamento social desses mecanismos, uma vez que é por meio deles que a política linguística é reproduzida e se manifesta. Trata-se de um processo circular e complexo: os mecanismos criam a real política linguística e, ao mesmo tempo, a manifestam.
Na proposta de Spolsky (2004) e Shohamy (2006), os mecanismos de política linguística são o ponto de convergência entre a ideologia (ou representações) e as práticas. Enquanto alguns mecanismos são explícitos, isto é, marcam publicamente uma determinada posição política relativamente à questão linguística, outros não o fazem explicitamente. Contudo, isso não significa que esse segundo grupo de mecanismos seja apolítico. De fato, esse é um ponto central nas propostas de Spolsky e Shohamy. Segundo eles, os mecanismos implícitos frequentemente são percebidos pela maioria das pessoas como mecanismos neutros relativamente a questões políticas. Assim, acredita-se que eles não estão envolvidos no fato político e nas relações de poder que se desenvolvem no interior da sociedade. Geralmente, são vistos pela população como mecanismos neutros, o que eles não são. Como propõe Shohamy,
[d]eve-se observar que os mecanismos ou dispositivos políticos são utilizados por todos os grupos na sociedade, de forma descendente ou ascendente, sempre que eles utilizam a língua como forma de converter ideologias em práticas e de criar políticas de fato. No entanto, são aqueles que têm autoridade que podem utilizar os mecanismos de forma mais efetiva, já que eles têm mais/maior acesso a sanções, penalidades e recompensas, incluindo as fontes de financiamento (SHOHAMY, 2006, p. 54).
Enquanto os mecanismos de política linguística tradicionalmente são utilizados como aparatos legítimos (e neutros) do estado democrático, a proposta ampliada de Shohamy aponta para a necessidade de uma conscientização acerca de como o uso desses mecanismos cria e influencia as reais políticas linguísticas das sociedades contemporâneas. Para Shohamy, não se tem consciência acerca do poder desses mecanismos, de sua capacidade de influenciar e fomentar comportamentos linguísticos e práticas sociais relacionadas à(s) língua(s).
Essa forma não explícita de política linguística é muito mais efetiva, pois, a princípio, não está havendo imposição de um comportamento linguístico. Seria uma questão de escolha individual, como preconiza a abordagem neoclássica. Como lembra Shohamy, "[i]sso também significa que as pessoas se sujeitam, sem questionar, às demandas impostas pelos mecanismos visto que elas não têm consciência das influências negativas associadas a eles, em termos de direitos linguísticos e do processo democrático [...]" (2006, p. 55).
Os mecanismos de política linguística, em última instância, determinam a forma como a população percebe uma língua específica (suas representações) e, consequentemente, influenciam suas atitudes relativamente a essa língua. Assim, os mecanismos fomentam as práticas sociais da comunidade e, de fato, a real política linguística em vigor na sociedade. Nas palavras de Shohamy, "[o]s mecanismos, então, são instrumentos de gestão da política linguística, mas eles também são formas de policymaking em termos de percepção, escolha e uso efetivo [de uma língua]" (SHOHAMY, 2006, p. 55). Os mecanismos são policymarkers na medida em que afetam, criam e perpetuam práticas linguísticas e, consequentemente, definem as reais políticas linguísticas.
Outro postulado importante do modelo ampliado de política linguística proposto por Spolsky e Shohamy é que as línguas não são neutras e que elas, na verdade, estão envolvidas em agendas políticas, ideológicas, sociais e econômicas. Os mecanismos de política linguística, consequentemente, também não são neutros e atuam como veículos de promoção e perpetuação dessas agendas.
Para Shohamy, especificamente, a língua (ou línguas) é (são) ideológica(s) porque, frequentemente, está(ão) associada(s) a um ideal de unidade, de lealdade, de patriotismo etc. Socialmente, a proficiência em uma língua é percebida como um símbolo de status, de poder, de pertencimento a grupos específicos. Ela também é "econômica" na medida que ser ou não proficiente em uma língua pode ter consequências econômicas positivas ou negativas. Nos termos da autora,
[...] a língua é utilizada para expressar pertencimento a um determinado grupo ("nós/eles"), para demonstrar inclusão ou exclusão, para determinar lealdade ou patriotismo, para indicar o status econômico ("tenho/não tenho") e para a classificação de pessoas e de identidades individuais. Além disso, a língua é utilizada como uma forma de controle, ao se impor o uso de uma língua de determinados modos (correto, autêntico, native-like, gramatical, etc.) ou mesmo ao se controlar o direito de utilizá-la" (SHOHAMY, 2006, p. xv).
Na Figura 2, a seguir, Shohamy representa graficamente sua proposta de funcionamento da política linguística.
Na tentativa de explicar o funcionamento da política linguística das sociedades contemporâneas, Shohamy, na mesma direção que Spolsky, abandona a divisão tradicional da política linguística em política e planejamento e propõe um modelo mais amplo e complexo. Como se pode observar no diagrama da Figura 2, as ideologias (ou representações) linguísticas fomentam/manifestam-se em mecanismos de política linguística, e esses, por sua vez, definem a real política linguística da comunidade, isto é, as práticas linguísticas22 22 Na obra de 2006, Shohamy analisa detidamente o funcionamento de quatro desses mecanismos: rules and regulations; language education policies; language tests; e language in the public space. Devido aos limites deste artigo, o funcionamento desses mecanismos não será discutido. Ao leitor interessado especificamente em avaliação de línguas, sugere-se a leitura de Shohamy 2001 e 2008. Em Autor (2011), encontra-se uma análise do papel de dois exames de línguas na política linguística brasileira para a língua inglesa, segundo a proposta de Shohamy. .
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como o título da seção anterior sugere, o modelo teórico esboçado por Spolsky (2004) e desenvolvido e formalizado por Shohamy consolida uma transformação epistemológica na área de Política Linguística que se iniciou ainda no período de criação e desenvolvimento da área. Como se demonstrou ao longo deste texto, o trabalho de Tollefson e o de Schiffman foram fundamentais nesse processo de mudança. De uma disciplina cientificamente a-histórica, passou-se a um campo de pesquisa fortemente comprometido com o social e o político.
Ao concluir esta incursão pela história epistemológica da Política Linguística, resta a constatação de que se trata de uma história ainda em construção para a qual todos os comprometidos com o tema podem contribuir.
Recebido: 22/06/2013
Aceito: 23/10/2013
- BALDAUF JR., R. B. (1994). "Unplanned" Language Policy and Planning. Annual review of Applied Linguistics, v. 14, n. 1993/1994, pp. 82-89.
- BAMGBOSE, A. (1989). Issues for a model of language planning. Language problems and Language Planning, v. 13, n. 1, pp. 24-33.
- BRIGHT, W. (Ed.). (1992). International Encyclopedia of Linguistics, v. 4 Oxford: Oxford University Press.
- BRUTHIAUX, P. (1992). Language description, language prescription, and language planning. Language problems and Language Planning, v. 16, n. 3, pp. 221-234.
- CALVET, L.-J. (2002). Sociolinguística: uma introdução crítica trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial.
- _______. (2007). As Políticas Linguísticas Trad. Isabel de Oliveira Duarte; Jonas Tenfen; Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial: IPOL.
- COOPER, R. L. (1989). Language Planning and social change Cambridge: Cambridge University Press.
- CRYSTAL, D. (1992). Glossary (Language Planning). In: Bright, W. (ed.). International encyclopedia of Linguistics: v. 4 Oxford: Oxford University Press, pp. 310-311.
- DONNACHA, J. M. (2000). An integrated language planning model. Language problems and Language Planning, v. 24, n. 1, pp.11-35.
- EASTMAN, C. M. (1983). Language Planning: an introduction San Francisco: Chandler & Sharp Publishers, INC.
- EGGINTON, W. G. (2002). Unplanned Language Planning. In: Kaplan, R. B. (ed.). The Oxford handbook of Applied Linguistics Oxford: Oxford University Press, pp. 404-415.
- FERGUSON, G. (2006). Language Planning and education Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- FISHMAN, J. (Ed.). (1974a). Advances in Language Planning Paris: Mouton The Hague.
- _______. (1974b). Language Planning and language planning research: The State of the Art. In: Fishman, J. (ed.). Advances in Language Planning Paris: Mouton The Hague, pp. 15-33.
- _______. (1994). Critiques to Language Planning: a minority languages perspective. Journal of multilingual and multicultural development, v. 15, pp. 91-99.
- FISHMAN, J. A; COOPER, R. L.; CONRAD, A. W. (Orgs.). (1977). The spread of English: the sociology of English as an additional language Rowley: Newbury House Publishers.
- FISHMAN, J.; FERGUSON, G.; DAS GUPTA, J. (Eds.). (1968). Language problems of developing nations London: John Wiley.
- HAUGEN, E. (1959). Planning for a standard language in Norway. Anthropological Linguistics, v. 1, n. 3, pp. 8-21.
- _______. (1966). Language conflict and Language Planning: the case of modern Norwegian Cambridge: Harvard University Press.
- HOLDEN, N. J. (1989). Toward a functional typology of languages of international business. Language problems and Language Planning, v. 13, n. 1, pp. 1-8.
- JAHR, E. H. (1992). Language Planning. In: Bright, W. (Ed.). International encyclopedia of Linguistics: v. 4. Oxford: Oxford University Press, pp. 12-14.
- KAPLAN, R. B. (1991). Applied Linguistics and Language Policy and Planning. In: Grabe, W.; Kaplan, R. B. (eds.). Introduction to Applied Linguistics New York: Eddison-Weslçey Publishing Company, pp. 143-165.
- _______. (Ed.). (2002). The Oxford handbook of Applied Linguistics Oxford: Oxford University Press.
- KAPLAN, R. B.; BALDAUF Jr. R. B. (1997). Language Planning: from practice to theory Clevedon: Multilingual Matters LTD.
- KAPLAN, R. B.; WIDDOWSON, H. G. (1992). Applied Linguistics. In: Bright, W. (ed.). International encyclopedia of Linguistics: v. 1 Oxford: Oxford University Press, pp. 76-80.
- KUHN, T. S. (2009). A Estrutura das Revoluções Científicas Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 9Ş. Ed.
- McKAY, S. L.; WONG, S.-L. C. (Eds.). (1988). Language diversity: problem or resource? Boston: Heinle & Heinle Publishers.
- MAHER, T. de J. M. (2008). Em busca de conforto linguístico e metodológico no Acre indígena. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 47, n. 2, pp. 409-428.
- _______. (2010). Políticas linguísticas e políticas de identidade: currículo e representações de professores indígenas na Amazônia Ocidental Brasileira. Currículo sem fronteiras, v. 10, n. 1, pp. 33-48.
- NAHIR, M. (1984). Language planning goals: a classification. Language problems and Language Planning, v. 8, n. 3, pp. 294-327.
- NEUSTUPNÝ, J. V. (1974). Basic types of treatment of language problems. In: Fishman, J. (ed.). Advances in Language Planning Paris: Mouton The Hague, pp. 37-48.
- OLIVEIRA, G. M. de. (2007). Prefácio. In: Calvet, L-J. As políticas linguísticas Trad. Isabel de Oliveira Duarte; Jonas Tenfen; Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial: IPOL, pp. 7-10.
- RAJAGOPALAN, K. (2007). Review of "Language Policy: hidden agendas and new approaches" by Elana Shohamy. International journal of Applied Linguistics, v. 17, pp. 250-254.
- REAGAN, T. (2006). Language Policy and Sign Languages. In: Ricento, T. (ed.). An introduction to language policy: theory and method Malden: Blackwell Publishing, pp. 329-345.
- RIBEIRO DA SILVA, E. (2011)."[...] você vai ter que aprender inglês de qualquer jeito, querendo ou não!": Exames de línguas e política linguística para o inglês no Brasil Tese de Doutorado em Linguística Aplicada. Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas.
- RICENTO, T. (Ed.). (2006). An introduction to Language Policy: theory and method Malden: Blackwell Publishing.
- RUBIN, J.; JERNUDD, B. H. (Eds.). (1971). Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations Honolulu: East- West Center: Hawaii University Press.
- RUÍZ, R. (1988). Orientations in Language Planning. In: McKay, S. L.; Wong, S.-L. C. (eds.). Language diversity: problem or resource? Boston: Heinle & Heinle Publishers, pp. 3-25.
- SCHIFFMAN, H. F. (1996). Linguistic culture and Language Policy London: Routledge.
- _______. (2006). Language Policy and linguistic culture. In: Ricento, T. (ed.). An introduction to Language Policy: theory and method Malden: Blackwell Publishing, pp. 111-126.
- SHOHAMY, E. (2001). The power of the tests: a critical perspective on the uses of language tests Essex: Longman.
- _______. (2006). Language policy: hidden agendas and new approaches London: Routledge.
- _______. (2008). Language Policy and language assessment: The relationship. Current issues in language planning, v. 9, n. 3, pp. 363-373.
- SPOLSKY, B. (1998). Sociolinguistics Oxford: Oxford University Press.
- _______. (2004). Language Policy Cambridge: Cambridge University Press.
- SPOLSKY, B.; COOPER, R. (1991). The language of Jerusalem Oxford: Clarendon Press.
- TOLLEFSON, J. W. (1980). The language planning process and language rights n Yugoslavia. Language problems and language planning, v. 4, n. 2, pp. 141-156.
- _______. (1981). Centralized and decentralized language planning. Language problems and Language Planning, v. 5, n. 2, pp. 175-188.
- _______. (1988). Covert policy in the United States Refugee Program in Southeast Asia. Language problems and Language Planning, v. 12, n. 1, pp. 30-43.
- _______. (1991). Planning language, planning inequality: Language Policy in the community London: Longman.
- TOLLEFSON, J. W. (2006). Critical Theory in Language Policy. In: Ricento, T. (ed.). An introduction to Language Policy: theory and method Malden: Blackwell Publishing, pp. 42-59.
- WILEY, T. G. (1996). Language Planning and Policy. In: McKay, S. L.; Hornberger, N. H. (eds.). Sociolinguistics and language teaching Cambridge: Cambridge University Press, pp. 103-147.
- _______. (2006). The lessons of historical investigation: implications for the study of Language Policy and Planning. In: Ricento, T. (ed.). An introduction to Language Policy: theory and method Malden: Blackwell Publishing, pp. 135-152.
- WRIGHT, S. (2004). Language Policy and Language Planning: from nationalism to globalisation Hampshire: Palgrave Macmillian.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Jan 2014 -
Data do Fascículo
Dez 2013
Histórico
-
Recebido
22 Jun 2013 -
Aceito
23 Out 2013