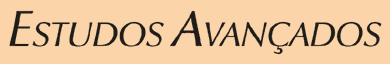ARTIGOS ASSINADOS
Cem anos de República: notas sobre as transformações estruturais no campo
Geraldo Müller
Introdução
A ênfase que se dará às presentes notas recaí sobre as formas de obtenção e distribuição do excedente agrário. Portanto, na dimensão tecnoeconômica da vida social. As demais dimensões, como a cultural, a política e a social, serão mencionadas, mas sem um rigor analítico mínimo como o que se pretende dar à econômica.
A parte histórica não passa de um simples esboço, uma visita ousada à morfologia das relações entre indústria e agricultura. Já as notas sobre as últimas décadas, pretende-se que sejam mais escoradas em um esquema de análise.
O termo estrutural do título tem a conotação de expressar o contexto no qual são examinados os processos econômicos, donde a datação sugerida no item seguinte, e de indicar a existência de limites às opções desejadas pelos vários quereres sociais associados a uma determinada base econômica. O termo campo será entendido sobretudo como um conjunto de atividades econômicas que incluem a terra como meio de produção; a forma que adquirem tais atividades estão, sem dúvida, relacionadas a uma determinada estrutura de obtenção e distribuição do excedente agrário. As tensões conceituais, ou ambigüidades que acompanham a exposição são constitutivas do texto.
Digamos, ainda que sucintamente, que a grande transformação ocorrida no campo brasileiro nestes 100 anos de República consistiu na mudança de predomínio do conjunto de atividades, e de relações sociais a elas associadas, organizadas sob a forma de latifúndio-minifúndio para o predomínio de um outro conjunto, designado de complexo agroindústrial.
Esta tese básica pode dar a idéia de que se queira reeditar as dicotomias taxonômicas campo/cidade, atrasado/moderno, etc., quando na verdade não é isso que se deseja expressar.
A tese pode ser exposta de outra maneira. Nestes 100 anos de Repúbica, o campo perdeu seu significado em conexão com a sociedade rural para converter-se em simples referência de um espaço geoeconômico de atividades de uma sociedade urbano-metropolitana. É claro que a transformação do campo de termo que denotava uma sociedade rural para um que expressa um simples setor de atividade que usa a terra como meio de produção, mostra-se mais claramente na dimensão tecnoeconômica da vida social do que na cultural e na política; mais claramente ao se tomar o País como um todo do que as regiões mais modernizadas do ângulo da geração do excedente.
No âmbito conceituai, vive-se uma variedade de expressões ambíguas, que parecem próprias de épocas de profundas transformações. Termos como rural, agrícola, atrasado e outros mais podem ser incluídos nessas expressões. No texto, ao indicar processos e seus relacionamentos, estar-se-á procurando dar contornos mais claros a algumas expressões, de modo a minimizar seu teor de ambigüidade.
As transformações estruturais podem ser sumariamente indicadas pelas formas polares de organização da extração e distribuição do excedente agrário, do complexo latifúndio-minifúndio ao complexo agroindustrial. Podemos chamar esta radical transformação de modernização agrária, entendendo-se por isto o processo de incorporação das atividades agrárias aos padrões industriais, financeiros e comerciais prevalecentes no País, quando neste já predominava a dinâmica econômica centrada na indústria em sentido estrito. Em outras palavras: a modernização significa a ampliação do modo capitalista intensivo de produzir e de distribuir nas atividades agrárias, de sorte que o predomínio deste modo impõe-se ao conjunto nacional destas atividades, restringindo as opções históricas dos agentes socioeconômicos delas participarem. De sorte que, quando esse processo se impõe, as unidades de produção e distribuição do excedente não podem mais, em termos predominantes, sere designadas por latifúndio ou minifúndio, e, caso forem usados tais termos, eles denotarão formas atrasadas de geração e distribuição do excedente.
Modernização agrária expressa a radical mudança na dinâmica das atividades agrárias, com profundas implicações no que se denomina de questões agrárias. Neste sentido, a inclusão de um item que examina a ambigüidade da posição de Prado Jr. (1979) visa a indicar as relações entre seu aporte analítico e os anos iniciais de aceleração da modernização agrária e de profunda crise da forma latifúndio-minifúndio.
Os impactos que a modernização tem provocado, sobretudo no que respeita à seletividade imposta aos produtores pela nova estrutura e dinâmica, são objeto de debates. Notadamente no campo sociopolítico da análise da modernização. Mas, pode-se dizer que a seletividade que restringe o acesso da esmagadora maioria à produção moderna deve-se a uma complexa rede de determinações, na qual ganham relevo as seguintes:
a) os mercados fortemente oligopolizados e administrados aos quais as atividades agrárias foram incorporadas;
b) a conversão destas atividades em mercados para as indústrias de bens de capital e insumos industriais, para as novas formas de agroindústria e de organizações comerciais, internas e internacionais;
c) as dinâmicas internas dos mercados fortemente influenciados pela internacionalização de padrões produtivos e comerciais;
d) a capacidade dos grupos agrários, e também dos não-agrários, mas com interesses nas atividades agrárias, em mobilizar recursos políticos e públicos para seu crescimento segundo os ditames da modernização e
e) o perfil histórico de distribuição de renda no País.
As radicais mudanças tecnoeconômicas e sociais nas atividades agrárias apontam claramente para uma diminuição dos postos de trabalho social, e, por conseguinte, do emprego nestas atividades. A diminuição do subemprego e a diminuição do número de estabelecimentos nas áreas em que a modernização é mais intensa apontam para essa direção. Os produtores tradicionais de médio e pequeno portes, que permanecem no meio rural, compõem os grupos sociais pobres e miseráveis. São o resultado da forma econômica nacionalmente dominante das forças sociais agrárias modernas, ainda que, à primeira vista, apresentem-se como simples fruto herdado do modo tradicional de produzir e distribuir do complexo latifúndio-minifúndio em crise.
Nestes 100 anos de República, o campo perdeu seu significado em conexão com a sociedade rural para converter-se em simples referência de um espaço geoeconômico de atividades de uma sociedade urbano-metropolitana.
Por conseguinte, a ausência geográfica dos processos modernos não significa que os grupos sociais aí residentes se encontrem em situação à parte da modernização, e que são detentores de uma dinâmica tecnoeconômica autônoma. Não há espécie alguma de dualismo econômico, tampouco uma articulação entre a dinâmica agrária moderna e a atrasada. As largas áreas de agricultura tradicional afora, é claro, os resquícios do padrão latifúndio-minifúndio não passam de moradia para os milhões de pessoas com tarefas temporárias em atividades agrárias modernas ou urbanas. Tais áreas mais se parecem com depósitos de pessoas que compõem um mercado urbano-rural de mão-de-obra. Essa miséria rural, assim como o êxodo, não são fenômenos à parte da modernização, tampouco simples exclusão, mas são produtos do predomínio e do avanço da modernização nas atividades agrárias.
Cabe aqui uma rápida referência a dois processos relevantes, que estão na raiz de boa parte dos atuais debates ideológicos, científicos, programáticos e constitucionais dos anos 80.
De um lado, ressurgem os movimentos sociais favoráveis a uma reforma agrária em larga escala, que aspiram a diminuir drásticamente a elevada concentração fundiária. De outro, estão os produtores modernos pequenos, médios e grandes envolvidos na luta competitiva que os obriga a avançarem na modernização, ampliando a capacidade produtiva instalada, e, por força, a contar com garantias institucionais mínimas para seus capitais.
Sabe-se que, nos anos 60 e 70, a onda modernizadora dispunha de apreciáveis somas e incentivos públicos. As políticas que favoreciam as exportações concediam incentivos fiscais e atendiam as demandas lobistas e, sobretudo, a política creditícia, ampliaram os grupos sociais modernos já existentes, criaram outros, bem como diversificaram as forças modernas agrárias. Nos anos 80, as diversas fontes públicas foram escasseando. Os contextos internacionais que demandavam bens agropecuários e agroindustriais e, até mesmo, máquinas e implementos agrícolas, igualmente sofreram constrições de peso. A modernização horizontalizada passa a ter seus limites. A disputa pelos favores públicos (subsídios, etc., constitutivos de todas economias contemporâneas) integra o horizonte da reprodução das forças modernas existentes. Vale dizer que a luta social cinge-se aos grupos modernos.
Com a democratização, emergiram numerosos movimentos sociais com base nas atividades tradicionais que, grosso modo, reivindicam o acesso às condições modernas de organização da produção e distribuição. Isto implicava tanto em alterações de porte na esfera político-institucional como em criar e redirecionar parcela considerável dos fundos públicos. A reivindicação era vultosa tanto pelos milhões de pessoas que seriam alocadas no setor reformado como pelo gastos imediatos que a operação exigia. Os fundos disponíveis no setor público, bem como no aparelho político-institucional que permite o acesso a eles, eram objeto de disputa férrea entre todas as forças modernas nacionais: industriais, financeiras, comerciais, serviços e agrárias. Numa situação destas, a reivindicação de uma monumental reforma agrária nas regiões mais modernas do País tecnoeconomicamente correta desencadeou uma série de movimentos sociais, com lances políticos, por ambas as posições.
Há que se observar ainda que, no contexto dos limites da modernização horizontal, desencadeia-se a concorrência entre as forças agrárias modernas por mercados, induzindo-as a intensificarem os processos modernos de produção e distribuição. A política agrícola tentada no Plano Cruzado original, de fato, foi dirigida e absorvida por essas forças sociais. Vale dizer que as forças agrárias modernas foram levadas a avançar na modernização, o que converteu toda e qualquer aspiração social com implicações econômico-financeiras por exemplo, alterar as regras do jogo em favor dos pobres em um desafio à sua situação de classe. Assim, de um lado foi hasteada a bandeira todo o poder à reforma agrária e, de outro, tudo à política agrícola.
A reforma agrária era reivindicada pelos movimentos sociais com base nas atividades tradicionais, que não aspiravam a algo contrário à situação de classe das forças agrárias modernas, mas tão-somente a conversão em irmãos socioeconômicos. Aspiravam a ingressar no clube que estava cerrando suas portas referentes ao primeiro estágio da modernização, mas foram barrados. O segundo estágio, no contexto descrito, levou as forças modernas a uma luta por uma política agrícola como exigência para que o processo democrático no País pudesse ser aprofundado e institucionalizado. Já os que aspiravam ascender à modernidade via reforma agrária sustentam que sem a possibilidade de uma incorporação efetiva de milhões não se conseguirá avançar no caminho democrático.
Há que se observar ainda que, no contexto dos limites da modernização horizontal, desencadeia-se a concorrência entre as forças agrárias modernas por mercados, induzindo-as a intensificarem os processos modernos de produção e distribuição.
O termo reforma agrária, por certo, refere-se a um outro contexto histórico estrutural face àquele em relação ao qual Prado Jr. (1962) refletiu. As opções que a atual estrutura das atividades agrárias permite elaborar são, do ângulo tecnoeconômico, muito mais restritivas do que aquelas dos anos 50 e 60. Por outro lado, optar por colonização ou assentamento significa negar a reforma agrária entendida como um movimento sociopolítico de massas. Além do mais, requerer uma reforma agrária a partir de ideais de justiça social, de luta contra a pobreza, supondo-se a distribuição de terras e o acesso de seus proprietários ao modo moderno de produzir e distribuir, significa não levar em conta a constrição da base tecnoeconômica moderna já montada, e sua capacidade instalada.
Assim, a ambigüidade teminológica, neste ano do centenário da Republica, parece haver penetrado de vez numa das questões mais caras a muitos pesquisadores e batalhadores das coisas relacionadas com o campo. E, na ausência de um esquema analítico que permita superar essa e outras ambigüidades, aliada à urgência dos tempos, aqueles acostumados a ter resposta (científica e prática) para tudo tendem a, de um lado, elaborar imperativos categóricos morais em face da pobreza e exigências abstratas de cidadania, e, de outro, elaborar estranhas análises centradas nos aspectos telúricos que povoam a imaginação da grande maioria do povo brasileiro.
O presente texto procura incorporar as ambigüidades conceituais das categorias com que trabalha, indicando os contextos de suas mais prováveis validades, ou seja, os limites estruturais de certos processos.
Do Latifúndio-Minifúndio ao Complexo Agroindustrial
Karl Kautsky formulou, em nível altamente abstrato, a indagação básica para quem deseja estudar a agricultura no capitalismo. Está em seu clássico A Questão Agrária, de 1898, texto decorrente das discussões travadas acerca do projeto de um programa agrário proposto na convenção do Partido Social-Democrático alemão. Diz este autor que "devemos verificar se o capital se apodera da agricultura, como o faz, se revoluciona, se torna insustentáveis as velhas formas de produção e propriedade e se acarreta ou não a necessidade de novas formas" (KAUTSKY, 1986). Resumidamente: se o capital se apodera da agricultura, como o faz?
Há ainda dois princípios neste texto clássico que servem como pontos fundamentais para a pesquisa atual, notadamente para países como o Brasil que recentemente passou por transformações enormes em sua agricultura.
O primeiro poderia ser assim enunciado: a circulação em geral, o comércio e as comunicações, revolucionadas pela acumulação de capital, aumentam a dependência da agricultura.
O segundo, assim: a aplicação das conquistas da ciência moderna na agricultura provoca uma revolução na organização rural, suprimindo o divórcio entre agricultura e indústria.
Em outras palavras, o capital se apodera da agricultura, inicialmente pelas vias de circulação, e, posteriormente, revolucionando seu modo de produzir. Do aumento da dependência da agricultura à sua integração com a industria: eis a trajetória se o capital dela se apodera. Como o faz nas distintas sociedades já é caso de pesquisa.
Como princípios gerais para o conhecimento das relações agricultura/indústria, não há por que não aceitá-los. No entanto, cabe ter presentes alguns pressupostos com que opera Kautsky, como, por exemplo, o suposto de uma luta entre dois modos de produção, na qual o capitalismo vai vencendo o feudalismo; o suposto do progressivo alastramento do capitalismo e o uso produtivo da terra; o pressuposto concorrencial; o pressuposto da renda da terra como barreira à entrada na agricultura dada a regulação econômica por uma taxa média de lucro. Certamente que, ao lançarmos mão da análise das relações entre indústria/agricultura no Brasil contemporâneo e, até rnesmo, pretérito , podemos utilizar aqueles princípios gerais; já no que respeita aos pressupostos analíticos conviria, pelos menos, cautela, uma vez que deveriam ser demonstrados.
Não parece haver objeções em se admitir que as atividades agropecuárias e florestais brasileiras de hoje somente podem ser explicadas se postas em relação com a indústria. Admitamos que se possa examinar tais relações, no período pós-escravocrata, a partir, digamos, de 1870. Isto posto, é admissível esquematizar associações entre padrão de acumulação de capital e padrão agrário por períodos históricos.
Mostra-se dispensável reiterar a precariedade do esquema. Contudo, serve para sugerir associações entre padrões industriais e agrários.
Em linhas gerais, e de acordo com o primeiro princípio antes enunciado, nos períodos iniciais predominou o aumento da dependência da agricultura via comunicações e comércio revolucionados pela acumulação de capital na economia nacional; isto é verdadeiro sobretudo no segundo período. Já nos dois últimos períodos ocorreu uma revolução no modo de produzir, organizar e distribuir na agricultura, suprimindo o divórcio entre esta e a indústria. Certamente que problemas agrários insertos nos dois primeiros períodos são distintos daqueles situados no contexto dos dois últimos. As relações entre indústria e agricultura bem como as dinâmicas específicas de uma e de outra sugerem que os contextos nos quais os problemas agrários mostram sua robustez e fragilidade nas esferas econômica, social e política são radicalmente distintos. O problema de infra-estrutura em estradas de rodagem já se colocava no período de 1930-60, assim como hoje. Contudo, as relações histórico-sociais são inteiramente distintas. Por força, distintas são as vias de solução. O problema socioeconômico da propriedade da terra (assim como outros: fome, desnutrição, pobreza) é distinto segundo o contexto em que se situe. Por força, as soluções serão distintas. Nesse sentido, uma solução semelhante à questão da posse da terra para o período de crise do padrão agrário latifúndio-minifúndio e para o período em que se aprofunda o padrão moderno, assume ares de anacronismo. Ares idênticos assume a solução liberal em relação ao problema da miséria rural da massa trabalhadora, jogando-o nos braços do Estado, pura e simplesmente.
Isto posto, consideremos as relações industria/agricultura no Brasil por volta de 1870 em diante. Graças à minuciosa investigação feita por Suzigan (1986), podemos afirmar que, no período que se estende daquela data até 1920/30, o investimento industrial, induzido pela expansão das exportações, não se reduziu a bens de consumo, mas incluía a produção de insumos e bens leves de capital para os setores agroexportador e de transporte, e para o processamento de produtos de exportação. Desenvolveu-se o beneficiamento e o processamento de lã, juta, algodão, couro, trigo e cana-de-açúcar, bem como se desenvolveu a produção interna de algumas máquinas agrícolas simples, como as de beneficiamento de café e arroz, e moendas para cana. O quanto estas indústrias incidiram sobre o modo de organizar a produção bem como o próprio modo de produzir na agricultura é um trabalho em busca de autor; contudo, longe estaríamos em exagerar julgando que teve pouca ou praticamente nenhuma repercussão. Grosso modo, este período da industria nacional corresponde ao predomínio inconteste do complexo latifúndio-minifúndio na agricultura. Pode-se ajuizar que na economia como um todo, mas sob forma regional, elevava-se a circulação em geral, aumentando a dependência da agricultura do comércio e das comunicações.
De acordo com Roseli Rocha dos Santos (1987), no primeiro período, a elite agroexportadora está presente e lidera a Associação Comercial de São Paulo, que reunia as elites comerciais, financeiras e industriais da época.
A luta pela industrialização, enquanto projeto específico, emerge a partir de 1918, e ganha vulto nos anos 20, culminando, na década seguinte, com a criação do Centro da Indústria do Estado de São Paulo (CIESP).
O grande expoente dessa luta foi Roberto Simonsen. O projeto de industrialização incluía a questão social-operária, e ganhou condições favoráveis com o agravamento da crise do setor exportador.
Vale a pena chamar a atenção para o entendimento que esse empresário tinha a respeito do papel da agricultura no projeto de industrialização. Segundo Simonsen "a política industrial levará a agricultura a uma grande evolução. Esta adotará a policultura e a indústria desenvolverá seus setores, fazendo uma economia mista agricultura-indústria" (SIMONSEN, 1930). A isso, de acordo com Roseli dos Santos, chamava de civilização.
Requerer uma reforma agrária a partir de ideais de justiça social, de luta contra a pobreza, supondo-se a distribuição de terras e o acesso de seus proprietários ao modo moderno de produzir e distribuir, significa não levar em conta a construção da base tecnoeconômica já montada, e sua capacidade instalada.
Quer-se, com isso, apenas indicar que o projeto da indústria artificial contemplava a agricultura como mercado, não só ofertador mas comprador da indústria. O que permite que se pense a existência de latifundiários não apenas favoráveis à industria natural mas também a modificações no modo de obter o excedente agrário. Certamente, as mudanças na produção cafeeira e, sobretudo, algodoeira dos anos 20 corroboram parcialmente essa idéia.
O período industrial de 1920-30 a 1955-60 caracteriza-se pela diversificação do investimento e pela transição para uma economia industrial, que se completaria por volta de meados dos anos 50. Tem-se, então, um sistema econômico dominado pelo capital industrial, tanto em termos de acumulação como de contribuição para o crescimento do PIB. "Pode-se afirmar com segurança que houve uma clara ruptura na década de 1920 em relação aos períodos anteriores. Entre as novas empresas fundadas neste período, ainda havia algumas de fabricação de máquinas e implementos leves para a agricultura (máquinas de beneficiar arroz, moendas para grãos e para cana-de-açúcar, etc.). Mas outras empresas novas já começaram a produzir máquinas pesadas para a agricultura (como a International Harvester Máquinas, que produzia arados e grades de discos) e maquinaria completa e peças para usinas de açúcar (Metalúrgica Dedini) (....). Contudo, a diversificação foi mais significativa na fabricação de máquinas industriais e para outros fins" (SUZIGAN, 1986).
Neste período surgem novas indústrias, como a que produz moinhos para o processamento de produtos agrícolas, a de arados reversíveis, máquinas de semear, fertilizadores e veículos agrícolas não-motorizados. Havia ainda, se bem que em escala diminuta, a produção de fertilizantes químicos, sendo que a produção maior era feita com matérias-primas de origem vegetal e animal. Por conseguinte, não há dúvida de que a acumulação de capital industrial passa a revolucionar o comércio e as comunicações, acelerando a dependência da agricultura e, em algumas regiões dos estados de São Paulo (café, cana e algodão) e do Rio Grande do Sul (arroz e trigo) observa-se um esboço de aplicação da ciência moderna na agricultura, de acordo com os termos de Kautsky (1986). Grosso modo, este período industrial corresponde à desagregação do predomínio do complexo latifúndio-minifúndio na agricultura de importantes áreas do Sul e do Sudeste, sua persistência na região Nordeste e a recriação da agricultura atrasada nas fronteiras agrícolas.
No que concerne especificamente ao comércio das regiões agrárias atrasadas que predominavam na geografia e na economia rural do País a explicação de Rangel mostra-se a mais pertinente. Ao criticar a ilusão estruturalista da gênese da inflação brasileira, este mestre afirma que "ao estudarem a inelasticidade da oferta de produtos agrícolas, os estruturalistas tomaram a nuvem por Juno. Concretamente, o que há é que, em numerosos casos, a agricultura não reage à elevação dos preços ocorrida no nível do consumidor final, por um aumento de produção. Ora, isso não significa inelasticidade da oferta agrícola, mas, simplesmente, que a comercialização dos produtos em causa é feita através de um oligopsônio-oligopólio, que opera como se monopsônio-monopólio fosse, e que intercepta, no nível do intermediário, o incremento de preços pagos pelo consumidor final, impedindo que este chegue ao produtor. Trata-se, portanto, de uma anomalia no mecanismo de formação de preços, e não de inelasticidade da oferta agrícola" (RANGEL, 1979). Assim, o aparelho comercializador oligopsonista-oligopolista que é a forma comercial predominante nos períodos de hegemonia do complexo latifúndio-minifúndio e de sua desagregação funciona, tão-somente, se houver uma grande elasticidade da oferta agrícola, no médio e longo prazos, juntamente com uma rigidez de gêneros agrícolas no varejo.
Do ângulo do tema que nos interessa, este período pode ser designado, de acordo com Roseli dos Santos, como o das origens industriais da modernização agrícola no Brasil. Notadamente em termos de que a dinâmica de crescimento econômico nacional passa, de modo definitivo, para a órbita industrial, convertendo os interesses puramente agroexportadores em subalternos.
Após a revolução de 30, foram criados os Institutos do Café, do Açúcar, da Borracha, etc., que visavam a proteção da renda dos produtores e grandes comerciantes, e, também, o fomento técnico. Para ampliar a oferta, multiplicaram-se as rodovias e incentivou-se a colonização.
Nas décadas de 40 e 50, tanto as políticas quanto os agentes econômicos recebem forte influência do padrão agrário moderno norte-americano, estruturado nos anos 30 e 40. Sua influência maior, senão exclusiva, foi em São Paulo. Havia orrentes entre empresários agrícolas e industriais favoráveis aos incentivos à diversificação agrícola via subsídio crediticio, fertilizantes químicos e máquinas, e assistência técnica. Vale dizer, visto esse contexto com os olhos de hoje, que as elites econômicas contavam com parcela favorável à modernização agrária, sobretudo em São Paulo, o que se efetivará de modo menos intenso à época, mas plenamente após o golpe militar de 1964.
Com a vitória da linha pró-industrialização, no pós-guerra, a qual tinha no confisco cambial parcela considerável de seu financiamento, as elites agroexportadoras mais ortodoxas (cujas atividades centravam-se nas atividades agrárias e exportadoras) consideraram-se vítimas do tipo de crescimento econômico industrializante.
Se a política de confisco cambial favorecia os importadores, ou seja, os industriais, desfavorecia os exportadores. E, para compensar estes últimos, o Governo criou um sistema de bonificações a partir de 1953, que vigirá até o final da década.
Os industriais lutavam pela não-desvalorização cambial e pela manutenção do confisco sobre as exportações. Os agroexportadores lutavam por um comércio livre (leia-se, taxa de câmbio livre) e contra o confisco. O Estado aparava as arestas, mantendo, assim, o pacto das elites. O que, no entanto, implicava em dinamizar a economia, levando o Estado a criar novos espaços para as inversões públicas e privadas.
Por volta de 1958, os industriais reivindica um aumento das exportações agrícolas com diminuição de seus custos de produção, juntamente com a diversificação das exportações. Esta reivindicação soma-se a outras: combater a elevada incidência dos preços dos alimentos sobre os salários urbanos; controlar os preços agrícolas no varejo e no atacado, pois os oligopsônios embolsam boa parte da renda dos agricultores.
Em termos agrários, o que está posto em xeque é a agricultura extensiva das áreas consolidadas e das áreas de fronteira. O ritmo do crescimento industrial não pode mais depender do ritmo do crescimento do excedente agrário, seja de matérias-primas seja de bens alimentares. A abundância de terras somente tem sentido neste contexto quando sua incorporação passa a obedecer aos ritmos da demanda industrial (matérias-primas e alimentos), em termos de seu crescimento efetivo e potencial e das taxas de lucro esperadas. A divisão social do trabalho na indústria e no comércio cobram a compatibilização com as atividades agrárias, vale dizer, estas devem aprofundar sua divisão social do trabalho. Em outros termos, a divisão nacional do trabalho social deixa de ter seu dinamismo na separação entre os setores, indústria e agricultura, e passa para uma divisão intra-setores, isto é, a agricultua passa a ser exigida pelos diversos ramos ou setores industrais (e comerciais) segundo seus ritmos de crescimento e lucratividade. É neste sentido que as atividades agrárias convertem-se em atividades industriais.
Em 1959, a Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo reivindica a garantia de preços aos produtores, assistência creditícia, facilidades para a obtenção de máquinas e fertilizantes, transportes e uma política agressiva de conquista de novos mercados externos. Por outro lado, desde meados da mesma década, vários grupos sociais se mobilizam em favor de uma reforma agrária que mine a concentração fundiária. A mesma polarização, reeditada no final da década de 70, emergiu originariamente nos anos 50: distribuição de terras versus modernização das atividades agrárias.
O padrão agrário moderno constitui-se no processo de mudança do predomínio do modo tradicional de produzir e distribuir para o predomínio do modo moderno.
Vale a pena relembrar o modelo ideal de exploração agrícola defendido por uma parcela daqueles que defendiam a modernização. A Conjuntura Econômica de junho de 1957, do IBGE/FGV, a definia como uma propriedade de tamanho médio, de base familiar, altamente produtiva e consumidora de bens industriais, semelhante às farmers americanas; além disso, em termos mais amplos, combate à ociosidade e à especulação fundiária via tributação.
Em termos mais amplos, em 1960, a industrialização é uma realidade insofismável e as forças burguesas agroexportadoras estão encurraladas (perderam a luta pela reforma cambial e a luta pela liberação dos preços agrícolas internos). Nesta situação, os produtores modernos juntam-se aos industriais e propugnam uma reforma agrária sem reforma fundiária, mas através do aumento de produtividade.
Data dos anos 50 a Tríplice Aliança entre os capitais nacionais e estrangeiros e os estatais. Esta aliança nada mais é do que a forma nacional da expansão do capitalismo oligopólico do pós-guerra num país atrasado da periferia. E se ela fez com que o Brasil passasse de vez de uma economia agroexportadora para uma economia industrial, implicou também numa aderência significativa, na verdade e em boa medida, numa fusão entre os interesses internos e externos, com ganhos extraordinários de poder econômico e político por parte do Estado. Deve-se observar, no entanto, que a maior parte da agricultura não sofreu modificações de monta em seu modo predominante de produzir.
O período industrial que compreende os anos 60 e 70 pode ser caracterizado como aquele em que praticamente se concluiu a substituição de importações iniciadas há meio século. O investimento industrial segue tanto a linha de expansão do aparelho produtivo montado nos anos 50, como visa a completar a substituição de importações.
Do ângulo da agricultura observa-se que, a partir de 1965, ela passou a ser rapidamente incorporada à cadeia intersetorial da economia, chegando no final do período a mostrar claras evidências de que a forma industrial de produzir predominava amplamente. Em suma, e mais uma vez, nas palavras de Kautsky, com a aplicação das conquistas da ciência moderna, houve uma revolução na organização rural e a supressão do divórcio entre industria e agricultura.
Com o objetivo de realçar este último período, mais precisamente de 1965 em diante, convém fazer duas observações:
a) Entre 1930 e 60, de acordo com Francisco de Oliveira (1977), a burguesia industrial paulista, vale dizer, o Sudeste industrial, alcançara a hegemonia econômica no País e o comando da política econômica ao submeter o Estado aos interesses industrializantes, opondo-se assim, claramente, às oligarquias agrárias tanto do Nordeste como do Extremo Sul e, até mesmo, do Sudeste cafeeiro. Neste sentido, ela criou a economia nacional ao avançar com o progresso de industrialização e destruir os espaços específicos de reprodução dos capitais regionais do Nordeste açucareiro-algodoeiro, do Sudeste cafeicultor e do Extremo Sul pecuário e
b) No período mencionado, a agricultura ficou à margem do processo de industrialização, com mercados e estruturas regionais fortemente alicerçados. Houve importações de tratores e fertilizantes, mas dirigidos a regiões bem delimitadas, sendo seu impacto marginal frente ao predomínio do modo tradicional de produzir.
Afora cana-de-açúcar, café, algodão, trigo e cacau, que gozaram de privilégios creditícios por parte do Estado, toda a agricultura de abastecimento sofreu descomunais prejuízos decorrentes do tabelamento sistemático dos preços nos mercados terminais. Além disso, a agricultura de exportação sofria cortes em virtude da política cambial (câmbio valorizado e controlado). No final dos anos 50 e início dos 60, não restava dúvidas de que a economia estava submetida nacionalmente à dinâmica industrial e, por outro lado, a forma tradicional de produzir no campo revelava seus limites, que não eram superados de todo com o avanço da fronteira.
O importante a assinalar é que a ultrapassagem destes limites não foi efetuada do ângulo das especificidades agrárias regionais, mas de acordo com os interesses dominantes na Tríplice Aliança. Vale dizer, interesses dominantes nos subsetores industriais que têm na agricultura seus mercados compradores: tratores agrícolas, máquinas e implementos agrícolas; inseticidas, fungicidas e pesticidas; adubos, fertilizantes e corretivos; produtos farmacêuticos e veterinários; e rações e alimentos para animais. Trata-se de empresas e grupos econômicos que, instalados já no País, expandem-se ou são atraídos a se instalarem no País ou a ingressarem nos subsetores em razão da expansão efetiva ou potencial dos mercados agrícolas. Além desses interesses, há aqueles das agroindústrias, que se modernizam tecnoeconomicamente e pressionam a agricultura em termos de fornecimento de matérias-primas. E há também os interesses de médios e grandes produtores do próprio setor agrícola que, em termos de empresas e grupos econômicos, praticamente surgem e se multiplicam no processo mesmo de integração indústria/agricultura. Neste sentido, pode-se entender o processo de integração como uma expansão-diversificação da Tríplice Aliança e as empresas e grupos econômicos com interesses diretos nas atividades agrárias como o poder econômico dos setores industriais e agrícolas.
No que respeita especificamente à comercialização, cabe dizer que neste período desenvolvem-se rapidamente as formas capitalistas modernas de comercializar os produtos agrícolas. A tendência básica é a de integração vertical desta atividade: médios e grandes produtores agropecuários se organizam para colocarem diretamente seus produtos aos agentes varejistas ou, até mesmo, aos consumidores e grandes distribuidores, como os supermercados; passam a organizar a produção e a distribuição dos produtos agrícolas. Cabe notar que Rangel (1979), já em 1963, mencionava essas duas maneiras básicas da moderna comercialização em bases capitalistas, e sua hipótese era a de que "esta tendência ameniza o caráter inflacionista da comercialização monopolista, porque, estando o produtor interessado no processo, ele tende a dirigir o negócio, não somente à vista da inelasticidade da demanda, mas, também, à vista da grande elasticidade da oferta", no médio e longo prazos.
Convém deixar claro que a Tríplice Aliança não aparece na agricultura integrada à indústria tal qual ela se mostra na composição industrial: uma articulação entre os capitais estrangeiros, nacionais e estatais. Na integração indústria/agricultura estão presentes apenas empresas e grupos econômicos de capitais nacionais e estrangeiros. O Estado opera sobretudo na esfera da intermediação financeira, e na formulação e implementação de uma vasta gama de políticas econômicas concernentes às atividades industriais e agrárias.
Caio Prado Jr. e a Questão Agrária
Nos estudos sobre as transformações agrárias, os trabalhos de Prado Jr. são passagem obrigatória. Sua relevância intelectual e política é indiscutível. Não se pode esquecer sua crítica à III Internacional, notadamente ao princípio do etapismo. A visita que vamos realizar é uma tentativa de contextualizar sua análise agrária de acordo com o quadro antes apresentado.
Vale a pena examinar a rica argumentação de Prado Jr. que sustenta a necessidade de repartição da grande propriedade no campo e indicar o caráter inacabado de sua argumentação. E, desse modo, mostrar a dupla face de Prado Jr., ou seja, ele é, a um só tempo, um analista de visão industrial, urbana, moderna, e de visão rural, arcaica, cuja fusão se dá por conta de uma argumentação inconclusa a respeito da dinâmica econômica brasileira, interna e externamente.
Consideremos o resumo abaixo. Este é uma esquematização do pensamento de Prado Jr., mas cremos que o simplifica em demasia.
Empresários e dirigentes do negócio agrário;
Grande exploração com produtos de alta expressão comercial;
Dependência da receptividade dos mercados externos e das oscilações dos preços;
Posição de domínio na demanda de mão-de-obra;
Trabalhadores diretos na grande exploração e fornecedores de força de trabalho;
Pequena exploração com produtos de subsistência e
Baixo custo da mão-de-obra, baixos salários e baixo padrão de vida.
Do ângulo da agricultura observa-se que, a partir de 1965, ela passou a ser rapidamente incorporada à cadeia intersetorial da economia, chegando no final do período a mostrar claras evidências de que a forma industrial de produzir predominava amplamente.
A necessidade urgente, segundo Prado Jr., de distribuir as terras da grande propriedade fundiária deve-se à sua posição de domínio na demanda de mão-de-obra, o que acarreta o baixo padrão de vida dessa gente. Para a grande exploração, a oferta elástica de braços apresenta-se como altamente funcional à sua dinâmica, diretamente vinculada aos mercados internacionais.
Nas palavras do autor: "A grande exploração, como empresa mercantil que é, sofre, por essa sua própria natureza, as contingências conjunturais que sua atividade comercial implica. Ela se encontra na dependência imediata e próxima de fatores estranhos e remotos: a receptividade dos mercados para seus produtos, as oscilações de preço (...). A grande exploração é tanto mais sensível a essas contingências comerciais, que lhe faltam flexibilidade e plasticidade suficientes para se adaptar a situações variantes. Para a violência das flutuações conjunturais que tem sucessivamente atingido os diferentes setores da economia agrária brasileira, e as crises profundas que têm sofrido, concorre particularmente o seu acentuado caráter especulativo, isto é, o fato de contarem sobretudo, em geral, com estímulos imediatistas de grandes lucros a prazo muito curto. É por isso que raramente as nossas empresas agropecuárias assentam em bases sólidas e destinadas a perdurar. Em conseqüência, elas são altamente vulneráveis, e se encontram sempre na iminência de graves desastres" (PRADO Jr., 1979).
A argumentação, a partir daí, vai em direção à sístole e diástole do complexo latifúndio-minifúndio ligado à economia internacional.
Pois bem, como Prado Jr. faz as conexões entre a economia nacional agrária e os mercados internacionais e a necessidade de repartir as terras para melhorar a situação dos trabalhadores do campo?
A grande empresa agrária centrada na exploração extensiva da terra com a retenção da mão-de-obra em seu interior ou em suas proximidades em minifúndios depende umbilicalmente do comportamento dos mercados externos e dos preços do café, açúcar, algodão, borracha que aí se formam. Estes são violentamente flutuantes, de sorte que, no momento cíclico de retração internacional, a empresa agrária a ele se adapta via diminuição de seus custos, como qualquer empresa capitalista. O que ocorre através da diminuição de pagamentos monetários aos serviços da mão-de-obra: há concessões várias para que aqueles que moram no latifúndio possam obter mais produção própria, etc., e dispensa-se os serviços dos minifundiários independentes. No momento cíclico de expansão, verifica-se o contrário. Dessa feita, latifúndio-minifúndio é a organização própria e adequada à dinâmica internacional que preside seu funcionamento. Sua extensão fundiária, organicamente vinculada ao passado escravista e às formas semi-assalariadas a partir do fim do século passado, provém dessa dinâmica econômica e social; seu caráter de negócio provém de sua capacidade em gerar excedentes, e gerá-los naquelas condições implicava em grandes extensões fundiárias. Neste contexto, erigiu-se o imediatismo de grandes lucros a prazo muito curto, e a reserva de terras sob a forma de grandes extensões fundiárias, como a condição para a obtenção de grandes lucros a curto prazo.
O que não fica claro ou onde a argumentação não se mostra completa é como proceder a uma repartição da grande exploração econômica sem romper com o comércio exterior brasileiro?
Haveria que constar algo neste sentido, como: quem iria tomar o lugar imediato das grandes empresas agrárias na produção dos exportáveis? Certamente que para a construção da nação o comércio exterior era de capital importância.
Cabe observar que a ênfase de Prado Jr. neste aspecto é a de propiciar condições para a melhoria dos salários e padrões de vida da população rural via distribuição de terras. Não há alusão alguma que tal distribuição deveria ser feita porque a produção de matérias-primas exportáveis ou de alimentos mostra-se insuficiente. A distribuição deve ser feita porque o meio de produção terra é a condição necessária de extinguir o monopólio da demanda de mão-de-obra, razão dos baixos salários e do baixo padrão de vida da população rural.
A questão econômica fica em segundo lugar. A necessidade de alterações na economia está subordinada à exigência em construir cidadãos, base para a edificação da nação brasileira. A idéia que essa posição fornece é a de que a economia seria momentaneamente suspensa e, após a distribuição de terra, automaticamente retomada. Sei que tal caricatura é muito forte em sua conotação pejorativa. Mas, uma tal proposição supõe condições políticas excepcionais, que sequer são aludidas no texto.
Creio que Prado Jr. se apercebe disso tudo. Basta ler a História Econômica do Brasil: o País tem uma indústria, está em industrialização; há maciças imigrações nacionais; a terra não determina tanto assim a dinâmica da economia nacional. Mas... e os trabalhadores, a miséria? Como compatibilizar isso tudo com a construção da nação que requer a transformação dos trabalhadores em cidadãos? E cidadão no campo é ter um mínimo de condições dignas de vida, historicamente dadas. E como obtê-las senão tornando-o proprietário?
Eis aqui, penso, uma concessão à parcela rural, pastoral, da visão de Prado Jr. sobre a construção de uma grande nação nos trópicos. Por que pequenos proprietários? Como reeditá-los aqui no Brasil? Há algum paralelismo com os EUA e as nações européias? Parece que não, basta ver as críticas às esquerdas, se bem que elas direcionam-se aos modelos teóricos copiados. Há uma fundação econômica? Também parece que não. Pelo jeito há uma visão rural clássica a três alqueires e uma vaca, combinada com a incorporação do proletariado à sociedade moderna.
Acho que não há como juntar tudo isso, no que respeita à agricultura, pois a transição econômica-social e política estava em andamento. A junção em Prado Jr. ocorreu via objetivos desejados: a construção da nação via construção do cidadão; e cidadão no mundo das mercadorias só se constrói pela propriedade de meio de produção tido como dominante ou pela defesa legal de sua única propriedade, a força de trabalho. No âmbito teórico, isso tudo é sedimentado pela adesão à visão imperialista, de ação negativa, da dinâmica mundial.
A noção de padrão agrário visa a preservar as especificidades da agricultura enquanto atividade tecnoeconômica e esfera de interesses sociais e políticos a ela adstritos, e também enquanto objeto de políticas públicas específicas.
Na obra de Prado Jr. lê-se: "Pelo que se conclui da análise do assunto, a causa do minifúndio, sem dúvida um grande mal, resulta precisamente da concentração da propriedade fundiária, pois é a grande propriedade que, mantendo o domínio sobre a maior parcela de terras utilizáveis, obriga a pequena a se multiplicar indefinidamente nas estreitas áreas que lhe são concedidas e onde se vai comprimindo cada vez mais. O que em termos humanos significa o progressivo empobrecimento das categorias mais modestas de proprietários rurais, cujo padrão de vida gradualmente se aproxima e em muitos casos já se confunde com o dos trabalhadores sem terra empregados nos grandes domínios. São, aliás, muitos aqueles que têm de dividir suas ocupações entre culturas próprias e alheias" (PRADO JR., 1979).
A lucidez de Prado Jr. mostra-se quando defende a distribuição de terras para essa gente que tem terra insuficiente e tem habilidade para nela trabalhar e, ao mesmo tempo, defende essa gente enquanto trabalhadora em culturas alheias através de legislação trabalhista. Desse modo, a grande exploração, pressionada pela elevação dos custos com mão-de-obra, tenderia naturalmente à adoção de melhorias técnicas. Assim, a reforma agrária pressionaria a ampliação do uso de melhorias no campo, reforçando os constituintes modernos do capitalismo no Brasil. O País passaria a ter um imenso mercado rural, mercado de alimentos e meios de produção, e ter-se-ia uma sólida base para construir uma nação. Há que se louvar a solidez e a sagacidade da argumentação. No entanto, há supostos que ficam submersos, tais como: a formação do mercado, do ângulo do avanço do capitalismo, não requer necessariamente uma melhoria do padrão de vida das massas rurais, mas pode ser efetuada pela diferenciação e ampliação da demanda intermediária de meios de produção para as atividades agrárias; a fixação rural de sua análise não é articulada à dinâmica capitalista industrial, interna e externa, daí sua posição favorável à necessidade da distribuição da terra e sua posição contrária àqueles que propugnavam iniciar a transformação agrária pelas melhorias técnicas.
Convém observar que o latifúndio pode se transformar em uma empresa agrária. Prado Jr. considera o latifúndio como "exploração comercial em larga escala de que a grande propriedade constitui a base fundiária, e que lhe assegura solidez e estabilidade", vale dizer, uma empresa que explora extensivamente a terra. Ao abordar as questões comerciais, financeiras e tecnológicas como destinadas à grande exploração comercial, certamente que se trata já de uma exploração intensiva (ou, ao menos, em transformação em sua forma extensiva) e, por conseguinte, não mais de latifúndio mas de uma empresa em sentido estrito. Além disso, a empresa agrária não pode ser tomada como obstáculo ao progresso da pequena propriedade; na verdade, a tecnologia disponível foi desenvolvida tendo em vista elevar e melhorar os exportáveis que já eram produzidos pelo latifúndio dando-se como suposta uma oferta elástica de alimentos. O que Prado Jr. certamente poderia estar propondo era o acesso à produção de exportáveis por parte da pequena produção; contudo, isso seria desvirtuar o pensamento do autor.
Prado Jr. avança argumentos a favor da pequena propriedade, tomando como exemplo o não-fomento, por parte do Governo Federal, da produção de trigo nas pequenas propriedades coloniais do Rio Grande do Sul (RS), mais especificamente Caxias do Sul: "Seria pois natural que se aproveitasse essa ocupação tradicional de muitos milhares de famílias de agricultores, levando a elas o incentivo e amparo necessários para que elas pudessem melhorar seus processos de cultura. Obter-se-ia com isso não apenas um considerável aumento da produção (como ficou provado com experimentos realizados em Caxias do Sul por iniciativa da Prefeitura Municipal), atingindo-se assim os objetivos principais que se procuravam e que eram o aumento da produção tritícola do Estado, mas ainda se beneficiaria um largo setor da população rural com rendimentos acrescidos" (PRADO Jr., 1979).
Devemos notar que a agricultura sulina estava, naquele momento, por volta de meados de 1950, no auge da crise agrária. O modelo colonial, tanto quanto o pecuário, estava esgotado, necessitando de rápida e profunda transformação.
A produção colonial de trigo era uma combinação de pequenos produtores independentes (os colonos), cujo produto era transformado em farinha por um colono-com-moinho; tratava-se de pequenos excedentes com relativamente pequena produção de farinha, remetida às cidades. Qualquer princípio de concentração na produção agrária e moageira nefaria essa dinâmica, transformando-se em seu contrário. Pensar que esses produtores pudessem elevar a produção tritícola requerida no âmbito do Estado e do País carece, pelo menos, de uma análise mais detalhada e mais convincente do que a referida na nota 25 do texto Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil. O que não nega o que segue no corpo do texto: "No entanto, todos os esforços e estímulos oficiais foram para outras zonas do Estado, favorecendo grandes proprietários e pessoas completamente estranhas à agricultura (comerciantes, industriais, até mesmo profissionais liberais: médicos, engenheiros, advogados...) que animados pelos grandes lucros em perspectiva, e que de fato se verificaram, entraram neste novo e grande negócio da triticultura que lhes era proporcionado. Os modestos e tradicionais triticultores e pequenos proprietários das colônias nada receberam, e continuaram como dantes. A discriminação em favor da grande exploração agromercantil é nesta instância flagrante, e dá bem a mostra do caráter dominante da economia brasileira, fundada essencialmente naquele tipo de exploração, e operando sempre em função e benefício dela" (PRADO JR., 1979).
Ora, é difícil conceber a nova organização empresarial do trigo surgida nos anos 50 no noroeste do RS como "grande exploração agromercantil", como um latifúndio, pois, de fato, ela surge, no projeto governamental e na prática local, como uma empresa média e grande, que opera com insumos industriais e como veículo para o fortalecimento e expansão de organizações cooperativas.
O texto denota a acentuada visão rural do autor: manter e aprofundar a pequena propriedade, tipo colônia, precisamente no auge de sua crise. Prepondera a visão de que os problemas agrários têm soluções agrárias. Daí a idéia de que "seria natural que se aproveitasse essa ocupação tradicional de muitos milhares de famílias de agricultores", sem mencionar o deslocamento rural que, no Brasil, lhe foi constitutivo, e por isso se manteve. A racionalidade centrada no campo e, pior ainda, em localidades, mantém-se, no trecho de Prado Jr., a despeito de os processos político-sociais componentes de uma racionalidade agrária não mais aí radicarem. A nova produção de trigo no RS está associada, de um lado, a questões industriais, nas quais o Estado perdeu vez na política industrial, e, de outro, à clara tentativa de modernização agrária, cujo modelo era a agricultura norte-americana (farmers sim, mas produção em grande escala), sendo que o RS seria mais uma ilha de modernização, admitida sua ampliação em futuro próximo.
Vale aqui ponderar que o aspecto idílico da reforma agrária pensada por Prado Jr. atinge o auge precisamente no RS, com seu modelo histórico em profunda crise, ao ponto de ser considerado, à época, o RS como o novo NE. Penso que o autor viu aí a prova atestada de seu desejo de cidadãos rurais. Que isso pudesse ser espalhado pelo País pode-se admitir esse modelo ou outro assemelhado mas a questão não aventada pelo autor, sequer mencionada, é como isso seria feito. Não penso em questões operacionais, penso nos supostos políticos, nas forças políticas, para tanto. O que ocorreu no Sul com o trigo mereceria muito mais consideração pelo menos cautela em tomá-lo como exemplo do que foi feito no texto. As forças em luta não eram latifúndio versus minifúndio; havia toda uma luta industrial, comercial e financeira, que cruzava a política do trigo.
Padrão Agrário e Complexo Agroindustrial
Os períodos pos-60 devem ser qualificados. As informações disponíveis permitem que se afirme que, por volta de 1970, praticamente metade da produção agropecuária e florestal era de interesse imediato dos setores demandantes de matérias-primas (as agroindústrias) e praticamente metade das condições de produção agrícola dependiam dos subsetores da indústria para a agricultura. Em outras palavras: boa parte da produção agrícola constituía-se em capital circulante da agroindústria; o que converte a agricultura num setor de peso no processo de acumulação desta indústria. Além disso, e supondo-se que a agricultura sempre tenha desempenhado esta função, cabe notar que o modo como ela agora o faz mudou, pois algo como metade de seus insumos não mais provém do laboratório natural, mas da produção industrial, o que converteu a agricultura em suposto da acumulação de capital de parcela da indústria de bens de capital e de insumos. Em resumo, a agricultura não mais depende apenas do crescimento das agroindústrias, do mercado interno e externo, mas também das indústrias que nela têm seus mercados.
Estes graus de interdependência têm implicações na determinação do lugar da agricultura no desenvolvimento nacional, porquanto os interesses sociais nucleados no capital comercial e assentados na propriedade territorial e na generosidade da natureza foram deslocados pelos interesses nucleados no capital industrial e financeiro e na agricultura moderna. Vale dizer que, para produzir na agricultura, não basta mais ser proprietário de terras ainda que este seja um pressuposto na produção. Ocorre que no movimento de sua reposição, enquanto elemento da produção, deve ser levado em conta um certo montante de bens de capital sem o qual a produção agrícola pode ser posta em xeque pela penalização dos valores. Neste sentido, a terra subordina-se ao capital industrial e financeiro. Mais precisamente, é o trabalho agrícola que se subordina ao capital, no contexto de uma crescente industrialização das atividades agrárias, processo no qual a terra-matéria perde suas forças determinadoras das condições de produção em prol da terra-capital.
Esta nova base material na agropecuária nacional é também a base das forças agrárias modernas. Suas exigências, reivindicações e organizações respondem aos percalços de reposição e expansão dessa nova dinâmica.
Os setores da indústria para a agricultura apresentam-se organizados em sindicatos patronais e seus mercados têm estruturas oligopolizadas. São setores que dependem diretamente das condições creditícias para os negócios agrários, o que os induz a operar como grupos de pressão favoráveis à industrialização da agricultura nacional e às exportações, impelindo-os a influenciar a formulação das políticas monetária, fiscal, cambial e de comércio externo. A formulação destas, em razão do tamanho de suas plantas e de suas necessidades por mercados, é crucial e tende a repercutir imediatamente sobre a performance de suas atividades.
... por volta de 1970, praticamente metade da produção agropecuária e florestal era de interesse imediato dos setores demandantes de matérias-primas (as agroindústrias) e praticamente metade das condições de produção agrícola dependiam dos subsetores da indústria para a agricultura.
A expansão da industrialização das atividades agrárias é de importância decisiva, o que pode contrapor os interesses da industria para a agricultura aos dos produtores agrícolas ou somar os dois para pressionar os órgãos estatais. A formulação de um índice de preços pagos pelos agricultores, que envolve, pelo menos, estes três atores sociais, integra a bandeira das forças agrárias modernas. E se o Estado estava, como ainda está, fortemente ativo nesta determinação de preços, presentemente as forças modernas reivindicam uma redefinição de seu papel: a formulação de uma política a médio e curto prazos, uma política creditícia para investimentos privados, ampliar e melhorar a infra-estrutura pesada, etc. Processo semelhante ocorre nas relações entre agricultores, agroindústrias e o Estado. A formulação de um índice de preços recebidos pelos agricultores, que envolve a fixação de preços de sustentação, aquisições e empréstimos do Governo Federal, exportação/importação, igualmente envolve pelo menos três atores.
Este complexo emaranhado de interesses industriais, agrícolas e de órgãos de estado produziu novas formas de organização social desses interesses cuja base material é a agricultura dinâmica que, no contexto de modernização crescente e acelerada do conjunto das relações econômicas no âmbito nacional e no âmbito mundial, tende a se expandir. E isto quer dizer elevação das concentrações dos capitais, difusão do progresso técnico (o que amplia e diversifica a demanda intermediária por insumos e máquinas), racionalização da gestão das unidades produtivas e dos processos de trabalho, etc. Estas características da industrialização do campo compõem a forma de regulação expansão e bloqueio dos setores industriais e agrícolas. Neste sentido, a agricultura tradicional foi encurralada historicamente e, a despeito das conexões com a agricultura moderna via fornecimento de braços, não dispõe de condições político-econômicas para ingressar no clube moderno.
Como se sabe, um dos traços marcantes do capitalismo contemporâneo é o domínio de setores-chaves das atividades industrial, comercial, financeira e tecnológica por um número relativamente pequeno de empresas e grupos econômicos, freqüentemente interligados. A propriedade e o controle de grandes massas de capitais conferem a estas empresas e grupos econômicos a capacidade de influírem poderosamente, tanto na preservação quanto na expansão de seus interesses setoriais e intersetoriais. O exercício desta capacidade tem repercussões na direção dos negócios desses setores e, até mesmo, dos negócios mais gerais do país. Na literatura dedicada ao tema estas empresas e grupos são conhecidos como elites econômicas.
Com a integração indústria/agricultura deparamo-nos com empresas e grupos econômicos que influenciam poderosamente a dinâmica das atividades agrárias, com profundas repercussões em suas estruturas. Mas na própria agricultura surgem empresas e grupos econômicos que, com suas congêneres industriais, fazem parte do poder econômico com interesses nas atividades agrárias.
Na indústria, no comércio e nas finanças é conhecido que a concentração e a centralização de capitais em empresas e grupos econômicos faz com que estas unidades de capital se diversifiquem setorialmente sob a forma de multi-plantas e multiprodutos. Ao se falar em agricultura, notadamente na brasileira, há no mais das vezes um enorme receio, quando não ceticismo, em aceitar que aí ocorrem processos semelhantes. Contudo, na agricultura brasileira, durante os anos 70, surgiram grandes unidades centralizadas de capital.
Com a integração indústria/agricultura deparamo-nos com empresas e grupos econômicos que influenciam poderosamente a dinâmica das atividades agrárias, com profundas repercussões em suas estruturas.
Tomando-se a publicação anual mais antiga no ramo, o número especial de "Quem é Quem" da revista Visão (coleção 1967-80), constata-se que em 1967 a agropecuária contava com cerca de 20 empresas empresas com um patrimônio líquido mínimo de US$ l milhão e em 1980 contava com mais de 500. São grupos econômicos de cooperativas que, de exclusivamente comerciais, passam a industriais e agroindustriais; são empresas de mineração, metal-mecânica, construção civil e terraplanagem que criam outras nos setores agrícola, pecuário e de reflorestamento; o mesmo ocorreu com empresas de porte que atuam no setor comercial e financeiro.
No processo de integração indústria/agricultura houve um complexo e intrincado movimento de unidades de capital, seja para a agricultura e comércio, seja desta para a indústria e comércio. Subsídios creditícios e incentivos fiscais permitiram a empresarialização das atividades agrárias e, last but not least, a especulação fundiária em largas dimensões. Investigação relativa a 1980, de Guilherme Delgado, mostra que mais de 11% do valor de toda a produção agropecuária e florestal do País foi comercializada pelas 26 principais cooperativas, e cerca de 8% do valor foi produzido pelos maiores grupos e sociedades anônimas em operação nas atividades agrárias. Vale dizer, quase 19% do valor de produção concentrou-se em pouco mais de 50 grandes unidades centralizadas de capital no campo.
Esta magnitude refere-se a grandes grupos econômicos que operam na agricultura. Trata-se, portanto, de unidades de capital onde propriedades e controle, do capital, estão juntos. Mas, sabe-se que enormes fluxos agropecuários,encontram-se sob o controle de grandes empresas e grupos econômicos que não têm a propriedade da terra. Inúmeras agroindústrias e supermercados exercem o controle comercial e do modo de produzir na agricultura.
Em suma, pode-se admitir que os grupos econômicos que operam no complexo agroindustrial dominam seus respectivos ramos, bem como a dinâmica das atividades agrárias e comerciais. E mais, nestas atividades estão presentes também grandes unidades de capital centralizadas.
Podemos, agora, efetuar uma tentativa de aclarar algumas noções utilizadas no decorrer da exposição. Trata-se de uma resposta parcial, sem dúvida às tensões conceituais ou ambigüidades assinaladas na Introdução.
Forças agrárias modernas designam os grupos sociais produtores e distribuidores associados à dinâmica capitalista em sua forma intensiva. Vale dizer que a ampliação do processo de acumulação do capital nas atividades agrárias não mais se vale da combinação mão-de-obra e terra característica da forma extensiva de obtenção do excedente agrário - mas de gastos com capital, notadamente capital constante.
Neste sentido, modernização agrária consiste na alteração do modo tradicional predominante de produzir para o modo moderno, concomitante às alterações na sociabilidade dos grupos socioeconômicos. A modernização tecnoeconômica implica na alteração da parte fixa do capital constante ou dos meios fixos de produção (como tratores, arados com tração mecânica) da composição do capital, e na parte circulante do capital constante ou dos elementos de custeio da produção (como adubos químicos, defensivos). Por sua vez, essas mudanças acarretam impactos na parte variável da composição do capital ou das formas de trabalho (como extinção do colonato, expansão dos bóias-frias e empregados permanentes). São estas mudanças na composição do capital, sob a forma técnica e de valor, em função das terras, que são expressas com a noção de modernização agrária. Evidentemente que esse movimento implica em mudanças na sociabilidade rural. Em outras palavras, à medida em que ocorre a industrialização das atividades agrárias (relações entre a indústria para a agricultura e a agricultura) e sua agroindustrialização (relações entre agroindústria e agentes distribuidores que causam impactos nas atividades agrárias) ocorre a modernização agrária. O modelo correspondente chama-se de padrão agrário moderno. Ou seja, são as atividades agrárias no complexo agroindustrial.
Entenda-se por complexo agroindustrial o conjunto de relações entre indústria e agricultura na fase em que esta mantém intensas conexões para trás, com a indústria para a agricultura, e para frente, com as agroindústrias e outras unidades de intermediação que exercem impactos na dinâmica agrária. O complexo agroindustrial é uma forma de unificação das relações entre os grandes departamentos econômicos com os ciclos e as esferas de produção, distribuição e consumo, relações estas associadas às atividades agrárias.
A industrialização da agricultura designa a incorporação das atividades agrárias ao modo industrial de produzir e ao estilo empresarial de gerir a unidade econômica agrária. É o resultado do consumo crescente de insumos industriais e de serviços técnicos. A agroindustrialização da agricultura designa a integração desta com os setores industriais e comerciais que operam com os produtos agrícolas, como agroindústria e supermercados, e cujas exigências técnicas e econômicas participam da regulação das atividades agrárias.
O padrão agrário moderno constitui-se no processo de mudança do predomínio do modo tradicional de produzir e distribuir para o predomínio do modo moderno. Essa transformação sintetiza as mudanças no objeto de trabalho, descrito na Introdução; no processo de trabalho, tratado na segunda seção deste texto; nas formas da força de trabalho, apresentada na terceira seção; e na gestão e controle das unidades de produção e distribuição do excedente agrário, conforme a última seção tratada. A transição de um modo ao outro está correlacionada com a constituição do complexo agroindustrial brasileiro. O que tem suas implicações analíticas: para explicar as especificidades das atividades agrárias sejam modernas, sejam atrasadas, ou a evolução das regiões Sudeste e Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, a riqueza e a miséria há que se levar em conta as fortes conexões entre os segmentos que compõem o complexo agroindustrial. Por isso não basta considerar apenas as ligações entre agricultura e agroindústria, uma vez que as transformações no modo de produzir naquela estão ligadas à presença da indústria para a agricultura. E é sobretudo esta última que confere caráter nacional às mudanças agrárias em virtude de sua constituição oligopólica, cujas empresas têm como estratégia de acumulação o mercado nacional, quando não já incluíram o mercado mundial. A par disso, essas empresas são veículos por excelência de difusão do processo técnico nas atividades agrárias.
A noção de padrão agrário objetiva chamar a atenção para o fato de que se a agricultura faz parte, juntamente com a indústria para a agricultura e a agroindústria, do complexo agroindustrial, isso não supõe necessariamente uma redução da agricultura à indústria a agricultura sendo uma indústria em sentido estrito. Vale dizer, a integração não destrói caracteres próprios da agricultura, que a distinguem dos outros setores que com ela compõem o complexo agroindustrial. A noção de padrão agrário visa a preservar as especificidades da agricultura enquanto atividade tecnoeconômica e esfera de interesses sociais e políticos a ela adstritos, e também enquanto objeto de políticas públicas especificas. Assim, esta noção objetiva reter as particularidades técnicas (climas, solos), econômicas (tempo de trabalho, tempo de produção, renda da terra), sociais (grupos sociais locais e regionais, capitais e riquezas e misérias propriamente agrárias) e políticas (organizações lobistas, uniões sociopolíticas).
A industrialização da agricultura designa a incorporação das atividades agrárias ao modo industrial de produzir e ao estilo empresarial de gerir a unidade econômica agrária.
Assim como a noção de complexo agroindustrial visa a separar um conjunto de segmentos econômicos da economia nacional como um todo, cuja dinâmica está, de uma maneira ou de outra, associada às atividades agrárias, a noção de padrão agrário visa a separar as relações que direta e necessariamente incluem a terra como meio de produção das demais relações que formam o complexo agroindustrial.
Conviria acrescentar que a abordagem intersetorial de mercados e empresas designada de complexo industrial incorpora, em seu encaminhamento analítico, duas outras definições, de acordo com o que consta em RASCUNHO nº l (1979): cadeia produtiva e ramo.
A primeira seria uma estrutura de relações entre distintos ramos de atividades que participam da elaboração de uma mercadoria, e ramo seria uma atividade intermediária ou final que concorre para a elaboração da mercadoria. Nesta relação cadeia/ramos seriam incorporadas as etapas não-produtivas, ou seja, serviços e comercialização. Nas cadeias vinculadas conexões das etapas produção-comercialização-serviços buscar-se-ia determinar os grupos de empresas ligadas a produções específicas com autonomia relativa face a outras cadeias. Ao conjunto de cadeias com autonomia relativa designa-se de complexo industrial.
Por conseguinte, complexo industrial é aquele conjunto de cadeias vinculadas, através de produções intermediárias e/ou finais, que detêm certa autonomia relativa frente a outro conjunto de cadeias vinculadas. Poder-se-ia acrescentar que o complexo industrial apresenta um núcleo que é o centro aglutinador em torno do qual se organiza o complexo; e não se trata exclusivamente de núcleo técnico, mas também econômico, que exerce funções de controle no crescimento e na lucratividade.
Resta observar que a distinção entre moderno e atrasado, bastante precisa no âmbito do modo de produzir e distribuir o excedente agrário, se esmaece no âmbito da mão-de-obra. Milhares, senão milhões, de estabelecimentos praticamente não passam de locais de moradia, com alguma eventual e diminuta produção de subsistência, de gente classificada nos Censos Agropecuários como pequenos produtores, parceiros, arrendatários e ocupantes. Parte considerável do mercado de braços nas atividades agrárias modernas residem e exploram estabelecimentos tradicionais. A localização censitária dessa gente pobre e miserável morada contemporânea no padrão agrário moderno não pode nos levar a esquecer sua participação no mercado nacional de mão-de-obra barata, utilizada temporariamente em atividades agrárias e não-agrárias (construção civil, serviços domésticos urbanos, construção de grandes barragens). O aumento de pessoal ocupado registrado nos Censos não pode ofuscar a extraordinária mobilidade dessa gente que busca desesperadamente um local de trabalho, com o qual possa obter alguma renda.
A Nova Estrutura e os Produtores não-incorporados à Modernização Agrária
Resumindo os traços mais relevantes do processo de incorporação das atividades agrárias à modernização, pode-se dizer que este processo esteve associado, no período 1960-80 ao dinamismo da indústria para a agricultura e das agroindústrias, juntamente com as políticas creditícias e de incentivos fiscais e aduaneiros, e ao dinamismo político do regime autoritário, que subordinou os poderes legislativo e judiciário ao poder executivo.
A enorme participação do Estado no processo de incorporação que, à primeira vista, pode dar a impressão de ter havido uma estatização impar da economia agrária nacional, patrocinou a superação do predomínio do modo de produzir tradicional pela industrialização, sem mexer nos interesses privados consolidados, vale dizer, tomando a estrutura fundiária e os interesses sociais organizados como dados.
Todo o apoio foi concedido às entidades privadas, organizações econômicas e empresas individuais; subsídios e incentivos fiscais foram concedidos com extrema liberalidade e prodigalidade por parte do Estado. Não só foram fortalecidos os interesses agrários (que agora se mesclam com os industriais e comerciais) como se expandiram, redefiniram e criaram novos interesses agroindustriais e outros associados aos setores químicos, mecânicos e de rações. Numa palavra: constituiu-se o complexo agroindustrial brasileiro, que dá as grandes linhas do novo contexto no qual se situa a agricultura.
O que cabe ser enfatizado no processo de integração é o fato de que os produtores foram sendo incorporados segundo sua capacidade de resposta à expansão e à diversificação suscitadas pelas agroindústrias às demandas provenientes das exportações e da massa de salários do mercado interno; segundo sua capacidade de se endividarem junto ao sistema financeiro e segundo sua capacidade de racionalizar suas linhas produtivas face à nova estrutura de despesas.
Capacidade de resposta e crédito; este último foi a condição necessária para que o produtor tivesse capacidade de resposta. O fundo público era o crédito, e foi este capital financeiro que desencadeou o processo de industrialização do campo, o qual foi impondo a igualação das condições de produção, e serviu de caução ao novo desenvolvimento desigual e combinado. Com um clima liberal de crédito, sem critério e praticamente nenhum controle em seu uso, e dadas as estruturas fundiárias e organizacionais, é claro que a massa de dinheiro foi dar em mão de alguns grupos sociais.
Em áreas, locais ou regiões do País onde a diversidade e a densidade da demanda agroindustrial, da demanda solvável dos centros urbanos e da demanda das exportações eram mais tênues, mais débeis, ao lado de forças agrárias semitradicionais de corte oligárquico, evidentemente que o impacto da modernização foi bem menor. Conseqüentemente, o avanço do setor dinâmico da agricultura também.
A não-integração da maioria dos estabelecimentos do País, geralmente de responsabilidade de micros e pequenos produtores, está associada ao modo, ao estilo, de incorporação levada avante pela dinâmica dos capitais industrial, comercial e financeiro, ou seja, a Tríplice Aliança. No que concerne especificamente à demanda de certos alimentos básicos como feijão, arroz e mandioca, o que aconteceu foi, de um lado, sua substituição parcial por produtos derivados do trigo e, de outro, em função da queda drástica dos salários, notadamente os urbanos, criou-se uma verdadeira barreira à possível passagem desses produtos da agricultura atrasada para a dinâmica. Como o mercado interno é, sem dúvida, o principal destinatário da maior parte da produção agrícola, a política de confisco salarial e a ausência de qualquer política em relação à realidade de 60% da população estar em algum nível de subnutrição devem ter jogado papel importantíssimo nos graus mínimos de modernização que tiveram os produtos alimentares básicos produzidos em estabelecimentos de diminuto e pequeno portes. No período pós-1980, tudo leva a crer que a agricultura dinâmica, modernizada, está em condições de prover a demanda alimentar nacional.
A magnitude do setor agrícola dinâmico (dos estabelecimentos, 80% do valor da produção em 1980) revela que a industrialização do campo foi parcial segundo regiões, produtos e tipos de produtores. Contudo, seu impacto foi geral. A maioria dos pequenos produtores, por exemplo, com solos exaustos, baixa fertilidade, sem acesso ou condições para tomar crédito, sementes apropriadas e orientação técnica, cujos produtos não contavam sequer com o estímulo de altos preços em virtude da interceptação pelos intermediários, esses pequenos produtores passaram (ou acentuaram) a viver em situação de pobreza. Pobreza essa distinta da pobreza anterior, pois imposta pela industrialização do campo.
Por conseguinte, a modernização levada a cabo nos últimos 20 anos foi parcial, não há dúvida. Mas dizer isso seria muito pouco e enganoso, uma vez que essa parcialidade impôs condições gerais de produção, condições sem as quais torna-se inviável toda e qualquer linha de produção agrária. Ademais, cabe enfatizar que o caráter geral não provém apenas de uma exigência puramente técnica mas principalmente de exigências econômico-sociais das firmas e grupos econômicos nacionais e internacionais presentes, direta ou indiretamente, nas atividades agrárias.
A tendência à industrialização do campo residiu no fato da agricultura achar-se minada enquanto esfera produtiva determinada por elementos naturais, uma vez que aí foram criadas necessidades tecnoeconômicas e sociais de peso que demandaram bens industriais e que se organizaram a partir daí.
A tendência à industrialização do campo residiu no fato de a agricultura achar-se minada enquanto esfera produtiva determinada por elementos naturais, uma vez que aí foram criadas necessidades tecnoeconômicas e sociais de peso que demandaram bens industriais e que se organizaram a partir daí. As antigas questões agrárias, neste contexto, são respostas. O novo patamar da agricultura nacional repõe a questão da renda da terra, da propriedade territorial produtiva e especulativa, a questão dos preços mínimos de garantia, a questão das relações com as agroindústrias, com os intermediários, etc., como questões a um só tempo nacionais e regionais/locais. Toda e qualquer intervenção ou reformulação deverá levar em conta esta simultaneidade de níveis.
Pensar em integrar os pequenos e médios agricultores da agricultura atrasada sem ter presente essa simultaneidade e as grandes forças econômico-sociais dos grupos e cooperativas seria elidir a realidade geral criada pela industrialização parcial da agricultura. Mas, por outro lado, a experiência desses últimos 20 anos revelou, à saciedade, que o estilo de industrialização liberal, respaldado no autoritarismo político que não admitiu debate algum sobre fins alternativos a uma modernização desejada por muitos, não funcionou indutivamente para os pequenos proprietários, arrendatários, parceiros e ocupantes, uma vez que não os incorporou à modernização e até aumentou sua pobreza; não admitir isso seria elidir a realidade parcial, majoritária porém, criada pela constituição do setor dinâmico da agricultura. Contudo, pensar na incorporação dessa maioria implica equacionar, de um lado, a tendência posta pela dinâmica das atividades agrárias modernas de liberarem mão-de-obra e, de outro, a capacidade instalada que tem condições de atender parcela ponderável da demanda potencial.
Além disso, deve-se notar que a massa operária que trabalha nas atividades agrárias e que muitas vezes se confunde com a massa de minifundiários tem pela frente uma árdua luta em prol dos direitos mais elementares.
Resta tecer alguns comentários sobre a tendência mais provável que poderá predominar nas atividades agrárias do País. Trata-se do tipo de industrialização do campo e a circunscrição dos debates em torno dos atores sociais modernos ou a nova burguesia agrária.
O tipo de industrialização pode ser caracterizado pela mecanização e pela quimificação. Face ao pacote tecnológico de origem norte-americana, aplicado em vários países do mundo pós-guerra pacote que combinava elementos mecânicos, químicos e sementes melhoradas, juntamente com uma larga e intensiva rede de serviços técnicos , o tipo de industrialização do campo à brasileira deixou de escanteio os dois últimos aspectos.
Mas pode-se admitir que precisamente esse deixou de escanteio será a força que incentivará a expansão da industrialização no campo. Não foi casual que uma série de itens sobre assistência técnica e condições auxiliares de produção constaram do Pacote Agrícola de 14 de agosto de 1986: fornecer melhores sementes, em volumes e condições mais apropriadas, juntamente com serviços técnicos mais intensos e diversificados, e com um rol de políticas públicas que venham a incentivar o produtor rural a instalar silos em sua propriedade, utilizar motores a explosão e bombas de irrigação movidas a energia elétrica, disponíveis graças ao aumento de redes de transmissão. Em suma, o tipo de industrialização levada a efeito nos anos 60 e 70 será incentivado e complementado com outros, redundando na elevação do caráter industrial da produção agrária.
A esta extensão do atual padrão agrário cabe uma observação. A rigor, ela é preponderantemente uma filha da segunda revolução industrial (mecânica, química, eletricidade, petróleo, etc.) que já está, há uns dez anos, sendo posta em xeque em países mais desenvolvidos. Seus custos crescentes de reposição e de ampliação exigem um fundo que banque a defasagem entre estes custos e os preços de venda (exemplo da França) e, até mesmo quando os custos se mantêm constantes, a tendência ao declínio dos preços induz à concentração fundiária como resposta à concentração de capital (exemplo dos Estados Unidos). É claro que toda a comparação internacional exige cuidados. Aqui a fizemos como ilustração, mesmo porque, nos países indicados, novas tecnologias já estão em uso. Contudo, lançar mão de comparações internacionais mostra-se como indispensável, dado o elevado grau de internacionalização da indústria do complexo agroindustrial brasileiro.
A tendência a prosseguir e a intensificar a industrialização do campo um dos aspectos vitais do padrão agrário edificado com a constituição do complexo terá implicações profundas em questões tais como: o uso do fundo público, o papel do Estado como administrador (planejador) de fluxos e estoques, as ondas de êxodo das atividades agrárias por força da supressão de postos de trabalho, a ênfase em produzir e adaptar tecnologias up to date; e os esforços econômicos, sociais e políticos que isto irá requerer tenderão a deixar de lado a sobrevivência de milhões de pessoas nas atividades agrárias. Neste sentido, e olhando as tendências norte-americana e européia (elevados excedentes, renovação tecnológica, diminuição no uso da terra), pode-se apostar que o Brasil apresenta alta probabilidade de seguir caminho semelhante, o que agravará a situação de seus milhões de produtores e trabalhadores na agricultura.
Ora, a questão do progresso técnico na agricultura, da oferta agrícola industrializada e da reforma agrária encarada do ângulo destas tendências merece um esforço analítico renovado face ao que se dispõe na literatura nacional.
Além disso, com a construção do complexo agroindustrial, surgiu o que se pode designar de a nova burguesia agrária, composta por pequenos, médios e grandes produtores modernos. Classe recente e muito sensível à instabilidade econômica. Sua negação aos recentes planos de reforma agrária pode estar associada à propriedade especulativa da terra, mas certamente a razão predominante reside na disputa pelos subsídios, preços e taxas, indispensáveis à manutenção e consolidação de sua modernidade, que com a reforma sofreriam enorme diminuição. Sua luta é por uma política de longo prazo, por margens de retornos condizentes às expectativas de um negócio de base industrial. Seus imensos e numerosos movimentos sociais, de caráter nitidamente político (a provável formação de um partido político por uma facção desses agricultores modernos é um fato sociológico inesperado, dada a tradição dos grupos que atuam fazerem-no através de lobbies), são a construção de uma identidade nova. A consolidação e o aprofundamento de sua modernidade integra essa construção e, para tanto, sua luta contra outros grupos sociais em relação ao destino dos fundos, públicos para o setor agrário, e sua representação política, são peças fundamentais no jogo social.
...o tipo de industrialização levada a efeito nos anos 60 e 70 será incentivado e complementado com outros, redundando na elevação do caráter industrial da produção agrária.
Contudo, se a consolidação dos grupos sociais modernos é uma tendência bastante clara, convém não deixar de lado que a introdução de mudanças na tecnologia hoje vigente no campo (como serviços de software, biotecnologia, etc.) tenderá a provocar uma modernização na modernização. O que já ocorreu em larga medida nos países centrais do capitalismo. Desso modo, a luta de grupos e classes sociais no padrão agrário industrial brasileiro tenderá a se polarizar ainda mais em torno dos atores modernos, e deixar inteiramente de lado a grande massa humana dos sem-terra, com terra insuficiente, etc. que corporificam a pobreza moderna. Certamente hoje se impõe uma forma radicalmente distinta de pensar o destino social dessa gente, que passa obrigatoriamente pela superação do viés rural, pastoral, de encarar as atividades agrárias.
Retomar idéias de distribuição de terras como forma de distribuição de renda pela distribuição de um meio de produção é abstrair-se da realidade do predomínio da luta concorrencial entre os grupos sociais modernos que têm condições de atender as demandas interna e externa. Retomar a idéia de distribuir terras a milhões de semiproletários em nome da justiça social é supor esta como reguladora do capitalismo contemporâneo, abstraída sua anatomia econômica. Na verdade, os modelos que dão sustentação a essas idéias se esfumaçaram, se bem que ainda alimentam as visões telúricas daqueles que não mais conseguem repensar os esquemas analíticos e interpretativos.
Referências Bibliográficas
DELGADO, G. 1986. C apital financeiro e agricultura. São Paulo, Hucitec.
KAUTSKY, K. 1986. A questão agrária. São Paulo, Abril/Nova Cultural. (Col. Os Economistas.)
OLIVEIRA, F. 1977. Elegia para uma re(li)gião. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
PRADO Jr., C. 1962. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense.
__________. 1979. Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil. São Paulo, Brasiliense.
RANGEL, I. 1979. A inflação brasileira. São Paulo, Brasiliense.
RASCUNHO nº 1. 1989. As relações micro-macro e indústria-agricultura; o poder econômico e a pesquisa em Ciências Sociais. Araraquara, Faculdade de Ciências e Letras, UNESP.
SANTOS, R. M. R. dos. 1987. Les origines industrielles de la modernisation agricole au Brèsil. Paris, These de Doctoral de Troisième Cycle.
SIMONSEN, R. 1930. As crises do Brasil.
SUZIGAN, W. 1986. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento. São Paulo, Brasiliense.
Geraldo Müller é pesquisador do CEBRAP e participante do Ciclo de Seminários "Cem anos de República: continuidade e mudança", 1989, do IEA.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
30 Mar 2006 -
Data do Fascículo
Dez 1989