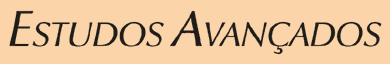Resumos
A partir da década de 1970, a agroindústria canavieira passou por um processo de modernização e diversificação da produção que assegurou a sua expansão para além das regiões tradicionalmente produtoras. Nos últimos anos, esse processo ganhou mais visibilidade pelas condições favoráveis do açúcar e do álcool no mercado internacional e pela entrada dos investimentos internacionais nesse setor. Essas mudanças alteraram a dinâmica do mercado de trabalho, as formas de seleção, os tipo de contrato de trabalho, a organização do trabalho agrícola e o perfil dos trabalhadores. Nesse cenário é que os empresários continuam priorizando a contratação dos trabalhadores migrantes para o trabalho na safra da cana. A razão primordial dessa preferência se evidencia nos elevados níveis de produtividade desses trabalhadores no corte da cana. Eles foram habituados, desde criança, ao trabalho duro na terra para assegurar a sobrevivência da família. O trabalho nos canaviais não os amedronta, mesmo quando as exigências impostas os colocam no limite da sua capacidade física que deteriora seu corpo, trazendo sérias conseqüências para sua saúde. Este artigo mostra a deterioração nas condições de trabalho nos canaviais e explicita as medidas paliativas colocadas em prática pelos usineiros para melhorar as condições de trabalho, sem alterar as exigências e os níveis de produtividade do trabalho, as formas de remuneração e o controle da produção.
Agroindústria canavieira; Trabalho; Saúde; Exploração
Since 1970, the sugar cane agro-industry has been going through modernization and production diversification processes that have guaranteed its expansion beyond traditionally productive regions. In recent years, these processes have received more attention due to sugar cane and alcohol’s favorable conditions in the international market and to the international investments in the sector. These changes affect the labor market dynamics, selection processes, kinds of labor agreements, organization of agricultural labor, as well as workers’ profile. In this context, agricultural entrepreneurs still give priority to hiring migrant workers during the sugar cane harvest. The main reason for this preference is the high productivity of these workers in cutting sugar cane. Since childhood, they have been used to the hard work on the land to ensure means of survival to their families. The work at the sugar cane plantations does not scare them, even when the demands put them at the limit of their physical capacities, deteriorating their body and bringing serious consequences to their health. This article shows the deterioration of work conditions in sugar cane plantations and exposes palliative measures put in practice by sugar factory proprietors in order to improve work conditions and not to alter productivity levels, remuneration and production control.
Sugar cane agro-industry; Labor; Health; Exploitation
BIOCOMBUSTÍVEIS
Campeões de produtividade: dores e febres nos canaviais paulistas
José Roberto Pereira Novaes
RESUMO
A partir da década de 1970, a agroindústria canavieira passou por um processo de modernização e diversificação da produção que assegurou a sua expansão para além das regiões tradicionalmente produtoras. Nos últimos anos, esse processo ganhou mais visibilidade pelas condições favoráveis do açúcar e do álcool no mercado internacional e pela entrada dos investimentos internacionais nesse setor. Essas mudanças alteraram a dinâmica do mercado de trabalho, as formas de seleção, os tipo de contrato de trabalho, a organização do trabalho agrícola e o perfil dos trabalhadores. Nesse cenário é que os empresários continuam priorizando a contratação dos trabalhadores migrantes para o trabalho na safra da cana. A razão primordial dessa preferência se evidencia nos elevados níveis de produtividade desses trabalhadores no corte da cana. Eles foram habituados, desde criança, ao trabalho duro na terra para assegurar a sobrevivência da família. O trabalho nos canaviais não os amedronta, mesmo quando as exigências impostas os colocam no limite da sua capacidade física que deteriora seu corpo, trazendo sérias conseqüências para sua saúde. Este artigo mostra a deterioração nas condições de trabalho nos canaviais e explicita as medidas paliativas colocadas em prática pelos usineiros para melhorar as condições de trabalho, sem alterar as exigências e os níveis de produtividade do trabalho, as formas de remuneração e o controle da produção.
Palavras-chave: Agroindústria canavieira, Trabalho, Saúde, Exploração.
ERAM 10 horas da manhã do dia 30 de novembro de 2005 quando cheguei à sede do Sindicato dos Empregados Rurais de Cosmópolis para entrevistar cortadores de cana.1 1 As entrevistas citadas neste artigo foram realizadas no âmbito de uma pesquisa sobre migrações de trabalhadores do Nordeste particularmente do Maranhão e no Piauí para o corte da cana das modernas usinas paulistas. A pesquisa envolve o Instituto de Economia da UFRJ, ao qual estou vinculado, e pesquisadores das Universidades Federais de São Carlos (SP), do Maranhão e do Piauí, e conta com o apoio do Ministério da Educação, Secretaria de Ensino Superior. Um livro e um filme documentário sobre a condições de vida e trabalho desses trabalhadores no Nordeste e em São Paulo, explicitando as causas e os efeitos dessas migrações no interior do país, estão em fase de finalização. Era final da safra da cana em São Paulo. Os trabalhadores se preparavam para regressar às suas regiões de origem. Antes de embarcar, o sindicato fazia, para os trabalhadores filiados, a conferência do pagamento dos direitos trabalhistas e a homologação do encerramento do contrato de trabalho. O ritual de acerto de contas começaria às 14 horas.
Logo que cheguei, ainda pela manhã, encontrei três jovens trabalhadores da cana no sindicato. Eles eram de Cajazeiras, município localizado na região do semi-árido da Paraíba. Os três tinham chegado mais cedo ao sindicato para solicitar a intervenção da diretoria junto ao empreiteiro que não queria pagar-lhes os direitos trabalhistas. Isso depois de trabalharem toda a safra da cana. Depois de sete meses de trabalho nos canaviais, se não recebessem o fundo de garantia, o proporcional de férias e décimo terceiro salário, eles não tinham como voltar para a casa, isto é, não tinham dinheiro para comprar a passagem de volta para a Paraíba. Estavam visivelmente debilitados. Um deles estava tomando, por conta própria, um antiinflamatório, para aliviar as dores do corpo. Demonstrava ter grande familiaridade com os comprimidos de Buscopan. O outro estava febril e dizia ter acostumado a conviver com a febre. No início da safra passada ele teve pneumonia, dizia ser difícil se acostumar com o frio que faz em São Paulo.
Enquanto a presidente do sindicato notificava o empreiteiro, esses trabalhadores me contaram algumas dificuldades cotidianas enfrentadas nessa safra da cana. Durante a conversa, todos buscavam as causas das doenças a que estavam sujeitos em São Paulo. Falaram sobretudo da falta da família e da alimentação fraca.
Os três trabalhadores eram jovens, todos casados. Embora existam na região aqueles que trazem as mulheres para as temporadas paulistas, esses não trouxeram suas companheiras: com elas as despesas de passagens e de moradia aumentariam muito. Preferiam ficar morando no alojamento com mais dez trabalhadores, pagando R$ 40,00/mês de aluguel. Com as mulheres teriam que alugar um cômodo no beco ou uma casa com outro casal, aí o valor do aluguel aumentaria para R$ 80,00/mês. Esses trabalhadores mandavam mensalmente entre R$ 70,00 a R$ 100,00/mês para ajudar a família na Paraíba.
Para se alimentar, pagavam R$ 135,00/mês. Esse preço seria mantido sob uma condição: deveriam entregar para a pensão a cesta básica a que têm, mensalmente, direito. Mas, se perdessem um dia de trabalho, não recebiam a cesta básica. Nesse caso, o valor da pensão passava para R$ 200,00/mês. Mas, com ou sem cesta básica, eles se queixaram da alimentação fornecida pela pensão, geralmente vinculada aos empreiteiros. Segundo eles, a carne de frango que comiam todos os dias, por ser a mais barata é "pobre em substância". Com ela, quem trabalha no pesado no corte da cana não repõe as energias que o corpo perde. Em resumo: alimentação fraca, somada às exigências impostas pelo fiscal da turma, se traduz em cansaço, dores no corpo e da coluna, das câimbras e das tendinites.
A conversa prosseguia e eu notava que o trabalhador febril estava cada vez mais prostrado. Às 14 horas o empreiteiro chegou para o acerto de conta. As 14h30min fecharam um acordo. Imediatamente após a assinatura, o trabalhador febril teve uma crise convulsiva. O empreiteiro levantou-se, pegou os documentos e saiu. Acordo feito, já não se podia provar nada contra ele, ou contra a usina, e nem se podia contar com ele. A presidente do sindicato disponibilizou um veículo para transportar o trabalhador ao hospital da cidade, e eu resolvi acompanhá-los. O atendimento foi na emergência: soro e outros medicamentos. Posteriormente, foi aplicada uma injeção de Benzetacil, a febre cedeu e, depois de três horas de internação, o paciente voltou ao estado normal. Todos no hospital pareciam estar familiarizados com essas doenças de cortadores de cana.
Nesse período de atendimento, pudemos presenciar o drama de um outro trabalhador, trazido diretamente do canavial, sangrando com um enorme talho na parte superior do pé. Foram dados vários pontos. Mesmo com o consentimento do trabalhador machucado, a enfermeira impediu-me de fotografá-lo no hospital. Uma foto foi, então, feita no pátio, com o pé do trabalhador já enfaixado. Ali mesmo, na entrada do hospital, uma terceira vítima apareceu. Agora, um pai aflito amparava o seu filho trazido do canavial com câimbra. O braço retesado não se movia, a dificuldade de locomoção era grande, o paciente reclamava de dores no estômago. Uma vez mais acompanhei o atendimento e fiquei sabendo que também as câimbras são muito comuns por ali.
Convulsão, cortes de facão, câimbras. O que têm em comum esses cortadores de cana? Por um lado, a vida desses três trabalhadores pode ser vista como uma perversa continuidade dos movimentos populacionais do Nordeste para o Sul do país, historicamente motivados pela dificuldade de trabalho e de acesso a terra nas suas regiões de origem.2 2 Sobre migrações do Nordeste, ver (Garcia Junior, 1989), Moraes (1999), Carneiro (2007), Menezes (2002), Salles (1982), Moraes et al. (No prelo) e Rezende (2004). A construção civil e as indústrias foram as principais responsáveis pela população nordestina que povoou São Paulo.
Como milhares de outros o fazem anualmente, esses trabalhadores vêm hoje do Nordeste com um destino certo. A saber: vêm especificamente em busca de trabalho nos canaviais das modernas usinas paulistas. Segundo dados da União da Agroindústria Canavieira (Unica), na safra de 2006, foram mais de setenta mil trabalhadores que vieram para o corte da cana em São Paulo. Nesse universo de idas e vindas, a Pastoral dos Migrantes, ligada à Igreja Católica, identifica inúmeros casos em que os atendimentos correntes não foram eficazes. As mortes de trabalhadores da cana-de-açúcar estão na agenda dos organismos religiosos e sindicais e têm chegado ao Ministério Público que busca os elos entre os infartos diagnosticados nos atestados de óbito e as condições de trabalho no rico interior paulista.
Assim sendo, para compreender os episódios aqui relatados, é necessário situá-los em um contexto mais amplo da expansão e modernização da agroindústria do açúcar e do álcool no Estado de São Paulo. Primeiramente, trata-se de analisar a segmentação da mão-de-obra no interior da agroindústria canavieira que, para o sistema de corte mecanizado, exige trabalhadores com habilitações específicas e, depois, reserva o sistema de corte ma-nual, sobretudo, para os nordestinos, habituados a enfrentar trabalho "duro". Em segundo lugar, trata-se de analisar o paradoxo trazido pela modernização na gestão dessa mão-de-obra que institui um sofisticado sistema de incentivos e prêmios por produ-tividade e, ao mesmo tempo, inicia uma inédita temporada de doenças e mortes entre os trabalhadores da cana. Mesmo sem a menor intenção de esgotar tais questões, esses são os dois objetivos deste pequeno artigo.
Cana-de-açúcar: modernização tecnológica e intensificação do trabalho manual
A expansão da agroindústria canavieira está relacionada com as boas perspectivas do mercado internacional do álcool, como alternativa de energia renovável e menos poluidora que o petróleo. Além disso, o mercado internacional do açúcar também é favorável. As restrições aos subsídios para a exportação do açúcar, impostas aos produtores europeus pelo Mercado Comum Europeu, e a competitividade da produção brasileira no mercado internacional têm atraído investimentos de grupos internacionais para essa agroindústria no Brasil,3 3 Dados da Unica registram a participação de grupos estrangeiros e fundos de investimentos no setor. Esses grupos já controlam cerca de 5% da produção nacional da cana cerca de vinte milhões de toneladas. A entrada de estrangeiros no ramo teve início no ano 2000, com o grupo francês Louis Dreyfus. Em 2001 o grupo Tereos (ex-Beghin-Say) adquiriu usinas no Estado de São Paulo. O grupo argentino Adeco Agropecuária anunciou sua entrada no país nos últimos meses, com também os fundos de investimento Infinity Bio-Energy, que incorporou o fundo Evergreen e o fundo BDF, do qual um dos sócios é o banco francês Société Générale. Segundo depoimento de um técnico do Instituto Agronômico de Campinas, são inúmeras as solicitações de informações demandadas pelos grandes grupos internacionais (australianos, holandeses, alemães etc.) sobre o mapeamento de solos para aquisição de propriedades e investimentos em cana-de-açúcar. assegurando a expansão das atividades desse setor.
Em artigo publicado na grande imprensa, são anunciados os números em que se baseiam os empresários da cana-deaçúcar:
Nos próximos cinco anos (até 2010) serão implantadas 90 novas usinas no Brasil, incorporando uma área plantada de cana de 2,7 milhões de hectares aos 6 milhões de hectares já ocupados pela lavoura no país. Com esta incorporação a produção deverá saltar das 425 milhões de toneladas projetadas para a safra 2006/07 para 550 milhões de toneladas em 2010. Durante este período a capacidade de produção será ampliada em São Paulo com a construção de 39 novas usinas e modernização das unidades já existentes. (Unica, Folha de S.Paulo, 19.2.2006)
Por vários motivos, a modernização e a expansão da lavoura nas últimas safras da cana possibilitaram a coexistência de dois sistemas de corte nos canaviais das modernas usinas paulistas, o sistema de corte manual e o sistema mecanizado. A proporção de utilização de um ou outro sistema varia de acordo com as estratégias de cada unidade de produção e das restrições técnicas apresentadas pelas colheitadeiras mecânicas. Assim, por exemplo, existem usinas (como a São Martinho, na região de Ribeirão Preto) que cortam 90% da cana pelo sistema mecanizado, e usinas (como a Ester, na região de Campinas) que o utilizam em apenas 15% da área de cana. De fato, existe uma grande variação. O grupo Cosan, que possui quatorze usinas no Estado de São Paulo, utilizou a colheita mecânica em 30% da área de cana dessas usinas, na safra de 2005. A Usina Santa Adélia, localizada no município de Jaboticabal, utilizou esse sistema em 50% de sua lavoura na safra de 2006 e pretende expandir essa utilização para 70% na safra de 2007.4 4 Informações obtidas em entrevistas realizadas com técnicos do Departamento de Recursos Humanos das referidas usinas realizadas em outubro de 2005, no âmbito da pesquisa sobre migrações.
Tanto a implantação de novas unidades de produção como a modernização das usinas em operação provocam mudanças na dinâmica do mercado de trabalho na cana. Um dos seus efeitos é a contratação de mão-de-obra qualificada (agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiro químico, contador, engenheiro de produção, psicólogos e outros), formados nas universidades e nos centros tradicionais de pesquisa como o Instituto Agronômico de Campinas, a Coopersucar e a Embrapa. Contudo, no que diz respeito ao trabalho no eito da cana, esse processo impulsiona a constituição de dois universos bastante distintos que correspondem ao sistema de corte mecanizado e manual.
Para o corte mecanizado, os principais critérios de seleção dos trabalhadores estão relacionados à especialização, à escolaridade e ao local de moradia próximo da usina. O funcionamento operacional desse sistema implica a integração de diferentes especializações: motoristas, tratoristas, operadores de máquinas, mecânicos, outros. Esses trabalhadores são contratados diretamente pela usina mediante o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que assegura, além dos direitos trabalhistas básicos, o seguro desemprego quando houver demissão. Scopinho (1999) realizou um estudo sobre a exploração e as doenças do trabalho a que estão sujeitos esses trabalhadores, o ritmo e a jornada excessiva de trabalho determinados pela capacidade operacional das colheitadeiras. Nessas circunstâncias, o trabalho encontra-se subordinado a ela.
No sistema manual de corte, as exigências na seleção são outras e o tipo de contrato de trabalho é por tempo determinado, contrato safrista. Nesse tipo de contrato, os trabalhadores não recebem, por lei, o seguro desemprego no final do contrato. No corte manual, os trabalhadores não estão subordinados e dependentes do ritmo da máquina, não são apêndices da máquina. Para a seleção dos trabalhadores no sistema de corte manual, priorizam-se os critérios de habilidade, a destreza, a força e a resistência física e o local de moradia distante do local de trabalho. A força física e a destreza são critérios imprescindíveis para assegurar o aumento da produtividade nesse sistema de corte que supõe a intensificação do ritmo de trabalho. No sistema de corte manual não houve substituição do instrumento de trabalho, o facão continua sendo o instrumento de trabalho. As inovações se limitam a melhorias na lâmina e no cabo.
Os trabalhadores que chegam do Nordeste possuem um perfil condizente com o que se precisa hoje para o corte manual. Segundo eles próprios, por terem sido, desde crianças, socializados no árduo e duro trabalho da agricultura na sua região de origem, o trabalho no canavial não os assusta. Além disso, segundo relato dos técnicos das usinas, são preferidos pelos usineiros por serem mais dedicados ao trabalho e gratos aos empregadores pela oportunidade do emprego, inexistentes em suas regiões. A necessidade premente de ganhar dinheiro, para assegurar a subsistência da família distante, tem funcionado como um freio que os torna mais tolerantes com descumprimentos de leis trabalhistas, com as injustiças e as distorções que ocorrem nas medições feitas pelo fiscal de turma em sua produção diária no corte da cana.
As particularidades do corte manual em um contexto de modernização e intensificação da produção implicaram, contudo, a introdução de novas formas de controle do trabalho no corte da cana, dentre elas destaca-se o ganho pela produção, pela metragem e pesagem da cana cortada. Somando-se a esses critérios o tipo da cana cortada, tem-se a referência para calcular o salário. Assim, a lógica da eficiência do corte manual é determinada pelo lema: "Quanto mais se corta, mais se ganha".
Para serem selecionados pela usina, os candidatos terão que cortar no mínimo dez toneladas de cana/dia. Caso contrário, eles serão demitidos. Geralmente essa "poda" se faz até sessenta dias após a admissão. O sistema de seleção funciona dessa maneira. Sem nomear a usina, relato um caso que observei. A Usina X contratou cinco mil trabalhadores no início da safra. No primeiro mês, calculou-se o rendimento médio dessa turma. No caso analisado, foram descartados dois mil trabalhadores, que não conseguiram alcançar a média. No segundo mês, o mesmo procedimento se repete, agora com três mil trabalhadores. Nessa etapa, foram "podados" mais mil trabalhadores que tiveram uma produção inferior à média da turma. Assim, os dois mil trabalhadores, altamente produtivos, selecionados nesse processo, conseguiram realizar o quantum de produção dos cinco mil trabalhadores que iniciaram a safra. Esses trabalhadores selecionados chegam a cortar até vinte toneladas de cana/dia e manter uma média mensal entre 12 e 17 toneladas/dia.
Esse caso não é uma exceção. A produtividade do trabalho no corte manual dobrou em relação há vinte anos, quando se cortavam de quatro a seis toneladas de cana/dia, sem que houvesse mudanças substanciais na forma de corte e nos instrumentos de trabalho (Alves, 1992). Não por acaso, as usinas procuram pôr em prática técnicas motivacionais para estimular a competição entre os trabalhadores e aumentar a produtividade do trabalho. Um estímulo financeiro é dado com as bonificações concedidas pelas usinas quando as metas de produção são cumpridas, são os Programas de Participação de Resultados (PPR). Em âmbito pessoal, destacamos a premiação aos trabalhadores mais produtivos com doação de bicicletas, televisores, rádios, refrigeradores etc. Nesse cenário é que surge a figura dos "campeões de produtividade".
O repositor hidreletrolítico e vitamínico: um símbolo da modernização dolorosa
Cortar no mínimo dez toneladas de cana por dia significa um enorme desgaste físico dos trabalhadores. Nesse patamar de produção os riscos de acidentes de trabalho aumentam, pois o corpo extenuado perde a precisão dos golpes do facão na cana, e as pernas e a mão involuntariamente viram alvos. Os movimentos repetitivos e seqüenciais realizados pelos trabalhadores favorecem o aparecimento de doenças do trabalho como as já citadas: dores no corpo, tendinites, bursites e problemas de coluna.
As câimbras também aparecem com muita freqüência nos trabalhadores da cana. Ela começa a surgir nas mãos, travando-as, e a dor é grande. A câimbra é uma manifestação da fraqueza do corpo, dizem os trabalhadores. Geralmente a câimbra acontece durante a tarde, quando o cansaço é maior. Das mãos, ela passa para as pernas, até tomar o corpo todo. A cada minuto que passa a câimbra vai aumentando, e se houver demora no atendimento o trabalhador pode morrer. Um médico entrevistado no âmbito da pesquisa assim se expressou sobre as câimbras:
quando o trabalhador é submetido a uma carga de trabalho e seu físico não está acostumado, e se ele estiver debilitado ou se portador de uma doença preexistente, uma cardiopatia, ele pode ter uma morte súbita se submetido a trabalho excessivo com sudorese. A transpiração excessiva provoca perda de eletrólitos, de sais do organismo. Se você pegar a camisa de um trabalhador ela chega a estar branca por causa da perda de sais. A câimbra é o primeiro sintoma de quando você tem distúrbio hidreletrolítico. A câimbra é acúmulo de ácido lático na musculatura. Ele fica todo contorcido, parece um possuído. Pra você ter uma idéia, é quase como uma convulsão. E dói, dói muito aquilo. Um jogador de futebol, um atleta preparado quando tem câimbra ele é substituído.Imagine um trabalhador rural que se submete a uma rotina dura de trabalho. O tratamento correto é a hidratação com soro fisiológico. Existem usinas agora que fornecem um pó para misturar na comida para repor algumas perdas de vitaminas e proteínas. Eu nunca presenciei uma morte súbita por decorrência de distúrbio hidreletrolítico, de câimbra. Geralmente, a pessoa chega morta no pronto-socorro...
Do ponto de vista das usinas, o reconhecimento dessa realidade demandou a busca de uma solução técnica. O médico entrevistado fez referência à distribuição gratuita pelas usinas de um repositor hidreletrolítico e vitamínico, indicado para trabalhadores com intensa atividade física. De fato, em algumas usinas os trabalhadores na safra da cana ingerem diariamente esse produto antes de começar o corte da cana. Com esse estimulante as dores do corpo desaparecem, as câimbras diminuem e a produtividade aumenta. Os trabalhadores sentem-se confortáveis quando ingerem esse produto. Reivindicam uma dosagem maior que o permitido, pois superenergizados podem produzir mais e ganhar mais.
Também para aliviar as dores no corpo, provocadas pelo excesso de trabalho, buscam os antiinflamatórios, prescritos pelos médicos ou adquiridos livremente nas farmácias, para aliviar as dores de coluna e musculares, as bursites e as tendinites. Com esse produto eles asseguram rápido reingresso ao trabalho sem prejuízo de sua produtividade e sem necessitar de afastamento do trabalho, expediente condenado pela usina e desinteressante para os trabalhadores que passam a receber o dia não trabalhado pela diária, cujo valor era de apenas R$ 14,00 na safra de 2006 (e, como já foi dito, com uma falta ainda perdem a cesta básica do mês).
Soros e remédios são expedientes adotadas pelas usinas e pelos próprios trabalhadores para garantir um ritmo de trabalho que vai além da capacidade física de muitos. Como em um processo de "seleção natural", sobrevivem os mais fortes. Mas a pergunta é: como e até quando sobrevivem? Soros e remédios podem ser vistos como expressão do paradoxo de um tipo de modernização e expansão da lavoura canavieira que dilapida a mão-de-obra que a faz florescer. Ainda não temos dados quantitativos que detalhem as conseqüências do uso desses paliativos. Entretanto, as aposentadorias por invalidez entre trabalhadores de pouca idade e a ocorrência das mortes de trabalhadores por excesso de trabalho nos canaviais das modernas usinas, como tem ocorrido nas últimas safras da cana em São Paulo, se apresentam como evidências a convocar tomada de posição de diferentes instâncias do poder público.
Nota final: em busca de trabalho decente
Os meios de comunicação têm registrado o orgulho dos habitantes do interior do Estado de São Paulo, no que se refere ao progresso, à qualidade de vida, à maior produção de açúcar, álcool e suco de laranja do mundo. Nesse cenário de ufanismo aparecem slogans: "Este é o Brasil que deu certo" e "Ribeirão Preto: Califórnia Brasileira". No que diz respeito à produção sucroalcooleira, a expansão recente ampliou a supremacia econômica e de poder dos usineiros paulistas nas instâncias de planejamento das atividades do setor, deslocamento das tradicionais oligarquias nordestinas.
Os versos de Pedro Costa, publicados na revista De Repente (5.2006), oferecem uma interpretação da realidade, nomeando o trabalho na moderna agroindústria paulista como "sub-escravo":
Os usineiros da cana
Ostentam esta visão
Política do lucro fácil
Cultura da exploração
Um pensamento arcaico
Do tempo da escravidão
O trabalhador do campo
É mais do que explorado
Dez toneladas por dia
Para manter registrado
Quem não atingir este teto
Já está desempregado.
Milhares de nordestinos
Vivem estes empecilhos
Num trabalho sub-escravo
Seus olhos perderam os brilhos
Acorda Brasil, acorda!
Pra cuidar dos teus filhos
Já o médico por nós entrevistado aponta para a necessidade de uma "política médica" específica para o setor que seleciona os "campeões de produtividade":
Agora para você realmente chegar a uma conclusão seria necessário uma política de medicina do trabalho para esses trabalhadores, no qual eles fossem previamente feito um eletrocardiograma, ver se a função renal deles está equilibrada, ver a capacidade aeróbica do mesmo. Então falta essa política médica para esse setor. Embora, a gente vê alguma movimentação nesse sentido de alguns médicos do trabalho, mas falta uma legislação. Essas dez mortes no campo se você for investigar, um pode ter tido um acidente vascular, outro pode ter tido uma pancreatite. Mas a questão trabalhista de saúde do trabalhador precisa ser muito bem avaliada e chegar a um programa de proteção ao mesmo.
De fato, para melhorar as condições de trabalho nos canaviais das modernas usinas paulistas, é preciso que cresçam as possibilidades de inserção produtiva no Nordeste, como sugere o repentista. O que se espera da modernização é que ela seja acompanhada de uma condizente medicina do trabalho.
Do ponto de vista sindical, contudo, a polêmica se dá em torno da seguinte questão: reafirmar a "conquista" do ganho produtividade do trabalho no corte manual da cana ou lutar para substituir essa forma de remuneração da produção pelo salário? Essa polêmica está presente nas pautas sindicais. Não há consenso. Porém, todos concordam que é urgente aumentar o preço da unidade de cana cortada, criar mecanismos para que os trabalhadores possam controlar a metragem e a pesagem da cana cortada e para que participem efetivamente das instâncias formadoras dos preços da cana.
A rigor, trata-se de aprimorar os mecanismos de fiscalização que, de fato, evitem a permanência de situação indigna de trabalho, encontrada em profusão em todas as regiões canavieiras do país e também nas modernas usinas paulistas. O trabalho digno que protege a vida. O trabalho nos canaviais paulistas, ainda que revestido da sofisticação dos Departamentos de Recursos Humanos, tem causado sofrimento e morte entre trabalhadores em pleno século XXI, na Califórnia à brasileira.
Notas
Recebido em 6.2.2007 e aceito em 9.2.2007.
José Roberto Pereira Novaes é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. @ mafekeko@centroin.com.br
- ALVES, F. J. da C. Modernização da agricultura e sindicalismo rural Campinas, 1992. Tese (Doutorado) Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas.
- CARNEIRO, M. Migração, estrutura agrária e redes sociais: uma análise do deslocamento de trabalhadores maranhenses rumo à lavoura da cana em São Paulo. São Carlos: Editora UFSCar, 2007.
- CASASSUS, M. C. Del modelo neoclássico a las teorías de la segmentación del mercado de trabajo. Sociologia del Trabajo, v.3-4, p.9-22, 1980.
- DE REPENTE. Revista da Fundação Nordestina de Cordel Funcor. Teresina, ano XII, n.50, abril e maio de 2006.
- GARCIA JUNIOR, A. O Sul caminho do roçado: estratégia de reprodução camponesa e transformação social. Brasília: Editora da UnB, CNPQ, 1989.
- MENEZES, M. A. Redes e enredos nas trilhas dos migrantes: um estudo de famílias de camponeses migrantes. João Pessoa: Editora UFPB, 2002.
- MORAES, D. et al. Andando pelo mundo... Significados da migração temporária: do Piauí para a agroindústria canavieira paulista. São Carlos: Editora UFSCar (no prelo).
- MORAES, M. A. As andorinhas nem cá, nem lá. Recursos visuais na pesquisa social. Caderno CERU, São Paulo, v.9, n2, p.29-45, 1988.
- _______. Errantes do fim do século São Paulo: Editora Unesp, 1999.
- _______. Trabalho e trabalhadores na região do "mar de cana e rio de álcool". In: Encontro "Trabalhadores Canavieiros: educação, direito, trabalho", UFSCar, 2005, São Carlos, SP.
- NOVAES, J. R. O Nordeste canavieiro: mudanças nas relações de trabalho e nas relações de poder. Campinas, s. d. Tese (Doutorado) Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas.
- NOVAES, J. R.; ALVES, F. No eito da cana São Carlos: Rima, 2002.
- PADRÃO, L. N. Processo de trabalho em tempo de reestruturação produtiva: estratégia de controle na agroindústria. Rio de janeiro, 1996. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- SALES, T. Agrestes, agrestes: transformações recentes na agricultura nordestina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
- SCOPINHO, R. et al. Caderno de Saúde Pública, v.15, n.1, p.147-61, jan.-mar. 1999.
- SETUBAL, M. Refuncionalização da servidão: uma análise da permanência de formas de escravidão na agroindústria canavieira de Campos dos Goytacazes. São Carlos: Editora UFSCar (no prelo).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
26 Out 2007 -
Data do Fascículo
Abr 2007
Histórico
-
Aceito
09 Fev 2007 -
Recebido
06 Fev 2007