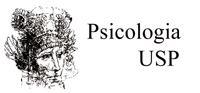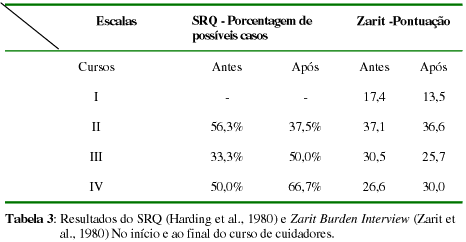Resumos
Como parte da atenção à saúde dos idosos do Centro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, elaborou-se um programa de apoio aos seus cuidadores, o qual tem por objetivos gerais: preservar a qualidade de vida dos cuidadores e proporcionar melhores condições de atendimento familiar aos pacientes. O programa consta de 10 a 12 reuniões semanais, com duas horas de duração, coordenadas por duas psicólogas. São utilizadas técnicas psicodramáticas focalizando o papel do cuidador e suas decorrências sociais e emocionais. Informações teóricas são veiculadas por meio de discussões em grupo e recursos audio-visuais. São abordados os seguintes temas: significado e motivações do cuidado prestado, sinais de alerta de desgaste físico e mental do cuidador, possibilidades de se cuidar e solicitar ajuda, formas de melhorar a comunicação diante da deficiência visual, auditiva e cognitiva, formas de favorecer a independência e autonomia e de lidar com os problemas relativos à higiene, mobilidade, agressão, irritação, alucinações e idéias delirantes do idoso. Na primeira reunião de cada grupo (que tem de 10 a 20 participantes) são aplicados uma escala de avaliação do impacto emocional sobre os cuidadores (Zarit et al., 1980) e o SRQ (Self Report Questionnaire - Mari & Willians, 1986) para identificação de distúrbios psiquiátricos, sendo os mesmos reaplicados no final do programa, pretendendo-se verificar possíveis mudanças. Os dados obtidos indicam mudanças favoráveis na expressão de sentimentos, estabelecimento de limites e retomada de atividades de lazer.
Idosos; Cuidadores; Cuidado do idoso; Saúde; Qualidade de vida
Dans le cadre du service de gériatrie du Centre de Santé-école de la faculté de médecine de Botucatu (Université de Sao Paulo), a été établi un programme d'appui à ces soignants avec les objectifs suivants: préserver leur qualité de vie et favoriser de meilleures conditions familiales aux patients. Le programme comprend de 10 à 12 réunions par semaine, de deux heures de durée, coordonnées par deux psychologues. On utilise des techniques de psychodrame centrées sur le rôle du soignant et leurs conséquences sociales et émotionnelles. Les informations théoriques sont transmises au moyen de discussions de groupe et de moyens audiovisuels. Les thèmes suivants sont abordés : signification et motivation du soin donné, signaux d'alertes de fatigue physique et mentale du soignant, les possibilités de se traiter et de demander de l'aide, une méthode d'amélioration de la communication face à une déficience visuelle, auditive et cognitive, une méthode pour favoriser l'indépendance et l'autonomie et surmonter les problèmes relatifs à l'hygiène, la mobilité, l'agression, l'irritation, les hallucinations et les idées délirantes de la personne âgée. Au cours de la première réunion de chaque groupe (qui comprend de 10 à 20 participants) on applique une échelle d'évaluation de l'impact émotionnel sur les soignants (Zarit et al., 1980) et le SRQ (Self Report Questionnaire - Mari and Williams, 1986) qui identifient des désordres psychiatriques. Ces échelles sont reproduites à la fin du programme, pour observer d'éventuelles modifications. Les données obtenues indiquent des changements favorables dans l'expression d'émotions, l'établissement de limites et de retour à des activités de loisirs.
Personnes âgées; Soignants; Soins aux personnes âgées; Santé; Qualité de vie
As a part of the elderly health care from the Health Center of Botucatu Medical School (UNESP - São Paulo - Brazil), a support program for caregivers has been made, with the following general aims: to preserve the caregivers’ quality of life and to improve conditions of family assistance for the patients. This program has a two-hour meeting once a week for 10 to 12 weeks, coordinated by two psychologists. Psychodramatic techniques are used, focusing on the caregiver’s role and its social and emotional consequences. Theoretical information is given through group discussions and audio-visual resources. Themes that are discussed include: motivation and meaning of caregiving; warning signals of physical and emotional tiredness of the caregivers; the elderly’ possibilities of taking care of themselves and asking for help; ways of improving the communication in case of visual, auditory or cognitive deficiencies; ways of favoring independence and autonomy; and ways to deal with problems related to hygiene, mobility, aggression, irritation, hallucinations and delusional ideas of the elderly. In the first meeting of each group (composed by 10 to 20 members), two scales are applied: a scale for evaluation of the emotional impact (burden) on the caregivers (Zarit et al., 1980) and the Self Report Questionnaire - SRQ - (Mari and Williams, 1986) which identifies possible psychiatric disorders. These scales are reapplied at the end of the program, in order to check possible changes. The obtained data indicate favorable changes in the expression of emotions, establishment of limits and a return to leisure activities.
Elderly; Caregivers; Elder care; Health; Quality of life
PROGRAMA DE APOIO A CUIDADORES: UMA AÇÃO TERAPÊUTICA E PREVENTIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE DOS IDOSOS
Ana Teresa de Abreu Ramos Cerqueira1 1 Endereço eletrônico: ateresa@fmb.unesp.br
Depto. de Neurologia e Psiquiatria - Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP
Nair Isabel Lapenta de Oliveira
Centro de Saúde - Escola - Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
Como parte da atenção à saúde dos idosos do Centro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, elaborou-se um programa de apoio aos seus cuidadores, o qual tem por objetivos gerais: preservar a qualidade de vida dos cuidadores e proporcionar melhores condições de atendimento familiar aos pacientes. O programa consta de 10 a 12 reuniões semanais, com duas horas de duração, coordenadas por duas psicólogas. São utilizadas técnicas psicodramáticas focalizando o papel do cuidador e suas decorrências sociais e emocionais. Informações teóricas são veiculadas por meio de discussões em grupo e recursos audio-visuais. São abordados os seguintes temas: significado e motivações do cuidado prestado, sinais de alerta de desgaste físico e mental do cuidador, possibilidades de se cuidar e solicitar ajuda, formas de melhorar a comunicação diante da deficiência visual, auditiva e cognitiva, formas de favorecer a independência e autonomia e de lidar com os problemas relativos à higiene, mobilidade, agressão, irritação, alucinações e idéias delirantes do idoso. Na primeira reunião de cada grupo (que tem de 10 a 20 participantes) são aplicados uma escala de avaliação do impacto emocional sobre os cuidadores (Zarit et al., 1980) e o SRQ (Self Report Questionnaire - Mari & Willians, 1986) para identificação de distúrbios psiquiátricos, sendo os mesmos reaplicados no final do programa, pretendendo-se verificar possíveis mudanças. Os dados obtidos indicam mudanças favoráveis na expressão de sentimentos, estabelecimento de limites e retomada de atividades de lazer.
Descritores: Idosos. Cuidadores. Cuidado do idoso. Saúde. Qualidade de vida.
O envelhecimento populacional
O envelhecimento populacional no mundo, e mais recentemente, também nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, tem colocado o desafio de enfrentar essa nova realidade com soluções criativas e viáveis, especialmente nos países do terceiro mundo.
Esse envelhecimento tem exigido respostas no que diz respeito especialmente às políticas de saúde e políticas sociais dirigidas à população idosa, com o intuito de preservar sua saúde e qualidade de vida, bem como de atendê-la em suas doenças.
Proporcionalmente, a faixa etária de 60 anos ou mais é a que mais cresce. Projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS) evidenciam que os idosos no Brasil, no período de 1950 a 2025 deverá ter aumentado em 15 vezes, enquanto o restante da população em cinco. Assim, o Brasil será o 6.o país quanto ao contingente de idosos em 2025 devendo ter cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos.
Essa transição demográfica ocorreu lentamente nos países desenvolvidos, acompanhando a elevação da qualidade de vida, graças à possibilidade de inserção das pessoas no mercado de trabalho, de oportunidades educacionais favoráveis, de boas condições sanitárias, alimentares, ambientais e de moradia (Ministério da Saúde [MS], 2000). No entanto, no Brasil e em outros países latino-americanos, esse processo foi rápido, observando-se uma retangularização da pirâmide populacional, sem que essa tivesse sido acompanhada de uma melhora na qualidade de vida dessa parcela da população.
No Brasil, esse processo, nitidamente urbano, como afirma Berquó (1992), deve-se tanto à queda da fecundidade, como ao aumento da longevidade, embora essa ainda seja inferior àquela que os brasileiros teriam o direito de possuir.
Constata-se um aumento na expectativa de vida, como pode ser demonstrado pelos dados que se seguem:
1900 37,7 anos
anos 40 39 anos
anos 50 43,2 anos
anos 60 55,9 anos
anos 80 63,4 anos
Verifica-se que a expectativa de vida dos anos 90 é ainda inferior à dos países desenvolvidos, que hoje é, no mínimo, de 75 anos. Cabe destacar ainda a diferença de 15 anos entre a expectativa de vida da população do sul e sudeste e a do nordeste brasileiros (Berquó, 1992).
Diante dessas mudanças demográficas, ainda são poucas as respostas do sistema de saúde e de outras políticas sociais, que visem a saúde e o bem-estar social do idoso.
Ramos (1992) enfatiza que, tanto a queda da fecundidade quanto da mortalidade que levaram a esse resultado demográfico, aconteceram desvinculadas de um desenvolvimento social, decorrendo mais da importação da tecnologia e avanços médicos, além da rápida urbanização do país.
Essa constatação acentua o desafio de se proporem políticas de saúde que considerem esses fatos na análise da condição atual de saúde dos idosos, bem como da saúde de quem cuida deles, na grande maioria dos casos seus próprios familiares, uma vez que não se dispõe de equipamentos sociais para fazê-lo.
Assim, antes de focalizar especificamente a preocupação com aqueles que cuidam dos idosos, chama-se atenção para alguns dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (World Health Organization [WHO], 1997). Nesses dados, verifica-se que são graves os problemas de saúde dos idosos no mundo, destacando-se os prejuízos da visão, audição e aqueles decorrentes dos quadros demenciais, os quais podem comprometer muito a autonomia das pessoas acometidas por esses deficiências.
Porém, esses recursos ainda não estão disponíveis e, como apresenta Ramos (1992), o idoso brasileiro permanece sendo cuidado na família, sem a qual o sistema de saúde não daria conta desses cuidados ou estaria ainda mais sobrecarregado.
Estudando os arranjos familiares predominantes em nossa sociedade, Ramos (1992), identificou que:
- 12% de pessoas idosas vivem sozinhas;
- 32% vivem em casas com uma geração (freqüentemente casais);
- 28% vivem em casas com duas gerações (casais ou não);
- 28% vivem em casas com três gerações (casais, ou só um idoso, vivendo com filho casado e pelo menos um neto).
Os arranjos de duas e três gerações são mais freqüentes entre as mulheres, especialmente as viúvas, sendo elas freqüentemente as principais cuidadoras do idoso.
Em estudo realizado no ambulatório de geriatria do Centro de Saúde-Escola (CSE) da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), no qual foram estudados 123 idosos, também constatou-se que há um predomínio de mulheres cuidadoras (73%), especialmente esposas e filhas, (Oliveira, Christovan, Mirara, & Ramos-Cerqueira, 1996) predominando também os arranjos com duas ou mais gerações, sendo que apenas 6% dos idosos viviam sozinhos.
Portanto, diante da necessidade de construir modelos alternativos de cuidados, mas também de oferecer suporte para os cuidadores informais dos idosos, especialmente os familiares, optou-se por oferecer a eles, na estrutura de um serviço público de saúde, um programa de apoio.
Esta proposta está especificamente contemplada na Política Nacional de Saúde do Idoso, no item que se refere ao "Apoio ao desenvolvimento de cuidados informais": sugere-se a formação de parcerias entre os profissionais de saúde e as pessoas (na nossa cultura, de forma privilegiada, o familiar) responsáveis pelas atividades da vida diária e pelo seguimento de orientações emitidas pelos profissionais (MS, 2000). Essa diretriz, apresentada naquele documento, indica que a assistência domiciliar aos idosos, cuja capacidade funcional está comprometida, requer orientação, informação e assessoria de especialistas.
Porém, ainda mais que isso, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Idosos recomenda que essas pessoas devem também receber cuidados especiais, considerando que "a tarefa de cuidar de um adulto dependente é desgastante e implica riscos de tornar doente e igualmente dependente o cuidador".
Assim, podemos antever que a função de prevenir perdas e agravos à saúde deverá abranger, igualmente, a figura do cuidador, e para tanto devem ser desenvolvidos programas destinados a prevenir a sobrecarga e o impacto emocional negativo que podem afetar a saúde e qualidade de vida de cuidadores de idosos e de outras pessoas dependentes.
A literatura internacional indica, por numerosos trabalhos revistos por Gatz, Bengtson, e Blum (1991) e Zarit (1994), que cuidar de idosos dependentes traz uma variedade de efeitos adversos, e reconhece o impacto emocional vivido por familiares que cuidam de pessoas com doença mental ou outros problemas decorrentes do envelhecimento. Esse impacto emocional ou sobrecarga tem sido definido como: "problemas físicos, psicológicos ou emocionais, sociais e financeiros que familiares apresentam por cuidarem de idosos doentes" (George & Gwyther, 1986).
Zarit (1997) relata que cuidadores apresentam taxas mais altas de depressão e outros sintomas psiquiátricos e podem ter mais problemas de saúde que pessoas, com a mesma idade, que não são cuidadores. Além disso, os cuidadores participam menos de atividades sociais, têm mais problemas no trabalho, e apresentam maior freqüência de conflitos familiares, freqüentemente tendo como foco a forma como eles cuidam do parente comum. Algumas pessoas chegam a apresentar o que tem sido chamado de "erosão do self ", pela forma como submergem no papel de cuidadores (Zarit, 1997).
Apesar dessas constatações, algumas pessoas são capazes de enfrentar mais adequadamente as situações estressantes decorrentes do cuidado prestado. Assim, para propor intervenções, é necessário identificar a variabilidade das respostas aos estressores, para se promover programas que possam ajudar a limitar o impacto que o cuidar pode trazer ou ajudar a identificar e aumentar fatores que possam mediar e reduzir o impacto (Zarit, 1997).
O programa para cuidadores de idosos do programa de geriatria do CSE baseou-se na literatura disponível sobre esse tema, de forma especial em Trocóniz, Cerrato, e Veiga (1997) e em informe da OMS, divulgado pelo Alzheimer Disease International (World Health Organization [WHO], 1994), nos relatos de dificuldades enfrentados por familiares de idosos, nos relatos de dificuldades apresentadas aos geriatras e psicólogos do serviço e na experiência pessoal de alguns profissionais no cuidado com os seus familiares idosos.
Concorda-se com Zarit (1997) que a experiência pessoal e a visão que os profissionais de saúde têm sobre o cuidado com idosos devem ser examinadas, pois podem interferir no julgamento profissional, uma vez que muitos valores interferem nas decisões de como, onde e até quando cuidar do idoso. Assim, como sugere Zarit (1997), o profissional que pretende trabalhar com cuidadores deverá ter entre suas habilidades e conhecimentos:
- familiaridade com os transtornos comuns do envelhecimento e com suas possibilidades de tratamento;
- informações sobre diagnóstico e avaliações dos transtornos do envelhecimento;
- conhecimento sobre as disponibilidades dos serviços de saúde para o idoso doente;
- habilidades clínicas que permitam tanto prover orientação relativa ao comportamento do idoso, como aquelas que permitam levar o cuidador a identificar sentimentos e comportamentos relativos ao idoso, compreendê-los e/ou modificá-los, de modo a resultar em melhora de sua qualidade de vida, e de sua relação com o idoso, com outros familiares e com pessoas do seu convívio.
Para se efetivar o programa2 1 Endereço eletrônico: ateresa@fmb.unesp.br , foram estabelecidos os seguintes objetivos:
- oferecer condições que favoreçam a preservação da qualidade de vida de cuidadores de idosos;
- proporcionar condições para melhorar o cuidado oferecido aos idosos.
Para viabilizar esses objetivos, estabeleceram-se as seguintes condições:
- divulgação da proposta entre os geriatras, médicos clínicos, enfermeiras do programa de atenção à saúde dos idosos, solicitando que encaminhassem para "o curso" familiares cuidadores de idosos do programa de geriatria do CSE;
- convocação dos cuidadores e apresentação da proposta do curso.
Quanto ao seu funcionamento, estabeleceu-se que o curso ocorreria durante 12 semanas, com reuniões semanais de duas horas, coordenado por duas psicólogas, e com participação de convidados para temas específicos, de caráter mais informativo.
Os grupos são compostos de 8 a 12 participantes, mas há grupos constituídos de 10 a 20, sem prejuízo das atividades. São só de mulheres, geralmente as cuidadoras.
Para abordar os diferentes temas utilizou-se apresentação oral, com recursos audio-visuais, atividades práticas (relaxamento, demonstração de técnicas) e técnicas psicodramáticas.
O Programa
Para atender os objetivos descritos, o programa focaliza tanto o cuidador como os cuidados prestados e divide-se em módulos.
Módulos Centrados no Cuidador
Esses módulos pretendem permitir a expressão de sentimentos, estimular o compartilhar de experiências, o relato de dificuldades, e oferecer acolhimento para os sentimentos e para as dificuldades relatadas, além de orientações e sugestões para lidar com elas.
Para propiciar essas experiências, inicia-se o curso com perguntas:
I - Porque cuidamos de nossos familiares?
- Quem são os cuidadores?
- Quais as suas características?
- Por que são eleitos?
- Quem os ajuda?
- Por quanto tempo se cuida?
- Como era o relacionamento com o idoso antes de sua doença ou dependência?
- Onde cuidar?
II - Que conseqüências são atribuídas à sobrecarga decorrente do cuidado prestado?
- físicas
- psicológicas
- familiares
- no trabalho
- econômicas
- no lazer
III - Que sentimentos são despertados pelo cuidar?
- raiva
- culpa
- sentimentos de perda e luto
- solidão
Nas discussões dessas perguntas procura-se identificar os sentimentos mais comuns, como raiva, culpa, sentimentos de perda e luto, solidão, estimular dramatizações, apresentação de imagens que permitam avançar do nível do relato verbal, mais defensivo, para expressões mais profundas e verdadeiras, sempre procurando acolher, favorecer o compartilhar, e propor mudanças que aliviem a sobrecarga.
Após esses módulos, que ocorrem em duas ou três reuniões, iniciam-se módulos mais informativos denominados: módulos centrados no cuidado e módulos centrados na relação.
Módulos Centrados no Cuidado
Nesses módulos, são convidados outros profissionais para abordarem os seguintes tópicos:
- o envelhecimento: aspectos biológicos, psicológicos e sociais (médico);
- cuidados de enfermagem para o idoso (enfermeira);
- aspectos nutricionais do idoso (nutrólogo);
- recursos da Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Fonoaudiologia (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudióloga) no tratamento do idoso.
Módulos Centrados na Relação
Nesses módulos são abordados os principais problemas na relação com os familiares e são discutidas propostas para superá-los. Incluem:
I - A comunicação com os familiares:
- problemas visuais interferindo na comunicação;
- problemas auditivos interferindo na comunicação;
- a demência como limitação à comunicação;
- como favorecer a autonomia e preservar a auto-estima;
- como transmitir afeto.
II - O enfrentamento dos problemas difíceis:
- higiene pessoal
- mobilidade
- agressão e raiva
- insônia
- inatividade e tristeza
- depressão
- agitação
- deambulação excessiva
- alucinações e idéias delirantes
Nesses módulos incentiva-se a identificação de atuações que melhorem a qualidade do cuidado, porém sempre observando o limite para não culpabilizar o cuidador e poder acolher as suas dificuldades.
Para discutir alguns desses tópicos, convida-se um psiquiatra, que apresenta as características psicopatológicas dessas manifestações (especialmente aquelas decorrentes da demência e depressão).
São discutidos possíveis manejos comportamentais desses problemas, a necessidade ou não de medicação e os riscos da medicação excessiva.
Para finalizar, o curso retoma "O Cuidado com o Cuidador", e são apresentados os sinais de alerta de manifestações da sobrecarga, tais como: distúrbios de sono, perda de energia, fadiga crônica, isolamento, uso abusivo de substâncias, fumo, problemas físicos, alteração de memória, baixa concentração, agressividade, dificuldade de concentração. Incentiva-se a busca de formas de cuidar-se, de pedir ajuda, de buscar serviços especializados, estabelecer limites, planejar o futuro e cuidar da própria saúde. Propõe-se a criação e integração em grupos de auto-ajuda e a organização em grupos para reivindicação de direitos sociais e à assistência médica.
Avaliação
Têm sido utilizadas, no início e ao final do programa, medidas que permitem avaliar os cuidadores segundo a sobrecarga (burden) da atividade de cuidar e a presença de sintomas psiquiátricos.
Para isso escolheu-se a The Zarit Burden Interview (Zarit, Reever, & Back-Peterson, 1980), uma escala, com 22 ítens, que avalia o impacto percebido do cuidar sobre a saúde física e emocional, atividades sociais e condição financeira. As respostas aos 22 ítens devem ser dadas segundo uma escala de cinco pontos, que descrevem como cada afirmação afeta a pessoa. Quanto maior a pontuação obtida, maior é o peso percebido pelo cuidar.
Utilizou-se também o SRQ (Self Report Questionnaire) desenvolvido por Harding, Arango, e Baltazar (1980) e validada no Brasil por Mari e Willians (1986), para identificação de sintomas psiquiátricos.
Verificou-se que os cuidadores que participaram dos quatro cursos já oferecidos, apresentaram uma pontuação alta na entrevista de Zarit et al. (1980). Uma alta porcentagem dos cuidadores (com exceção daqueles do primeiro curso, quando ainda não se utilizava essa escala) obteve uma pontuação acima do ponto de corte (Mari & Willians, 1986) no SRQ, indicando presença de sintomas psiquiátricos que se mantiveram os mesmos ou até aumentaram no final do programa com resultados semelhantes aos encontrados em pacientes internados em hospitais gerais (Lipowski, 1977; Smaira, 1999).
Diferenças entre os resultados do primeiro e os demais grupos podem ser atribuídas à composição dos mesmos. O primeiro caracterizou-se por ser composto de cuidadores de idosos com múltiplos diagnósticos clínicos, mas que não apresentavam sintomas de depressão e demência, e nem outros problemas comportamentais, o que sugere que a maior sobrecarga parece ser decorrente do enfrentamento desse tipo de problemas. Outros estudos que utilizaram a Zarit Burden Interview para avaliar cuidadores de idosos com demência e problemas comportamentais encontraram médias inferiores às obtidas no presente estudo, e também sugerem que os distúrbios comportamentais dos idosos tendem a aumentar a sobrecarga dos cuidadores (Arai et al., 1997; Hirono, Kobayashi, & Mori, 1998; Mangoni et al., 1993).
Uma análise específica dos ítens da escala de Zarit et al. (1980), indica uma diminuição da pontuação em alguns ítens, mas um aumento naqueles referentes à expressão e sentimentos, o que parece sugerir que, após o curso, as pessoas ou identificavam melhor seus sentimentos ou tinham "mais coragem" de expressá-los, talvez pela possibilidade de compartilhá-los com outras pessoas, num clima de acolhimento, identificação e ausência de críticas.
Relatos durante as reuniões do grupo sugerem que o peso sentido parece ser maior ou menor dependendo da qualidade da relação anterior com o idoso, da possibilidade de dividir o cuidado, da existência de apoio social e do maior ou menor comprometimento da autonomia do idoso, sendo a situação financeira um fator facilitador ou agravante da situação.
Estas observações sugerem novas direções para pesquisa na área, especialmente no sentido de se identificarem intervenções efetivas, de se padronizarem medidas para avaliação da sobrecarga, relacionando-as com medidas do prejuízo funcional e alterações comportamentais dos idosos, como sugerido por Thompson e Briggs (2000) numa revisão crítica dos programas para cuidadores de pessoas com demência tipo Alzheimer. Além disso propõe-se a necessidade de ampliação de programas como o relatado, além da necessidade de implementarem parcerias para a implantação de cuidados alternativos, tais como os preconizados pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos idosos, mas que ainda são muito escassos.
Relata-se ainda que a partir dessa experiência organizou-se uma Associação constituída por mulheres cuidadoras, que se articularam e constituíram uma parceria com a Universidade (por meio do CSE) e Prefeitura para o planejamento e instalação de um Centro-Dia para idosos da cidade de Botucatu, modelo pioneiro desse tipo de cuidado nesta cidade.
Cerqueira, A. T. A. R., & Oliveira, N. I. L. (2002). A Support Program for Caregivers: A Therapeutic and Preventive Action in the Health Care of the Elderly. Psicologia USP, 13 (1), 133-150.
Abstract: As a part of the elderly health care from the Health Center of Botucatu Medical School (UNESP São Paulo Brazil), a support program for caregivers has been made, with the following general aims: to preserve the caregivers quality of life and to improve conditions of family assistance for the patients. This program has a two-hour meeting once a week for 10 to 12 weeks, coordinated by two psychologists. Psychodramatic techniques are used, focusing on the caregivers role and its social and emotional consequences. Theoretical information is given through group discussions and audio-visual resources. Themes that are discussed include: motivation and meaning of caregiving; warning signals of physical and emotional tiredness of the caregivers; the elderly possibilities of taking care of themselves and asking for help; ways of improving the communication in case of visual, auditory or cognitive deficiencies; ways of favoring independence and autonomy; and ways to deal with problems related to hygiene, mobility, aggression, irritation, hallucinations and delusional ideas of the elderly. In the first meeting of each group (composed by 10 to 20 members), two scales are applied: a scale for evaluation of the emotional impact (burden) on the caregivers (Zarit et al., 1980) and the Self Report Questionnaire SRQ (Mari and Williams, 1986) which identifies possible psychiatric disorders. These scales are reapplied at the end of the program, in order to check possible changes. The obtained data indicate favorable changes in the expression of emotions, establishment of limits and a return to leisure activities.
Index terms: Elderly. Caregivers. Elder care. Health. Quality of life.
Cerqueira, A. T. A. R., & Oliveira, N. I. L. (2002). Un Programme d'appui aux Soignants des Personnes Âgées: Une Action Thérapeutique et Préventive Dans les Soins de Santé aux Personnes Âgées. Psicologia USP, 13 (1), 133-150.
Resume: Dans le cadre du service de gériatrie du Centre de Santé-école de la faculté de médecine de Botucatu (Université de Sao Paulo), a été établi un programme d'appui à ces soignants avec les objectifs suivants: préserver leur qualité de vie et favoriser de meilleures conditions familiales aux patients. Le programme comprend de 10 à 12 réunions par semaine, de deux heures de durée, coordonnées par deux psychologues. On utilise des techniques de psychodrame centrées sur le rôle du soignant et leurs conséquences sociales et émotionnelles. Les informations théoriques sont transmises au moyen de discussions de groupe et de moyens audiovisuels. Les thèmes suivants sont abordés : signification et motivation du soin donné, signaux d'alertes de fatigue physique et mentale du soignant, les possibilités de se traiter et de demander de l'aide, une méthode d'amélioration de la communication face à une déficience visuelle, auditive et cognitive, une méthode pour favoriser l'indépendance et l'autonomie et surmonter les problèmes relatifs à l'hygiène, la mobilité, l'agression, l'irritation, les hallucinations et les idées délirantes de la personne âgée. Au cours de la première réunion de chaque groupe (qui comprend de 10 à 20 participants) on applique une échelle d'évaluation de l'impact émotionnel sur les soignants (Zarit et al., 1980) et le SRQ (Self Report Questionnaire - Mari and Williams, 1986) qui identifient des désordres psychiatriques. Ces échelles sont reproduites à la fin du programme, pour observer d'éventuelles modifications. Les données obtenues indiquent des changements favorables dans l'expression d'émotions, l'établissement de limites et de retour à des activités de loisirs.
Mots-clés: Personnes âgées. Soignants. Soins aux personnes âgées. Santé. Qualité de vie.
Recebido em 17.12.2001
Aceito em 5.02.2002
2 Este programa passou a ser denominado no CSE de "Curso para Cuidadores de idosos".
- Arai, Y., Kudo, K., Kosokawa, T., Washio, M., Miura, H., & Hisamichi, S. (1997). Reliability and validity of the Japanese version of the Zarit Caregiver Burden Interview. Psychiatry Clinical Neuroscience, 51 (5), 281-287.
- Berquo, E. (1992). Envelhecimento populacional no Brasil e suas conseqüências. In D. M. Pereira (Org.), Idoso: Encargo ou patrimônio? (pp. 51-59). São Paulo: Corpo Municipal de Voluntários.
- Gatz, M., Bengtson, V. L., & Blum, M. G. (1991). Caregiving families. In J. E. Birren & K. W. Shaie (Eds.), Handbook of the psychology of aging (3rd ed., pp. 405-426). San Diego, CA: Academic Press.
- George, L. K., & Gwyther, L. P. (1986). Caregiver well-being: A multidimensional examination of family caregivers of demented adults. The Gerontologist, 26, 253-259.
- Grinblat, J. (1982). Aging in the world: demographic determinants, past trendes and long-term perspective to 2075. World Health Statistics Quarterly, 35 (3/4), 124-132.
- Harding, T. W., Arango, M. V., & Baltazar, J. (1980). Mental disorders in primary health care: A study of their frequency and diagnosis in four developing countries. Psychological Medicina, 10, 231-241.
- Hirono, M., Kobayashi, H., & Mori, E. (1998). Caregiver burden in dementia: Evaluation with a Japanese version of Zarit Caregiver Burden Interview. No To Shinkei, 50 (6), 56l-567.
- Lipowski, Z. J. (1977). Consultation-liaison psychiatry: An overview. American Journal of Psychiatry, 134 (3), 233-244.
- Mangone, C. A., Sanguinetti, R. M., Baumann, P. D., Gonzalez, R. C., Pereyra, S., Bozzola, F. G., Gorelick, P. B., & Sica, R. E. (1993). Influence of feelings of burden on caregivers perception of the patients functional status. Dementia, 4 (5), 287-293.
- Mari, J., & Willians, P. A. (1986). A validity study of a psychiatric screening questionnaire (SRQ-20) in primary care in city of São Paulo. British Journal of Psychiatry, 148, 23-26.
- Ministério da Saúde. (2000). Política nacional de atenção à saúde dos idosos Documento disponível no site do Ministério da Saúde, Brasil: http://www.saúde.gov.br
- Oliveira, N. I. L., Christovan, J. C., Mirara, T. H., & Ramos-Cerqueira, A. T. A. (1996). Perfil socio-demográfico de pacientes idosos do centro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP. In Anais da IX Jornada de Geriatria e Gerontologia. Botucatu, SP:UNESP.
- Ramos, L. R. (1992). Envelhecimento populacional: um desafio à saúde pública. In D. M. Pereira (Org.), Idoso: Encargo ou patrimônio? (pp. 60-72). São Paulo: Corpo Municipal de Voluntários.
- Smaira, S. (1999). Transtornos psiquiátricos e solicitações de interconsulta psiquiátrica em Hospital geral: Um estudo de casocontrole Tese de Doutorado, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
- Thompson, C., & Briggs, M. (2000). Support for carers of people with Alzheimers type dementia. Cochrane Database System Review . CD000454.
- Trocóniz, M. I. F.; Cerrato, I. M., & Veiga, P. D. (1997). Quando las personas mayores necesitam ayuda: Guia para cuidadores y familiares (2 vols.). Madird: España: Mistério de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO.
- World Health Organization. (1994). Ayuda para cuidadores de personas com demencia Department of Change and Mental Health. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (1997). World Health Report
- Zarit, S. H. (1994). Research perspective on family caregiving. In M. Cantor (Ed.), Family caregiving: Agenda for the future (pp. 9-24). San Francisco, CA: American Society for Aging.
- Zarit, S. H. (1997). Interventions with family caregivers. In S. H. Zarit & B. G. Knight (Eds.), A guide to Psychotherapy and Aging (pp. 139-159). Washington, DC: American Psychological Association.
- Zarit, S. H., Reever, K. E., & Back-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. The Gerontologist, 20, 649-655.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Set 2002 -
Data do Fascículo
2002
Histórico
-
Aceito
05 Fev 2002 -
Recebido
17 Dez 2001