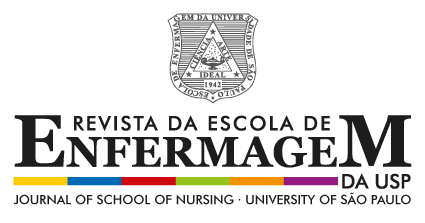Resumos
Objetivo
Identificar a vulnerabilidade programática às DST/HIV/aids na Atenção Básica para o enfrentamento do HIV/Aids.
Método
Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no Município de São Paulo (MSP). Utilizou-se formulário online (FormSUS), com gerentes das 442 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do MSP. Participaram do estudo 74,2% gerentes, dos quais 53,6% eram enfermeiros.
Resultados
Destaca-se a vulnerabilidade programática nas UBS com relação a alguns itens de infraestrutura, ações de prevenção, de tratamento, no pré-natal e de integração entre os serviços na atenção às DST/HIV/aids.
Conclusão
Para a efetivação da integralidade no enfrentamento do HIV/aids na Atenção Básica é necessário atentar para a vulnerabilidade programática, além de mais investimentos e reorganização dos serviços, num diálogo com os atores sociais envolvidos (usuários, equipe multiprofissional, gerentes, gestores, entre outros).
Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome da imunodeficiência adquirida; Vulnerabilidade em saúde; Integralidade em saúde; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem em saúde pública
This study aimed to identify programmatic vulnerability to STDs/HIV/AIDS in primary health centers (PHCs). This is a descrip - tive and quantitative study carried out in the city of São Paulo. An online survey was applied (FormSUS platform), involving administrators from 442 PHCs in the city, with responses received from 328 of them (74.2%), of which 53.6% were nurses. At - tention was raised in relation to program - matic vulnerability in the PHCs regarding certain items of infrastructure, prevention, treatment, prenatal care and integration among services on STDs/HIV/AIDS care. It was concluded that in order to reach comprehensiveness of actions for HIV/ AIDS in primary health care, it is necessary to consider programmatic vulnerability, in addition to more investment and reor - ganization of services in a dialogue with the stakeholders (users, multidisciplinary teams, and managers, among others).
Sexually transmitted diseases; Acquired immunodeficiency syndrome; Health vulnerability; Comprehensiveness in health; Primary health care; Public health nursing
Objetivo
Fue identificar la vulnerabilidad programática de las Unidades Básicas de Salud con la atención a las ETS/VIH/SIDA.
Método
Es un estudio descriptivo con un abordaje cuantitativo llevado a cabo en el Municipio de San Pablo. Fue utilizado un formulario online (el FormSUS) con los gerentes de las 442 Unidades Básicas de Salud del Municipio de San Pablo. Participaran en el estudio 74.2% de los gerentes, estos 53.6% eran enfermeros.
Resultados
Se destaca la vulnerabilidad programática de las Unidades Básicas de Salud en relación a algunos elementos de la infraestructura, acciones de prevención, tratamiento, prenatal y la integración entre los servicios en la atención a las ETS/VIH/SIDA.
Conclusión
La construcción de tales marcadores constituye un instrumento, presentado en otro artículo, el cual puede ayudar a apoyar la captura de vulnerabilidades de las mujeres en relación a las ETS/VIH en el contexto de los servicios de Atención Primaria de Salud. Los marcadores constituyen importante herramienta para operacionalizar el concepto de vulnerabilidad en la Atención Primaria. Además, promueven procesos de trabajo inter e multidisciplinar e inter e multisectorial. La propuesta de un instrumento basado en dichos marcadores puede apoyar la captura de la vulnerabilidad de las mujeres en relación a las ETS/VIH.
Enfermedades de transmisión sexual; Síndrome de inmunodeficiencia adquirida; Vulnerabilidad en salud; Integralidad en salud; Atención Primaria de Salud; Enfermería en salud pública
Introdução
Em 2014, completaram-se 33 anos que cientistas nos Estados Unidos relataram a primeira ocorrência de uma doença que mais tarde ficou conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida (aids).
No Município de São Paulo, no período de 1980 a junho de 2012, foram notificados 81.300 casos de aids, 58.554 no sexo masculino e 22.746 casos em mulheres(101 Boletim Epidemiológico de AIDS, HIV e DST do Município de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde, São Paulo. 2012;15(16)). A incidência de aids vem diminuindo desde 1997, como consequência da introdução da Terapia Antirretroviral Altamente Eficaz (HAART) desde 1996, reduzindo a carga viral dos portadores de aids e contribuindo a redução da transmissão do vírus(202 Boletim Epidemiológico de AIDS, HIV/DST e Hepatites B e C do Município de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde, São Paulo. 2011;15(14)). A despeito desse relativo controle, um dos desafios no enfrentamento do HIV/aids é a ampliação das ações de prevenção e de diagnóstico precoce nos serviços de saúde. No Brasil, no enfrentamento da epidemia, são implementadas ações descentralizadas de prevenção, antes restritas aos serviços de referência, para as Unidades Básicas da Saúde (UBS) da Atenção Básica. A Atenção Básica tem desenvolvido ações voltadas ao enfrentamento do HIV/aids em diferentes graus e qualidade e persistem grandes desafios para o seu aprimoramento. Entre esses, encontra-se a ampliação do diagnóstico precoce, pois mais da metade das confirmações da doença é feita quando já existe deterioração imunológica. Além desse problema, outros relacionados ao tratamento prolongado são destacados, como a falta de adesão ao tratamento com ARV, que pode levar à resistência do vírus aos medicamentos e mesmo à falência do tratamento em muitos casos. Outro enfrentamento da epidemia diz respeito à melhoria da resposta à coinfecção tuberculose/HIV e à necessidade de integração dos serviços de saúde(303 Paula IA, Guibu IA. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretária de Estado da Saúde; 2007).
Consideradas espaço privilegiado de atenção, seja na forma tradicional de organização das UBS, seja como Estratégia Saúde da Família (ESF), as UBS fortalecem a integralidade do cuidado(404 Brêtas ACP, Pereira AL. Gestão em unidades básicas de saúde. In: Harada MJCS, organizador. Gestão em enfermagem: ferramenta para prática segura. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2011. p. 377-83). Entretanto, esse é exatamente um dos grandes desafios do enfrentamento das DST/HIV/aids: sua efetivação na Atenção Básica.
A integralidade traz em seus sentidos um conjunto de características, tanto do sistema de saúde, das suas instituições e da organização das práticas, quanto o desafio da construção da justiça, da democracia e da efetividade do acesso à saúde por meio de tecnologias de diferentes densidades, saberes e práticas, de acordo com as necessidades de cada um, de forma solidária(505 Mattos RA. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª ed. Rio de Janeiro: CEPESC/ IMS/UERJ/ABRASCO; 2009. p. 43-68).
A integralidade no sentido de organizar as práticas busca romper com a divisão entre a saúde pública e a assistência médica, entre as ações de prevenção e as de recuperação (curativas) da saúde, para que necessidades dos usuários não sejam reduzidas ao conhecimento técnico do profissional de saúde(505 Mattos RA. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª ed. Rio de Janeiro: CEPESC/ IMS/UERJ/ABRASCO; 2009. p. 43-68).
O princípio da integralidade na organização dos serviços na Atenção Básica exige práticas de saúde horizontais dos programas antes verticais. Porém, as equipes das unidades de saúde pautam o atendimento não mais no enfoque médico e em programas específicos do Ministério da Saúde, e sim no enfoque epidemiológico, ou seja, da oferta de serviços para responder exclusivamente às doenças de uma população(505 Mattos RA. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª ed. Rio de Janeiro: CEPESC/ IMS/UERJ/ABRASCO; 2009. p. 43-68).
Em face da trajetória percorrida pelo MSP no enfrentamento do HIV/aids e o desconhecimento sobre como as UBS estão organizadas na atenção em HIV/Aids, este estudo elegeu como objetivo identificar marcadores de Vulnerabilidade Programática (VP) às DST/HIV/aids na Atenção Básica no MSP para o enfrentamento do HIV/aids.
Método
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório que toma como referência o
conceito de vulnerabilidade, em seu âmbito programático(606 Mann J, Tarantola DJM, Netter T. Como avaliar a vulnerabilidade à
infecção pelo HIV e aids. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; 1993. A Aids no mundo;
p. 275-300-707 Nichiata LYI, Bertolozzi MR, Gryschek ALFPL, Araújo NVDL, Barbosa
MCPF, Ciosak SI, et al. The potential of the concept of vulnerability in
understanding transmissible diseases. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2011 [cited
2012 Feb 07];45(n.spe 2):1769-73. Available from:
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45nspe2/en_23.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45nspe2...
), ou seja, as condições de estrutura, dinâmica,
organização e operacionalização das ações para o enfrentamento do HIV/aids,
neste caso nos serviços da Atenção Básica.
O conceito de vulnerabilidade compreende um conjunto de contextos coletivos interconectados que possibilitam maior exposição ou menor proteção ao HIV/aids. Diferencia-se do conceito de risco, central nos estudos em epidemiologia. A operacionalização da vulnerabilidade possibilita um modo de avaliar objetiva, ética e politicamente as condições de vida que tornam indivíduos e grupos expostos ao problema e os elementos que favorecem a construção de alternativas reais para o seu enfrentamento. Compreende-se que o adoecimento de uma pessoa é determinado por um conjunto de condições que não se limita apenas ao seu comportamento e aos aspectos biológicos da infecção. Essa pessoa está inserida num contexto sociopolítico-cultural-econômico e de oferta de serviços de saúde que podem fortalecer ou não uma proteção contra a doença(808 Nichiata LYI, Bertolozzi MR, Takahashi RF, Fracolli LA. The use of the “vulnerability” concept in the nursing area. Rev Latino Am Enferm. 2008;16(5):129-35-909 Ayres JRCM, Paiva V, França Junior I. From natural history of disease to vulnerability: changing concepts and practices in contemporary public health. In: Parker P, Sommer M, organizadores. Routledge handbook in global public health. Abingon: Oxon: Taylor & Francis; 2011. p. 98-107).
Os gerentes das UBS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP) foram
os sujeitos do estudo. O instrumento usado na coleta dos dados baseou-se em dois
formulários: um denominado Monitoramento dos Processos de
Descentralização das Ações em DST/aids na Atenção Básica,
desenvolvido pelo Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - SP da Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo(1010 São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Saúde; Centro de
Referência e Treinamento em DST/AIDS. Programa Estadual DST/Aids. Monitoramento
da Atenção Básica [Internet]. São Paulo; 2011 [citado 2012 fev. 07]. Disponível
em:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=2557
http://formsus.datasus.gov.br/site/formu...
), e o segundo na Avaliação para Melhoria da Qualidade da
Estratégia Saúde da Família (AMQ)(1111 Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e
Qualidade da Atenção Básica: AMAQ-AB [Internet]. Brasília; 2012 [citado 2012
jul. 22]. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/sistemas/amaq/
http://dab.saude.gov.br/sistemas/amaq/...
).
Foi criado na plataforma do FormSUS um formulário online com 51 questões, enviado aos gerentes de 442 UBS, no período de abril a setembro de 2011. A análise da integralidade na atenção ao HIV/aids nas UBS foi norteada por cinco marcadores de Vulnerabilidade Programática: a) Infraestrutura para realização das ações de prevenção e assistência em DST/HIV/aids, composto por 16 itens; b) Respostas às necessidades de tratamento em DST/HIV/aids, composto por sete itens; c) Ações de pré-natal e puerpério em relação a atenção às DST/HIV/aids, composto por 11 itens; d) Ações de prevenção em relação às DST/HIV/aids, composto por 10 itens; e e) Integração das ações entre UBS, CRT/SAE em HIV/DST/aids e maternidade, composto por 8 itens(1212 Val LF, Nichiata LYI. A integralidade na atenção às DST/HIV/AIDS: a vulnerabilidade programática em unidades de saúde. Saarbrücken, Alemanha: Novas Edições Acadêmicas; 2014).
As respostas foram classificadas como ATENDE e NÃO ATENDE aos itens de acordo as preconizações e recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde, atribuindo-lhes, respectivamente, valores de 1 e 0. Considerou-se um corte percentual abaixo de 80% para cada item analisado.
Na análise utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 19. Os dados foram apresentados descritivamente em tabelas e gráficos contendo frequência absoluta (nº) e relativa (%).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem (EEUSP), processo nº 783/2006, e pelo CEP da SMS de São Paulo, com o parecer nº 366/2009, CAAE 0174.0162.000-09.
Resultados
Participaram do estudo 328 (74,2%) gerentes das UBS do Município de São Paulo; destes, 176 (53,6%) eram enfermeiros.
Apesar de as UBS do estudo atenderem à maioria dos itens avaliados, foi possível identificar Vulnerabilidade Programática na Atenção Básica às DST/HIV/aids (Tabela 1).
Distribuição dos Marcadores de Vulnerabilidade Programática e respostas afirmativas aos itens – Município de São Paulo, SP, 2012
Na Tabela 1, no conjunto do marcador de Infraestrutura para realização das ações de prevenção e assistência em DST/HIV/aids, identificou-se que há 86 (26,2%) UBS que não têm disponíveis materiais básicos para atividade educativa e 74 (22,6%) que não possuem disponíveis de forma regular insumos de contracepção e prevenção, como o Dispositivo Intrauterino (DIU).
No marcador de Respostas às necessidades de tratamento em DST/HIV/aids, 115 (35,1%) UBS não indicam tratamento, com Penicilina Benzatina, do parceiro da gestante com diagnóstico de sífilis, sem pedido ou resultado de exame, contrariamente ao que é preconizado.
Nas Ações de pré-natal e puerpério em relação à atenção às DST/HIV/aids, destaca-se que 125 (38,1%) UBS não oferecem teste de detecção de sífilis à gestante no primeiro e terceiro trimestres da gestação, 108 (32,9%) não fazem teste de detecção de HIV no pré-natal, 72 (22%) não realizam a abordagem consentida para solicitação de teste para HIV à gestante e em 209 (63,7%) a comunicação do diagnóstico de HIV à gestante não é realizada por equipe multiprofissional.
No conjunto do marcador Ações de prevenção em relação às DST/HIV/aids, falta capacitação dos profissionais, em 160 (48,8%) UBS para o atendimento por abordagem sindrômica e em 209 (63,7%) para realizar o aconselhamento na oferta do teste do HIV. Em 146 (44,5%) UBS não é a equipe multiprofissional que faz o preenchimento da notificação de exame positivo para detecção de sífilis. Não é realizado o aconselhamento para o exame de HIV em 293 (89,3%) UBS; em 202 (61,6%) UBS o tempo médio para o retorno do resultado do exame do HIV positivo é maior que sete dias; e em 77 (23,5%) UBS não se realiza abordagem consentida ao pedir o exame do HIV.
Dentre os marcadores, o que trata da Integração das ações entre UBS, CRT/SAE em HIV/DST/aids e maternidade, que pressupõe comunicação da Atenção Básica com outras Unidades, sejam elas de referência para a assistência em HIV/AIDS, sejam de vigilância, foi aquele em que houve menor percentual de UBS que afirmou realizar ações nesses aspectos. Inexiste o retorno das informações à unidade, após o encaminhamento das gestantes às referências DST/aids em 104 (31,7%) e 89 (27,1%) UBS sobre o parto, inexistindo fluxo de referência/contrarreferência dos pacientes encaminhados à especialidade em DST/aids em 235 (71,9%) UBS.
Discussão
Ao analisar a vulnerabilidade programática nas UBS do município de São Paulo, chama a atenção que em grande parte delas é o enfermeiro o seu gerente. Historicamente, o enfermeiro tem ocupado cargos de chefia e coordenação de unidades ou áreas de trabalho e da equipe de enfermagem no País(1313 Alves M, Penna CMM, Brito MJM. Perfil dos gerentes de unidades básicas de saúde. Rev Bras Enferm. 2004;57(4):441-6). O enfermeiro nas UBS possui na gerência um importante instrumento com potencialidade para promover na equipe multidisciplinar um processo de reflexão e revisão de sua prática, para (re)organização do serviço, com comprometimento na produção de cuidados de saúde, e não no simples cumprimento de ações fragmentadas ou em procedimentos isolados(1414 Kawata LS, Mishima SM, Chirelli MQ, Pereira MJB. O trabalho cotidiano da enfermeira na saúde da família: utilização de ferramentas da gestão. Texto Contexto Enferm. 2009;18(2):313-20).
Com o SUS e, consequentemente, com a descentralização dos serviços de saúde (as decisões estão mais próximas dos níveis locais e dos usuários dos serviços), há necessidade de um perfil de gerente da UBS com novos conhecimentos e habilidades(1313 Alves M, Penna CMM, Brito MJM. Perfil dos gerentes de unidades básicas de saúde. Rev Bras Enferm. 2004;57(4):441-6). A integralidade como norteadora da atividade gerencial, provocadora de mudanças no modelo assistencial médico hegemônico, deve ser construída no diálogo entre a formação e o mundo do trabalho, na construção do conhecimento, na relação da teoria com a prática e na busca da reflexão na ação(1414 Kawata LS, Mishima SM, Chirelli MQ, Pereira MJB. O trabalho cotidiano da enfermeira na saúde da família: utilização de ferramentas da gestão. Texto Contexto Enferm. 2009;18(2):313-20).
No âmbito da organização das práticas na atenção às DST/HIV/aids nas UBS, o gerente e a equipe multidisciplinar podem ser agenciadores de mudança para realizar a integralidade. A integralidade na saúde concebida como um feixe de luz(1515 Santos AM, Assis MMA. Da fragmentação à integralidade: construindo e (des) construindo a prática de saúde bucal no Programa de Saúde da Família (PSF) de Alagoinhas, BA. Ciênc Saúde Coletiva. 2006;11(1):53-61), sujeita aos mesmos fenômenos da física, com propriedade de reflexão, refração ou absorção, interpreta que os agenciadores, quando sofrem uma reflexão, voltam para o ponto de origem ao tentar transpor obstáculos. Dessa forma, num segundo momento, rompem alguns entraves, atravessam espaços, ainda que sofram algum coeficiente de refração e desvios. Os agenciadores da integralidade romperiam dessa forma as barreiras, ao construir novas formas de fazer/agir na prática cotidiana.
O enfermeiro sendo gerente e a equipe multidisciplinar sendo agenciadores de mudança, ao buscar implementar ações de prevenção e assistência em DST/HIV/aids, respondem às necessidades de tratamento, desenvolvem ações de pré-natal e puerpério em relação à atenção às DST e integram ações com as referências em DST/HIV/aids. Mesmo que em algum momento tenham dificuldades em transpor obstáculos, traduzidos nas dificuldades identificadas como VP, esses agenciadores de mudança, iluminados pela integralidade, são potentes para construir novas formas de fazer/agir na prática cotidiana dos serviços. Dessa forma, novos arranjos institucionais podem ser produzidos, focados no usuário, ao considerar suas vulnerabilidades, potencialidades e respeitar o direito do cidadão, conforme preconiza o princípio de integralidade.
A análise dos marcadores de VP na atenção ao HIV/aids nas UBS da SMS de São Paulo demonstrou desafios a serem superados. É importante frisar que no conceito da VP está contido o sentido de que há potência para superação das condições que levam à vulnerabilidade; de tal forma, dialeticamente está posta a relação vulnerabilidade/emancipação. Há vulnerabilidade na medida em que há condições de enfrentamento de dada condição.
Em relação ao marcador Infraestrutura para Realização das Ações de Prevenção em DST/HIV/aids, o estudo mostrou que há insuficiência de materiais educativos e outros insumos de prevenção como o DIU nas UBS pesquisadas, problema este identificado em outros estudos(1616 Souza FO. Avaliação normativa das ações de testagem e aconselhamento para HIV em Unidades Básicas do Município de Manaus/AM [dissertação]. Manaus: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz; 2006-1717 Ferraz DAS. Avaliação da implantação das ações de prevenção das DST/aids numa Unidade de Saúde da Família [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008).
Nas Respostas às Necessidades de Tratamento das DST/HIV/aids destaca-se que a maior parte das UBS não realiza o tratamento com penicilina benzatina do(s) parceiro(s) da gestante com diagnóstico de sífilis, mesmo sem o resultado do exame laboratorial, como indicado pela Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011(1818 Bersusa AAS, Gonçalves DA, Guibu IA, Paula IA. Entendendo a realidade dos serviços: análise dos resultados. In: Paula IA, Guibu IA, organizadores. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde; 2007. p. 34-50-1919 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2011. Seção 1, p. 54).
Sabe-se que um obstáculo para a eliminação da sífilis congênita é a dificuldade
de tratar o(s) parceiro(s) da gestante que têm a doença diagnosticada. No Estado
de São Paulo, estima-se que apenas 14% dos parceiros das gestantes com sífilis
são adequadamente tratados, o que indica problemas em relação à qualidade do
atendimento pré-natal(2020 São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Saúde; Centro de
Referência e Treinamento DST/AIDS. Programa Estadual DST/Aids. Implantação do
pré-natal do homem [Internet]. São Paulo; 2012 [citado 2014 mar. 13]. Disponível
em:
http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/acoes-programaticas/implantacao-do-pre-natal-do-homem
http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-ref...
).
No marcador Ações de pré-natal e puerpério em relação à atenção às DST/HIV/aids verificou-se que existem desafios a serem superados, principalmente com relação à oferta do teste de detecção da sífilis no primeiro e terceiro trimestres da gestação e do teste anti-HIV.
De fato, esse é um problema em várias localidades. No estudo Resultados do estudo sentinela-parturiente(2121 Szwarcwald CL, Barbosa Junior A, Miranda AE, Paz LC. Resultados do Estudo Sentinela-parturiente, 2006: desafios para o controle da sífilis congênita no Brasil. DST J Bras Doenças Sex Transm. 2007;19(3-4):128-33),verificou-se que apenas 14,1% das parturientes atendidas em 150 maternidades do SUS realizaram dois testes de sífilis durante a gestação, conforme preconizado, e que há baixa cobertura do segundo teste de sífilis no pré-natal, o que mostra que as recomendações do MS não são seguidas.
Na cobertura do teste anti-HIV durante a gestação, em entrevista com 435 mulheres de cinco municípios do Noroeste do Paraná, Brasil, a cobertura foi de 89,6%(2222 Misuta NM, Soares DA, Souza RKT, Matsuo T, Andrade SM. Sorologia anti-HIV e aconselhamento pré-teste em gestantes na região noroeste do Paraná, Brasil. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2008;8(2):197-205), o que ainda está distante do ideal, que é 100% de cobertura. Em outro estudo o resultado foi de apenas 48,4% de cobertura em gestantes em cinco UBS da Família do município de Cuité, Paraíba, Brasil(2323 Matos SD, Baptista RS, França ISX, Medeiros FAL, Brito VRS. Conhecimento das gestantes atendidas nos serviços de pré-natal acerca do teste anti - HIV. Rev RENE. 2009;10(2):122-30).
Outro desafio é o aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV ser realizado às gestantes por membros de equipe multiprofissional. O aconselhamento precisa ser feito com o sentido de humanização, no momento de comunicar a informação sobre o resultado, qualquer que seja ele, negativo ou positivo. Num estudo efetuado com enfermeiros em consultas de pré-natal em três unidades ESF, Fortaleza, Ceará, discute-se que na atenção prevalece o relacionamento entre profissional e usuário o EU-ISSO, ou seja, uma relação sujeito-objeto, em vez do EU-TU, sujeito-sujeito. Isso acontece devido à exigência do trabalho em termos de produtividade, medida de forma quantitativa, de tal forma que as consultas são realizadas rápida e mecanicamente, sem oferecer uma assistência humanizada(2424 Araújo MAL, Farias FLR, Rodrigues AVB. Aconselhamento pós-teste anti-HIV: análise a luz de uma teoria humanística de Enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2006;10(3):425-31).
No MSP, qualquer profissional capacitado para o aconselhamento pode solicitar o exame para o HIV e sífilis (Portaria nº 2.703, de 20 de dezembro de 2003)(2525 São Paulo (Cidade). Secretaria Municipal da Saúde. Programa Municipal de DST/AIDS de São Paulo. Eliminação da transmissão vertical do HIV/aids e da sífilis. São Paulo; 2010). No entanto, algumas UBS do Município ainda não a incorporaram em sua prática, de tal forma que os testes são realizados sem a devida abordagem.
A testagem tem aumentado no País, mas sem oferta do aconselhamento, sem a devida atenção à decisão autônoma das pessoas, com desigualdades decorrentes de nível de escolaridade, região e raça(2626 Paiva V, Pupo LR, Barbosa R. O direito à prevenção e os desafios da redução da vulnerabilidade ao HIV no Brasil. Rev Saúde Pública. 2006;40 Supl:109-19).
No marcador Ações de prevenção em relação às DST/HIV/aids evidenciou-se como um grande desafio o retorno do resultado do exame HIV não ultrapassar sete dias. Segundo gerentes de UBS em 30 municípios do Estado de São Paulo, em 28,1% (n = 305) das UBS há demora no retorno dos resultados do exame de sífilis, HIV e hepatite B em torno de 15 dias; em 7,1% (n = 263) em torno de 16 a 30 dias; e em 3,2% (n = 340) mais de 31 dias(1818 Bersusa AAS, Gonçalves DA, Guibu IA, Paula IA. Entendendo a realidade dos serviços: análise dos resultados. In: Paula IA, Guibu IA, organizadores. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde; 2007. p. 34-50).
Os laboratórios possuem questões complexas que dificultam o fluxo de atendimento dos usuários das UBS, como: a falta de regulação e fiscalização dos laboratórios terceirizados, fragmentação dos tipos de exames entre vários laboratórios, a realização de exames sujeitos à capacidade operacional dos kits, a restrição de cotas para realização dos exames, entre outras(1818 Bersusa AAS, Gonçalves DA, Guibu IA, Paula IA. Entendendo a realidade dos serviços: análise dos resultados. In: Paula IA, Guibu IA, organizadores. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde; 2007. p. 34-50).
Em Integração das Ações entre UBS, SAE em HIV/DST/aids e maternidade encontra-se um dos pontos críticos a ser enfrentado, que trata do fluxo de referência e contrarreferência das UBS para os demais pontos da rede de atenção, indicativo de que há fragmentação da atenção à saúde. Outros estudos têm apontado que o sistema de referência e contrarreferência é um problema para a equipe multiprofissional, independentemente do nível de assistência (primário, secundário e terciário), ou do evento ou doença envolvidos, desde meados da década de 1980(27- 28).
A integralidade da atenção não tem se concretizado, pois a descentralização e a regionalização não têm possibilitado processos de integração dos serviços nos diferentes níveis de atenção para formação de redes de assistência. Existe desproporção do número de UBS com o número de habitantes; há insuficiências na rede de serviços nos níveis secundário, terciário e de recursos humanos; despreparo dos profissionais para atividades que exigem qualificação específica, dificuldades operacionais dos sistemas de informação, entre outros, o que resulta em fragmentação dos recursos e distanciamento na atenção das necessidades de saúde da população(2929 Saito RXS. Integralidade a perspectiva da integração dos serviços para formação de redes de atenção: estudo de caso em uma região de saúde do município de São Paulo, Brasil [tese doutorado]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2010).
A integralidade requer que as UBS estejam articuladas com outros serviços de saúde para oferecer todos os tipos de serviços de atenção à saúde (incluindo os encaminhamentos para outros serviços), esclarecendo sua responsabilidade tanto para o usuário quanto para a equipe. Esta, além de saber identificar os problemas do usuário (funcionais, orgânicos e sociais), deve oferecer e reconhecer a necessidade de serviços preventivos e assistenciais(3030 Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO/Ministério da Saúde; 2002).
Conclusão
O estudo alcançou seu objetivo ao identificar marcadores de Vulnerabilidade Programática (VP) às DST/HIV/aids na Atenção Básica no MSP. Além disso, identificou que a maioria dos gerentes das UBS são enfermeiros e, portanto, o quanto é importante esse profissional unir conhecimento científico, competência política e sentido ético do cuidado para gerir com qualidade as UBS para o enfrentamento do HIV/aids.
Para a efetivação da integralidade na atenção às DST/HIV/aids na Atenção Básica é fundamental mais investimentos e reorganizar os serviços, ao levar em conta as VP, num diálogo com os atores sociais envolvidos (usuários, equipe multiprofissional, gerentes, gestores, entre outros).
Os avanços tecnológicos, principalmente em relação ao tratamento das DST/HIV/aids, não substituem a busca pela melhoria das ações no âmbito programático na Atenção Básica; ao contrário, reforçam a necessidade de que sejam apropriadas por esse ponto da atenção no sentido de sua centralidade no território em coordenação conjunta com os demais pontos da rede de serviços.
-
*
Extraído do trabalho "Vulnerabilidade ao HIV/aids: contribuição da pesquisa-ação no aprimoramento das ações de prevenção na Atenção Básica", 1ª Mostra de Trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, 2013
Agradecimentos
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão da bolsa de doutorado e pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa (Processo FAPESP 2009/14346-0)
References
-
01Boletim Epidemiológico de AIDS, HIV e DST do Município de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde, São Paulo. 2012;15(16)
-
02Boletim Epidemiológico de AIDS, HIV/DST e Hepatites B e C do Município de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde, São Paulo. 2011;15(14)
-
03Paula IA, Guibu IA. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretária de Estado da Saúde; 2007
-
04Brêtas ACP, Pereira AL. Gestão em unidades básicas de saúde. In: Harada MJCS, organizador. Gestão em enfermagem: ferramenta para prática segura. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2011. p. 377-83
-
05Mattos RA. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª ed. Rio de Janeiro: CEPESC/ IMS/UERJ/ABRASCO; 2009. p. 43-68
-
06Mann J, Tarantola DJM, Netter T. Como avaliar a vulnerabilidade à infecção pelo HIV e aids. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; 1993. A Aids no mundo; p. 275-300
-
07Nichiata LYI, Bertolozzi MR, Gryschek ALFPL, Araújo NVDL, Barbosa MCPF, Ciosak SI, et al. The potential of the concept of vulnerability in understanding transmissible diseases. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2011 [cited 2012 Feb 07];45(n.spe 2):1769-73. Available from: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45nspe2/en_23.pdf
» http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45nspe2/en_23.pdf -
08Nichiata LYI, Bertolozzi MR, Takahashi RF, Fracolli LA. The use of the “vulnerability” concept in the nursing area. Rev Latino Am Enferm. 2008;16(5):129-35
-
09Ayres JRCM, Paiva V, França Junior I. From natural history of disease to vulnerability: changing concepts and practices in contemporary public health. In: Parker P, Sommer M, organizadores. Routledge handbook in global public health. Abingon: Oxon: Taylor & Francis; 2011. p. 98-107
-
10São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Saúde; Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Programa Estadual DST/Aids. Monitoramento da Atenção Básica [Internet]. São Paulo; 2011 [citado 2012 fev. 07]. Disponível em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=2557
» http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=2557 -
11Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica: AMAQ-AB [Internet]. Brasília; 2012 [citado 2012 jul. 22]. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/sistemas/amaq/
» http://dab.saude.gov.br/sistemas/amaq/ -
12Val LF, Nichiata LYI. A integralidade na atenção às DST/HIV/AIDS: a vulnerabilidade programática em unidades de saúde. Saarbrücken, Alemanha: Novas Edições Acadêmicas; 2014
-
13Alves M, Penna CMM, Brito MJM. Perfil dos gerentes de unidades básicas de saúde. Rev Bras Enferm. 2004;57(4):441-6
-
14Kawata LS, Mishima SM, Chirelli MQ, Pereira MJB. O trabalho cotidiano da enfermeira na saúde da família: utilização de ferramentas da gestão. Texto Contexto Enferm. 2009;18(2):313-20
-
15Santos AM, Assis MMA. Da fragmentação à integralidade: construindo e (des) construindo a prática de saúde bucal no Programa de Saúde da Família (PSF) de Alagoinhas, BA. Ciênc Saúde Coletiva. 2006;11(1):53-61
-
16Souza FO. Avaliação normativa das ações de testagem e aconselhamento para HIV em Unidades Básicas do Município de Manaus/AM [dissertação]. Manaus: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz; 2006
-
17Ferraz DAS. Avaliação da implantação das ações de prevenção das DST/aids numa Unidade de Saúde da Família [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008
-
18Bersusa AAS, Gonçalves DA, Guibu IA, Paula IA. Entendendo a realidade dos serviços: análise dos resultados. In: Paula IA, Guibu IA, organizadores. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde; 2007. p. 34-50
-
19Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2011. Seção 1, p. 54
-
20São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Saúde; Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS. Programa Estadual DST/Aids. Implantação do pré-natal do homem [Internet]. São Paulo; 2012 [citado 2014 mar. 13]. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/acoes-programaticas/implantacao-do-pre-natal-do-homem
» http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/acoes-programaticas/implantacao-do-pre-natal-do-homem -
21Szwarcwald CL, Barbosa Junior A, Miranda AE, Paz LC. Resultados do Estudo Sentinela-parturiente, 2006: desafios para o controle da sífilis congênita no Brasil. DST J Bras Doenças Sex Transm. 2007;19(303 Paula IA, Guibu IA. DST/aids e rede básica: uma integração necessária. São Paulo: Secretária de Estado da Saúde; 2007-404 Brêtas ACP, Pereira AL. Gestão em unidades básicas de saúde. In: Harada MJCS, organizador. Gestão em enfermagem: ferramenta para prática segura. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2011. p. 377-83):128-33
-
22Misuta NM, Soares DA, Souza RKT, Matsuo T, Andrade SM. Sorologia anti-HIV e aconselhamento pré-teste em gestantes na região noroeste do Paraná, Brasil. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2008;8(2):197-205
-
23Matos SD, Baptista RS, França ISX, Medeiros FAL, Brito VRS. Conhecimento das gestantes atendidas nos serviços de pré-natal acerca do teste anti - HIV. Rev RENE. 2009;10(2):122-30
-
24Araújo MAL, Farias FLR, Rodrigues AVB. Aconselhamento pós-teste anti-HIV: análise a luz de uma teoria humanística de Enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2006;10(3):425-31
-
25São Paulo (Cidade). Secretaria Municipal da Saúde. Programa Municipal de DST/AIDS de São Paulo. Eliminação da transmissão vertical do HIV/aids e da sífilis. São Paulo; 2010
-
26Paiva V, Pupo LR, Barbosa R. O direito à prevenção e os desafios da redução da vulnerabilidade ao HIV no Brasil. Rev Saúde Pública. 2006;40 Supl:109-19
-
27Juliani CMCM, Ciampone MHT. Organização do sistema de referência e contra-referência no contexto do Sistema Único de Saúde: a percepção de enfermeiros. Rev Esc Enferm USP. 1999;33(4):323-33
-
28Maeda ST. Gestão da referência e contra referência na atenção ao ciclo gravídico puerperal: a realidade do Distrito de Saúde do Butantã [tese doutorado]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2002
-
29Saito RXS. Integralidade a perspectiva da integração dos serviços para formação de redes de atenção: estudo de caso em uma região de saúde do município de São Paulo, Brasil [tese doutorado]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2010
-
30Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO/Ministério da Saúde; 2002
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Ago 2014
Histórico
-
Recebido
18 Mar 2014 -
Aceito
10 Jul 2014