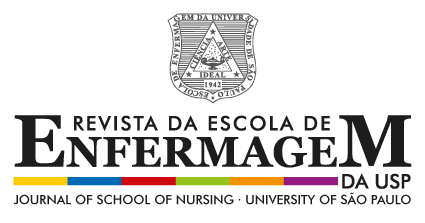Resumos
Nos 30 anos da pandemia da Aids no Brasil, reconhece-se o fenômeno da interiorização do vírus HIV como um desafio ao cuidado e às politicas de saúde atuais. Neste sentido, objetivou-se conhecer práticas sexuais e as representações sociais que residentes de cidades rurais têm acerca da doença. Participaram 789 pessoas, homens e mulheres, entre 18 e 90 anos de idade, residentes em 41 cidades com menos de 11.000 habitantes no estado da Paraíba/Brasil. Os dados foram coletados por um meio de um questionário e o teste de associação livre de palavras. Os resultados mostraram baixa preocupação com doença, percepção de invulnerabilidade à contaminação pelo HIV e o não uso do preservativo nas relações sexuais, sendo a confiança no parceiro o principal motivo relacionado. Também mostraram perdurar representações de natureza pejorativa e estereotipada, revelando que ainda perduram, no meio rural, crenças e representações referentes ao início da epidemia. A partir de tais achados, é possível apontar deficiências em termos de cuidados oferecidos pelos serviços de saúde nestas localidades, o que pode resultar em maiores vulnerabilidades dessa população ao adoecimento, havendo assim a necessidade da intensificação de campanhas de informação e intervenção.
Vulnerabilidade em Saúde; População Rural; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
In the 30 years of the AIDS pandemic in Brazil, it is recognized the HIV virus internalization of the phenomenon as a challenge to care and current health policies. In this sense, it aimed to verify sex practices and social representations that rural towns residents have about the disease. Attended by 789 people, men and women, between 18 and 90 years old, residents in 41 towns with fewer than 11,000 inhabitants in the state of Paraiba / Brazil. Data were collected by a questionnaire and the free association of words test. The results showed low concern about disease, perception of invulnerability to HIV infection and not using condoms during sexual intercourse, and confidence in the major reason related partner. Also showed endure derogatory and stereotypical representations, revealing that still persist in rural areas, beliefs and representations concerning the beginning of the epidemic. From these findings, it is possible to point out deficiencies in the care provided by the health services in these localities, which may result in increased vulnerability of this population to diseases, so there is the need to intensify information campaigns and intervention.
The results reveal the existence of three different types of modes of learning health literacy skills in informal context: : i) learning that takes place in action, in achieving daily tasks; ii) learning processes that result from problem solving; iii) learning that occurs in an unplanned manner, resulting from accidental circumstances and, in some cases, devoid of intentionality.
Health Vulnerability; Rural Population; Acquired Immunodeficiency Syndrome
En los 30 años de pandemia de Sida en Brasil, se reconoce el fenómeno de la interiorización del virus VIH como un desafío al ciudadano y a las políticas de salud actuales. En este sentido, se objetivó conocer a prácticas sexuales y a las representaciones sociales que residentes en ciudades rurales tienen acerca de la enfermedad. Participaron 789 personas, hombres y mujeres, entre 18 y 90 años de edad, residentes en 41 ciudades con menos de 11.000 habitantes en el estado de Paraíba/ Brasil. Los datos fueran recolectados por medio de un cuestionario y el test de asociación libre de palabras. Los resultados demuestran una baja preocupación con la enfermedad, percepción de invulnerabilidad a la contaminación por el VIH y el no uso de preservativos en las relaciones sexuales, siendo la confianza en la pareja la principal razón relacionada. También mostraron perdurar representaciones de naturaleza peyorativa y estereotipada, revelando que aún perduran en el medio rural, creencias y representaciones referentes al inicio de la epidemia. A partir de tales hallados es posible apuntar deficiencias en términos de cuidados ofrecidos por los servicios de salud en estas localidades, lo que puede resultar en mayores vulnerabilidades de esa población a la enfermedad, habiendo así la necesidad de la intensificación de campañas de información e intervención.
Vulnerabilidad en Salud; Población Rural; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Introdução
Desde seu aparecimento nos anos 1980, a Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), por seu caráter danoso, heterogêneo e instável, configura-se como uma das maiores preocupações em saúde pública em todo o mundo(11. A epidemia da Aids: impacto social, científico, econômico e perspectivas. Estudos Avançados. 2008; (22):73-94.-22. Brito AM, Castilho EA, Szwarcwald C L. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada. Revista da sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2001; (34): 207-217.). Apesar dos avanços no tratamento trazidos pelo uso de terapias antirretrovirais, a Aids continua sendo a quinta causa de mortalidade entre adultos e a primeira entre mulheres jovens(33. Martins TA, Kerr LRFS, Kendall C, Mota RMS. Cenário epidemiológico da infecção pelo HIV e Aids no mundo. Revista Fisioterapia e Saúde Funcional. 2014; 3(1): 4-7.). Nos países latino-americanos e no Caribe, o sexo desprotegido continua a ser a principal via de contaminação pelo vírus HIV, sendo as maiores prevalências observadas entre os homens que fazem sexo com os homens e nas mulheres transexuais(33. Martins TA, Kerr LRFS, Kendall C, Mota RMS. Cenário epidemiológico da infecção pelo HIV e Aids no mundo. Revista Fisioterapia e Saúde Funcional. 2014; 3(1): 4-7.-44. García PJ, Bayer A, Cárcamo CP. The Changing Face of HIV in Latin America and the Caribbean. Current HIV/AIDS reports. 2014. (11):146–157.).
Segundo dados do último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde(55. Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids e DST. Ano. 2. 2014.), no Brasil houve um aumento de 02% na taxa de detecção da doença, sendo esta distribuída de maneira significativa entre as regiões brasileiras e entre as faixas etárias, mostrando uma tendência no aumento da infecção em regiões mais carentes como o Norte-Nordeste e entre os mais jovens e os idosos. Estima-se que 87% dos municípios brasileiros já apresentaram pelo menos um caso de Aids e que, atualmente, cerca de 718 mil pessoas convivam com o vírus HIV no país(33. Martins TA, Kerr LRFS, Kendall C, Mota RMS. Cenário epidemiológico da infecção pelo HIV e Aids no mundo. Revista Fisioterapia e Saúde Funcional. 2014; 3(1): 4-7.). Neste cenário, fenômenos como a feminização, pauperização e interiorização da epidemia têm ganhado cada vez mais atenção dos estudiosos, apontando para a importância dos aspectos socioeconômicos, regionais e culturais, de gênero, raça/etnia, bem como a falta de recursos estruturais e humanos em saúde como elementos de vulnerabilidade ao HIV/Aids(616. Saldanha AA W.Vulnerabilidade e construções de enfrentamento da soropositividade ao HIV por mulheres infectadas em relacionamento estável. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto: 2003.
7. Gir E, Canini SRMS, Prado MA, Carvalho MJ, Duarte G, Reis RK. A feminização da aids: conhecimento de mulheres soropositivas sobre a transmissão e prevenção do HIV-1. J bras Doenças Sex Transm. 2004; (16): 73-76.-88. Souza CC, Mata LRF, Azevedo A, Gomes CRG, Cruz GECP, Toffano SEM. Interiorização do hiv/aids no brasil: um estudo epidemiológico. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. 2012; (11): 25-30.). No processo de vulnerabilidade procura-se compreender como indivíduos e grupos sociais “se expõem a dado agravo à saúde a partir de totalidades conformadas por sínteses pragmaticamente construídas com base em três dimensões analíticas, (...) chamadas, respectivamente, de dimensão individual, social e programática”(99. Ayres JRCM. Organização das Ações de Atenção à Saúde: modelos e práticas. Saúde e Sociedade. 2009; (18): 11-23.).
A análise da vulnerabilidade envolve a participação de diversos atores sociais e contextos, desconstruindo estratégias anteriores de culpabilização dos sujeitos por seu adoecimento. Sendo assim, dentre os aspectos relacionados com a primeira dimensão, destaca-se o grau e a qualidade da informação de que os sujeitos dispõem e a forma como eles elaboram essas informações e as incorporam às suas práticas cotidianas. A dimensão social compreende os aspectos contextuais que abarcam os indivíduos, grupos e coletividade, envolvendo aspectos relacionados às crenças religiosas, às relações de gênero, à economia, etc. A última dimensão, diz respeito a como as instituições e políticas públicas, especialmente de saúde, bem-estar social, educação, justiça e cultura, têm colaborado para reduzir, reproduzir ou aumentar condições de vulnerabilidade de indivíduos e coletividades em seus contextos(1010. Ayres JR, Paiva. V, França Jr. I. Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. In.: Paiva V, Ayres JR Buchalla, CM. Vulnerabilidade e direitos humanos – prevenção e promoção da saúde: da doença a cidadania. Curitiba: Juruá, 2012.). Assim, a partir do quadro conceitual da vulnerabilidade e da indissociabilidade entre suas dimensões é possível com textualizar a vulnerabilidade ao HIV/Aids no contexto das cidades rurais, haja vista a mudança do perfil da epidemia nas três últimas décadas.
Tomando o fenômeno da interiorização no Brasil, apesar dos números de pessoas soropositivas ainda se concentrarem nos grandes centros, estudos de levantamento recentes apontam um crescimento significativo em cidades de médio porte, evidenciando desigualdades no acesso aos serviços e a baixa resolutividade que municípios menores apresentam no cuidado, tratamento e enfrentamento da doença(1111. Granjeiro A, Escuder M ML, Castilho E.A. Magnitude e tendência da epidemia de Aids em municípios brasileiros de 2002–2006. Revista de Saúde Pública, 2010.-1212. Granjeiro A, Escuder MML, Castilho EA. A epidemia de AIDS no Brasil e as desigualdades regionais e de oferta de serviço. Caderno de Saúde Pública. 2010; 26(12): 2355-2367.). No caso dos pequenos municípios, se a ocorrência da doença ainda é tida como irregular e de pequena magnitude - em média 4,7 casos a cada 100.000 habitantes(1111. Granjeiro A, Escuder M ML, Castilho E.A. Magnitude e tendência da epidemia de Aids em municípios brasileiros de 2002–2006. Revista de Saúde Pública, 2010.) -, não se pode deixar de considerar que fatores como pobreza, baixa escolaridade e renda - característicos de grande parte da população que ali reside - quando atrelados as deficiências dos serviços de saúde podem contribuir para distanciar tal população de maiores informações acerca da Aids e de práticas sexuais seguras, colocando-a em situações cada vez maior de vulnerabilidade e risco. Pesquisadores chamam a atenção à transmissão heterossexual, que apresenta-se como a principal forma de contágio nestas localidades, e que, devido as desigualdades de gênero, colocam as mulheres em situação de maior vulnerabilidade(1111. Granjeiro A, Escuder M ML, Castilho E.A. Magnitude e tendência da epidemia de Aids em municípios brasileiros de 2002–2006. Revista de Saúde Pública, 2010.-1212. Granjeiro A, Escuder MML, Castilho EA. A epidemia de AIDS no Brasil e as desigualdades regionais e de oferta de serviço. Caderno de Saúde Pública. 2010; 26(12): 2355-2367.).
Estudo realizado com adolescentes paraibanos, o qual buscou verificar comportamentos sexuais e práticas de cuidado(1313. Saldanha AAW. Situações de Vulnerabilidade à Gravidez na Adolescência: Estilo de Vida e Comportamentos de Risco de Adolescentes Paraibanas. Relatório Final, Projeto Temático, Processo CNPq 551215/2007-0, Edital nº 22/2007- Saúde da Mulher. João Pessoa, PB, Universidade Federal da Paraíba, 2011.), mostrou que, no contexto rural, esta população possui pouca informação acerca das DSTs/Aids e fazem pouco uso do preservativo em relações sexuais estáveis, com muitos adolescentes atribuindo a contaminação pelo HIV à “coisa do destino”. Resultados semelhantes também foram observados em estudo com adolescentes de duas cidades do semi-árido nordestino(1414. Sampaio J, Santos RC, Callou JLL Souza B. B. Ele não Quer com Camisinha e eu Quero me Prevenir: exposição de adolescentes do sexo feminino às DST/aids no semi-árido nordestino. Revista Saúde e Sociedade. 2011; 20(1): 171-181.). Tais achados estão relacionados, de certo modo, com a vulnerabilidade programática, bem como contribuem para o modo como as pessoas elaboram e significam os processos de saúde e doença, mediando suas práticas sexuais e as estratégias de enfretamento e cuidado.
Na contemporaneidade tem se verificado esforços em constituir políticas públicas que propiciem qualidade da assistência às pessoas com HIV/Aids, em que a superação de iniquidades e desigualdades apresenta-se como desafio para os que defendem a vida como direito ao bem público e à cidadania(1515. Natividade JC, Camargo B V. Elementos caracterizadores das representações sociais da Aids para adultos. Temas em Psicologia. 2011; (19): 305-307.). Essas políticas possuem como objetivo a garantia da atenção em saúde direcionando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população e dos indivíduos, garantindo integralidade da atenção e considerando as diferentes realidades e necessidade da saúde. Todavia, verifica-se que as populações territorialmente definidas como rural e urbana possuem diferenças quanto ao acesso e à utilização de serviços de saúde, sendo as cidades rurais aquelas que apresentam maiores desafios.
Além das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, destacam-se os aspectos socioeconômicos e os contextos políticos que, em maior ou menor grau, contribuem para dificultar a efetivação de políticas públicas. Além disso, o acesso inadequado ao sistema de cuidados efetivos à saúde é um dos seus pilares, seguido pelos problemas relacionados à oferta e a organização dos serviços de saúde, a dificuldade de se atrair médicos e outros profissionais de saúde, além da rotatividade destes profissionais e a qualidade da assistência oferecida(1616. Villarinho MV, Padilha MI, Berardinelli LMM, Borestein MS, Meirelles BHS, Andrade SR. Políticas públicas de saúde face à epidemia da AIDS e a assistência às pessoas com a doença. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 66, p. 271-277, 2013.). Sendo assim, ações em saúde tornam-se, muitas vezes, inacessíveis. Ademais, temas relacionados com prevenção às DST`s/Aids em pessoas idosas tornam-se menos prioritários quando se consideram outras demandas existentes.
Partindo da necessidade de maiores conhecimentos acerca do processo saúde-doença, contribuições teórico- metodológicas têm surgido nas mais diversas áreas. No campo da Psicologia Social, o estudo das Representações Sociais vem apresentando um papel importante na compreensão dos processos e mecanismos envoltos na construção do significado social do adoecer por Aids(1717. Vieira EWR. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte; 2010.
18. Oliveira DC. Construção e transformação das representações sociais da aids e implicações para os cuidados de saúde. Revista LatinoAmericana de Enfermagem. 2013; (21): 1-10.-1919. Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.). Sob esta vertente, já é possível encontrar estudos sobre representações sociais da Aids no contexto rural demonstrando uma preocupação com esse lócus de pesquisa(1818. Oliveira DC. Construção e transformação das representações sociais da aids e implicações para os cuidados de saúde. Revista LatinoAmericana de Enfermagem. 2013; (21): 1-10.
19. Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.-2020. Lobo MP. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS: Representações sociais de idosos residentes em zona rural. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2011.). Todavia, os resultados encontrados não se mostram promissores. Tais estudos mostram que ainda pairam entre a população rural representações relacionadas ao inicío da epidemia como a contaminação apenas por objetos compartilhados e relacionadas somente aos grupos de risco, como as pessoas homoafetivas(1919. Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.). Também foi possível observar sentimentos de invulnerabilidade nesta população, onde a Aids é “doença do outro” (2020. Lobo MP. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS: Representações sociais de idosos residentes em zona rural. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2011.).
A escassez de pesquisas voltadas à população rural sugere que a extensão das disparidades na saúde e no acesso aos cuidados nestas populações não está sendo adequadamente monitorada. No campo do HIV/Aids, reconhece-se, portanto, a importância de se conhecer as crenças, percepções e as representações construídas e compartilhadas pela população rural, já que esta compreensão poderá permitir que se construam intervenções e políticas mais adequadas junto a essa população. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo apreender práticas sexuais e de prevenção e as representações que moradores de cidades rurais têm acerca da Aids.
Método
De caráter exploratório e qualitativo, a pesquisa foi realizada em 41 cidades com menos de 11.000 habitantes pertencentes ao estado da Paraíba/Brasil. A escolha por este lócus de pesquisa deveu-se ao fato da Paraíba possuir 66% dos seus municípios com este contingente populacional. Uma amostra representativa da população foi determinada por um processo de múltiplos estágios, estratificada segundo: 1) as 04 macrorregiões de saúde e 2) as 16 regiões de saúde existente na Paraíba, 3) pelo menos dois municípios com menos de 11.000 habitantes pertencentes a cada região e 4) populares. Participaram 789 pessoas entre 18 e 90 anos, com média de idade de 42 anos (DP= 14, 94), sendo 180 homens (22,8 %) e 608 mulheres (77,2%).
Após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa, os pesquisadores viajaram para os municípios sorteados. As pessoas foram abordadas em seus domicílios, praças e/ou ruas e convidadas a participar do estudo. Como critério de exclusão foi adotado: Participantes com menos de 18 anos de idade e residentes na cidade há menos de 02 anos. Respeitando os padrões éticos exigidos, ressaltou-se o caráter voluntário da participação e o sigilo das informações.
Primeiramente, foi aplicado um questionário sociodemográfico com o objetivo de caracterizar a amostra, contendo este também itens relacionados a comportamentos e práticas sexuais de prevenção como o uso do preservativo nas relações sexuais; dificuldades ou interrupções no uso do preservativo; motivos relacionados a interrupção e percepções relacionadas à preocupação com a Aids e o risco de contaminação. Em seguida, foi realizada a técnica de associação livre de palavras, solicitando aos participantes que dissessem as três primeiras palavras ou pensamentos que lhe vinham à mente ao ouvir a palavra Aids.
Os dados do questionário foram analisados por meio de estatísticas descritivas (distribuição de frequências, medidas de tendência central e dispersão) utilizando-se o software SPSS for Windows versão 18. Já as respostas obtidas na técnica da associação livre, foram analisadas por seu conteúdo, segundo a proposta de Bardin(2121. Alves MFP. Sexualidade e prevenção de DST/AIDS: representações sociais de homens rurais de um município da zona da mata pernambucana, Brasil. Cadernos de saúde pública. 2003; (19): 429-439.).
Resultados
A maioria dos participantes estava na faixa etária dos 30 aos 59 anos, era casada, agricultores, com baixa escolaridade e renda e católicos. Em termos de práticas sexuais e preventivas, a maioria (60%) afirmou nunca ter feito uso do preservativo. Entre àqueles que faziam uso, a maioria afirmou que deixam de usá-lo após determinado tempo de relacionamento, sendo a confiança no parceiro o principal motivo alegado.
Quando convidados a avaliar a sua preocupação com a Aids, numa escala de 0 a 10 pontos, a nota média obtida foi de 7,51 (nível moderado). Todavia, ao avaliarem o risco de contraírem o vírus HIV a partir de suas práticas sexuais, a nota média foi 2,81 (nível baixo). Em questão complementar a esta, 85% dos participantes afirmaram que nunca acreditaram que pudessem ter contraído o vírus HIV e somente 14,4% alegaram ter esta desconfiança.
Com relação a análise qualitativa dos dados obtidos pela técnica de associação livre, foram construídas cinco categorias temática de significados atribuídos ao HIV/Aids pelos participantes: a) Caracterização/impressão acerca da Aids; b) Culpabilização e Julgamento; c) Condenação imposta pela Aids; d) Sentimentos negativos acerca da Aids e e) Sentimentos positivos acerca da Aids.
A primeira categoria - Caracterização/Impressão acerca da Aids – procurou agrupar palavras referentes ao conhecimento e crenças gerais acerca da doença. Compreendeu, primeiramente, palavras que demonstravam percepções negativas sobre a doença como: Bicho, câncer, coisa ruim, deformação, não deveria existir, não gosta de falar, enviado pelo “satã”, muda a vida, não deseja pra ninguém, palavra triste e perda de sentido. Depois envolveu percepções trazidas pelo discurso biomédico como: contagiosa, crônica, doença grave, doença no sangue, doença perigosa, doença pesada, doença sem cura, doença temerosa, dor, DST, doença venérea, imunologia, infecção. Em seguida, trouxe percepções relacionadas à forma de contágio com expressões como: não é tão perigoso; pega no sexo; deve evitar, não pega no toque, ninguém quer, ato sexual, evitar aproximação, não pega fácil, perfuração/cortantes, preservativo e percepções relacionadas às consequências do adoecimento como: perda de peso, perda de vida, requer cuidado, cai cabelo, dolorido, exames, piora a convivência, se não cuidar morre, sem movimento, preconceito, sensação ruim, ajuda psicológica, cuidar cedo, dependência, depender de remédios, ficar internado, fraqueza, grave, hospital, impotência, mata, medicação; fácil matar. Também apresentou representações da doença relacionadas à possibilidade ou não de tratamento com palavras como incurável, não tem medo, normal, tem tratamento, comum, consegue viver, curável, pode combater, prevenir, tem e não tem cura, pode ter cura, pode ter saúde, precisa de ajuda, prevenção, procurar saúde, proteger, queria a cura, tem atendimento. Por fim, trouxe percepções que denotam certo desconhecimento com palavras como não acredita, não conhece, não existe, não pensa nada, não sabe o que é, não conhece muito, sabe pouco.
Na segunda categoria – Culpabilização e Julgamento - as palavras agrupadas remeteram a uma responsabilização da pessoa com AIDS por ter adquirido a doença, culpabilizando-a pelo seu diagnóstico. Também, foram incluídas palavras que demonstravam o julgamento que os entrevistados fazem à pessoa com AIDS, rotulando-a por algumas vezes e ainda buscando determinar algo que, segundo suas crenças, justificasse o diagnóstico. As palavras trazidas nesta categoria foram: descuido, “desmantelado” (expressão popular que designa uma pessoa descuidada), falta de cuidado, falta de informação, falta de prevenção, imprudência, pessoa imoral, transar sem camisinha, vida promíscua, coisa muito feia, falta de amor, falta de cuidado, falta de prevenção, falta de proteção, involuntário, irresponsabilidade, muitos parceiros, não se cuidou, parceiro fixo, prostituição, quem tem “casos” (extraconjugais), sem cuidado, “a pessoa procurou”, descaso, desobediência, desprevenido, destino cruel, falta de cuidado, falta de educação, falta de prevenção, falta de sossego, fraqueza, impotência, irresponsabilidade, “lascado” (expressão popular que designa uma pessoa encrencada), muita liberdade, não se valoriza, pecado, perda de sentido, prostíbulo, relação com toda pessoa, ter responsabilidade.
Já a terceira categoria – Condenação Imposta pela Aids – as palavras agrupadas remeteram a um significado de finitude determinada pelo diagnóstico da Aids, onde não é possível imaginar uma vida normal nem tão pouco longa com o viver com a doença. Tais palavras mostraram que os participantes não acreditam que existe um prognóstico positivo para a doença, nem uma qualidade de vida adequada. As palavras foram: acabou, acabou com a vida, chegou ao fim, condenado, condenada, fim da vida, fim do mundo, morre logo, morre mais rápido, morte, não tem jeito, sem jeito, “só Jesus” (expressão popular que indica não há o que fazer para reverter/melhorar a situação), desenganado, mata, sem saída, término da vida, acaba aos poucos, desgraça a família, fatal, fim da linha, final, morre aos poucos, morrer, “pé na cova” (expressão popular que remete a alguém que esteja em estado terminal, com a morte bastante próxima), sem chance, sem vida, “Só Deus” (expressão popular que indica não há o que fazer para reverter/melhorar a situação), castigo divino, sem esperança, sem movimento.
A quarta categoria - Sentimentos Negativos Acerca da Aids – agrupou palavras referentes aos sentimentos que os participantes possuem sobre a doença e também como eles acreditam que as pessoas com AIDS sentem sobre seu diagnóstico. Incluiu palavras como: agonia, angústia, aperreio, assustador, assustadora, coisa ruim, decepção, desagradável, desânimo, desespero, desgraça, destruição, horrível, horror, horrorosa, infelicidade, insegurança, mau, medo, muito ruim, “muléstia” (expressão popular que, nesse contexto, remete a algo muito ruim), nojento, nojo, pânico, pensa negativo, perigo, perigoso, perigosa, pesada (expressão popular que, nesse contexto, remete a algo muito ruim), preconceito, rejeição, ruim, solidão, temor, terrível, triste, tristeza, arrependimento, coisa muito feia, depressão, desânimo, desespero, desilusão, desmotivação, desprezo, destruidora, dó, é muito triste, excluído, feio, impotência, impossibilidade, infeliz, isolada, isolamento, lamentar, nervosismo, pavor, perda, perturba a mente, perturbação, péssimo, preocupação, sensação ruim, sofrimento, vergonha, vergonhoso, abandono, ansiedade, constrangedor, desamparo, desgosto, discriminação, dolorosa, indiferença, pecado, pena, penoso, pior doença, rejeição, tensão, tragédia, tudo de ruim.
Já a quinta e última categoria - Sentimentos Positivos Acerca da AIDS – agrupou palavras referentes ao amparo às pessoas com AIDS, ao cuidado e também à postura que as próprias pessoas soropositivas poderiam ter no enfrentamento desta da doença. As palavras agrupadas nessa categoria foram: ajuda, apoio, companheirismo, cuidar, esperança, seguir em frente, acolher, amor, fé, fé em Deus, amor próprio, força, força de vontade, perseverança, persistência, compaixão.
Discussão
No tocante aos aspectos sociodemográficos, no mundo rural nordestino, deficiências na oferta e acesso à educação, bem como a falta de postos de trabalho faz com que muitas famílias enfrentem o desemprego e vivam em condições de miserabilidade. Tais condições, quando somadas a diversos fatores como idade, sexo, raça/etnia, orientação sexual e outras podem se constituir em elementos de vulnerabilidade a uma série de doenças, inclusive, a Aids. No presente estudo, observou-se que os participantes, apesar de mostrarem considerável preocupação com a epidemia da Aids, continuam apresentando sentimentos de invulnerabilidade e práticas sexuais não seguras como o não uso do preservativo. Vale ressaltar que o fato de confiar no parceiro faz com que essas pessoas não utilizem o preservativo nas suas relações sexuais, o que as deixa em situação de maior vulnerabilidade em relação a esta doença e às demais DST’s.
Por entender que as práticas de cuidado e saúde são influenciadas pela forma como as pessoas apreendem e dão significado ao seu mundo social, as categorias emergentes pela análise da associação livre de palavras variaram em número de diferentes palavras citadas, mas, de maneira geral, demonstraram uma postura pejorativa e estereotipada dos entrevistados diante da Aids, o que já indicou, inicialmente, a existência de representações negativas acerca da doença. Foram observadas, por exemplo, uma grande expressão de palavras relacionadas ao medo diante da contaminação, a mortalidade e os efeitos da Aids sobre o corpo. Corroborando estudos anteriores(77. Gir E, Canini SRMS, Prado MA, Carvalho MJ, Duarte G, Reis RK. A feminização da aids: conhecimento de mulheres soropositivas sobre a transmissão e prevenção do HIV-1. J bras Doenças Sex Transm. 2004; (16): 73-76.;1414. Sampaio J, Santos RC, Callou JLL Souza B. B. Ele não Quer com Camisinha e eu Quero me Prevenir: exposição de adolescentes do sexo feminino às DST/aids no semi-árido nordestino. Revista Saúde e Sociedade. 2011; 20(1): 171-181.;1919. Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.) tais representações fazem referência ao período inicial da propagação da epidemia, em que, por meio da mídia, muitos casos (em especial dos “famosos”) foram divulgados mostrando as consequências da infecção e a sua natureza mortífera. Assim, o crescimento acelerado no número de soropositivos fez com que essas informações fossem tomadas como “verdades” pela sociedade.
Apesar dos avanços tecnológicos alcançados atualmente no tratamento do HIV/ Aids, como a introdução da terapia antirretroviral, a relação da Aids com a morte iminente ainda é sustentada no imaginário das pessoas. Também foram percebidas outras representações que remetem ao início da epidemia relacionadas, por exemplo, à culpabilização e julgamento dos sujeitos que dela padecem. Tais representações trazem a ideia da Aids como castigo pelos pecados, especialmente quando vivenciada pelo “outro”, faz emergir aspectos relacionados à comportamentos pecaminosos e depravados, à promiscuidade e imoralidades. Tomando a contaminação como uma responsabilidade individual e “do outro”, essa ideia, mais que um descuido ou falta de prevenção, se daria por uma falha no comportamental moral (1919. Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.-2020. Lobo MP. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS: Representações sociais de idosos residentes em zona rural. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2011.). A abordagem ainda centrada nos grupos e comportamentos de risco pode gerar, para alguns autores, certo “distanciamento” em relação à doença, contribuindo para sentimentos de invulnerabilidade e para não adoção de comportamentos preventivos como o uso da camisinha, principalmente, quando as pessoas encontram-se em relações estáveis.
A Aids, assim como outros processo de adoecimento, parece que ainda se apresenta como uma “doença do outro”, o que dificulta o manejo da prevenção, além de estar relacionada com a vivência das pessoas em suas relações e contextos de vida. Isto possibilita uma variedade de modos de enfrentamento seja no lidar com a doença, seja no modo de vivenciar a sexualidade e incorporar práticas preventivas. Na vida cotidiana, a sexualidade é raramente pensada e vivida como atitudes e práticas coerentes com as opiniões e conhecimentos sobre a Aids, fazendo-se necessário compreender os sujeitos sempre em relação e em seus cenários cotidianos(2222. Bardin. L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal, Edições 70, LDA. 2009.).
A atribuição da Aids como uma expressão do pecado, também leva os entrevistados a introjetarem representações ligadas à sentimentos de medo e terror, bem como constrangimento ou vergonha de ser diagnosticado com a doença. O pecador deve ser evitado e condenado, pois implica em ameaças à sociedade. Tal visão se expressa no preconceito e discriminação que, de forma dolorosa, ainda faz parte da vivência das pessoas soropositivas e ainda estão arraigados na nossa sociedade. A pessoa soropositiva é então duplamente vitimizada: tanto pela doença como pelas atitudes discriminatórias que estas suscitam. Tais vivências podem ser observadas em diversas dimensões da vida das pessoas soropositivas, seja na família, no trabalho e nas demais relações sociais.
Apesar das representações sobre a Aids aqui encontradas trazerem, em sua maioria, conotações negativas, também foram observadas a expressão de palavras que acenam para possíveis mudanças nesta visão. Acolhimento, apoio, esperança e força foram algumas delas. Os avanços no tratamento e o aumento da sobrevida dos pacientes permitida pela terapia antirretroviral deram à Aids a conotação de doença crônica permitindo ações voltadas a melhorias na qualidade de vida das pessoas soropositivas(1717. Vieira EWR. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte; 2010.). Deste modo, por volta da metade dos anos 2000 começou-se a identificar representações que passaram a incluir significados e elementos positivos no enfretamento da doença, ressaltando-se, por exemplo, o convívio com a doença e uma naturalização da síndrome, vista no cerne das doenças crônicas, como o diabetes e hipertensão arterial(1717. Vieira EWR. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte; 2010.). Entretanto, é importante considerar as representações mais dominantes aqui encontradas, pois estas tendem a apontar para a falta de conhecimento que os moradores das cidades rurais paraibanas têm acerca da Aids. Isto pode indicar uma atuação pouco eficaz dos serviços de saúde e campanhas de prevenção existentes nestas localidades, acenando para uma maior vulnerabilidade desta população ao adoecimento por DST’s/Aids.
De certa forma, as ações de prevenção e promoção de saúde por meio da divulgação de informações e campanhas em períodos específicos, como o período carnavalesco, podem negligenciar outras demandas e populações(2323. Paiva V. Cenas da vida cotidiana: metodologia para compreender e reduzir a vulnerabilidade na perspectiva dos direitos humanos. In: Paiva V. Ayres JRCM, Buchalla CM. (Organizadores.). Vulnerabilidade e Direitos Humanos: prevenção e promoção da Saúde. Livro I. Curitiba: Juruá Editora, 2012b. p.165-208.). As representações relacionadas com aspectos negativos sobre viver com Aids são propagadas, muitas vezes, em função do pouco esclarecimento e informação que a população possui, o que está relacionado com a dimensão programática da vulnerabilidade.
Compreender a vulnerabilidade no âmbito programático requer analisar as formas como políticas e instituições, especialmente as da área de saúde, educação, bem-estar, social, cultural e de justiça, atuam como formas que reduzem, reproduzem ou aumentam condições de vulnerabilidade dos sujeitos em seus contextos(1010. Ayres JR, Paiva. V, França Jr. I. Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. In.: Paiva V, Ayres JR Buchalla, CM. Vulnerabilidade e direitos humanos – prevenção e promoção da saúde: da doença a cidadania. Curitiba: Juruá, 2012.). Deve-se procurar reconhecer no cotidiano dos sujeitos as dimensões de vulnerabilidade de modo integrado, seja por meio de conversas nos serviços de saúde ou sobre espaços de vida social onde se pode observar a promoção e proteção do direito à saúde, à não discriminação e à participação social(1010. Ayres JR, Paiva. V, França Jr. I. Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. In.: Paiva V, Ayres JR Buchalla, CM. Vulnerabilidade e direitos humanos – prevenção e promoção da saúde: da doença a cidadania. Curitiba: Juruá, 2012.)).
A redução de representações negativas relacionadas ao HIV/Aids demanda a articulação de ações para além dos espaços da saúde, contemplando uma perspectiva pautada nos direitos humanos, ampliando às ações para espaços como a educação, os serviços comunitários, a assistência social, dentre outros. Isto implica reconhecer as pessoas como sujeitos de direito, tendo em vista a promoção da cidadania.
Conclusão
O conhecimento sobre as Representações Sociais de pessoas residentes em cidades rurais acerca da Aids possibilitou a identificação de representações ancoradas em categorias temáticas que, embora tenham perpassaram o início da epidemia, ainda se fazem presentes enquanto norteadoras de condutas e de interpretação da realidade. Não obstante, mais que indicar o conhecimento compartilhado por uma coletividade, estes achadas possuem relação com os contextos de vivência destas pessoas e apontam para o distanciamento existente entre disponibilidade de informações e incorporação destas enquanto prática. Nesse sentido, verificou-se a existência de preocupação moderada em relação ao contágio com o vírus e, ao mesmo tempo, o baixo uso do preservativo nas relações sexuais.
A análise destes resultados exige a consideração de aspectos que não se limitem ao indivíduo e a seus comportamentos, mas que considere a dimensão programática da vulnerabilidade, ou seja, os aspectos estruturais relacionados às condições de vida das pessoas que aumentam as chances de exposição de indivíduos e coletividades ao adoecimento. A baixa escolaridade e renda que caracterizou o perfil sociodemográfico dos participantes são fatores importantes não só para o acesso às informações, mas mediam também o modo como essas informações são incorporadas adequadamente. Ademais, no contexto rural nordestino determinadas configurações no serviço de saúde, como escassez de profissionais de saúde e ausência de serviços voltados para a testagem e aconselhamento em DST`s, dificultam, ainda mais, a prevenção. Aspectos sociais, educacionais, além de fatores como idade, sexo, orientação sexual também contribuem para a vulnerabilidade à Aids nesta população.
É a partir deste contexto macroestrutural que se verificam avanços com a introdução da terapia antirretroviral, mudando os status da Aids para a condição de doença crônica e, ao mesmo tempo, também se identificam representações da doença enquanto sinônimo de morte iminente, imoralidade e promiscuidade enquanto elementos presentes no cotidiano das comunicações dos participantes. No entanto, estes resultados não significam contradição, mas confirmam o caráter psicossocial da teoria das Representações Sociais, bem como apontam para a dimensão dialética do fenômeno que impede qualquer dicotomização entre o individual e o social.
As Representações Sociais são objetivadas nas condições de vida das pessoas, o que demonstra lacunas em termos de implementação de políticas públicas. Ou seja, o desconhecimento diante da temática identificado por meio de representações negativas acerca da Aids e/ou de pessoas vivendo com Aids sugere a necessidade de campanhas educativas e ações nos serviços de saúde direcionados para tais demandas.
References
-
1A epidemia da Aids: impacto social, científico, econômico e perspectivas. Estudos Avançados. 2008; (22):73-94.
-
2Brito AM, Castilho EA, Szwarcwald C L. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada. Revista da sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2001; (34): 207-217.
-
3Martins TA, Kerr LRFS, Kendall C, Mota RMS. Cenário epidemiológico da infecção pelo HIV e Aids no mundo. Revista Fisioterapia e Saúde Funcional. 2014; 3(1): 4-7.
-
4García PJ, Bayer A, Cárcamo CP. The Changing Face of HIV in Latin America and the Caribbean. Current HIV/AIDS reports. 2014. (11):146–157.
-
5Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids e DST. Ano. 2. 2014.
-
6Saldanha AA W.Vulnerabilidade e construções de enfrentamento da soropositividade ao HIV por mulheres infectadas em relacionamento estável. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto: 2003.
-
7Gir E, Canini SRMS, Prado MA, Carvalho MJ, Duarte G, Reis RK. A feminização da aids: conhecimento de mulheres soropositivas sobre a transmissão e prevenção do HIV-1. J bras Doenças Sex Transm. 2004; (16): 73-76.
-
8Souza CC, Mata LRF, Azevedo A, Gomes CRG, Cruz GECP, Toffano SEM. Interiorização do hiv/aids no brasil: um estudo epidemiológico. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. 2012; (11): 25-30.
-
9Ayres JRCM. Organização das Ações de Atenção à Saúde: modelos e práticas. Saúde e Sociedade. 2009; (18): 11-23.
-
10Ayres JR, Paiva. V, França Jr. I. Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. In.: Paiva V, Ayres JR Buchalla, CM. Vulnerabilidade e direitos humanos – prevenção e promoção da saúde: da doença a cidadania. Curitiba: Juruá, 2012.
-
11Granjeiro A, Escuder M ML, Castilho E.A. Magnitude e tendência da epidemia de Aids em municípios brasileiros de 2002–2006. Revista de Saúde Pública, 2010.
-
12Granjeiro A, Escuder MML, Castilho EA. A epidemia de AIDS no Brasil e as desigualdades regionais e de oferta de serviço. Caderno de Saúde Pública. 2010; 26(12): 2355-2367.
-
13Saldanha AAW. Situações de Vulnerabilidade à Gravidez na Adolescência: Estilo de Vida e Comportamentos de Risco de Adolescentes Paraibanas. Relatório Final, Projeto Temático, Processo CNPq 551215/2007-0, Edital nº 22/2007- Saúde da Mulher. João Pessoa, PB, Universidade Federal da Paraíba, 2011.
-
14Sampaio J, Santos RC, Callou JLL Souza B. B. Ele não Quer com Camisinha e eu Quero me Prevenir: exposição de adolescentes do sexo feminino às DST/aids no semi-árido nordestino. Revista Saúde e Sociedade. 2011; 20(1): 171-181.
-
15Natividade JC, Camargo B V. Elementos caracterizadores das representações sociais da Aids para adultos. Temas em Psicologia. 2011; (19): 305-307.
-
16Villarinho MV, Padilha MI, Berardinelli LMM, Borestein MS, Meirelles BHS, Andrade SR. Políticas públicas de saúde face à epidemia da AIDS e a assistência às pessoas com a doença. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 66, p. 271-277, 2013.
-
17Vieira EWR. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária em população rural do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte; 2010.
-
18Oliveira DC. Construção e transformação das representações sociais da aids e implicações para os cuidados de saúde. Revista LatinoAmericana de Enfermagem. 2013; (21): 1-10.
-
19Oltramari LC. Um Esboço sobre as Representações Sociais da AIDS nos Estudos Produzidos no Brasil. Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2003; (45): 1-17.
-
20Lobo MP. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS: Representações sociais de idosos residentes em zona rural. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2011.
-
21Alves MFP. Sexualidade e prevenção de DST/AIDS: representações sociais de homens rurais de um município da zona da mata pernambucana, Brasil. Cadernos de saúde pública. 2003; (19): 429-439.
-
22Bardin. L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal, Edições 70, LDA. 2009.
-
23Paiva V. Cenas da vida cotidiana: metodologia para compreender e reduzir a vulnerabilidade na perspectiva dos direitos humanos. In: Paiva V. Ayres JRCM, Buchalla CM. (Organizadores.). Vulnerabilidade e Direitos Humanos: prevenção e promoção da Saúde. Livro I. Curitiba: Juruá Editora, 2012b. p.165-208.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jun 2016
Histórico
-
Recebido
26 Mar 2015 -
Aceito
14 Nov 2015