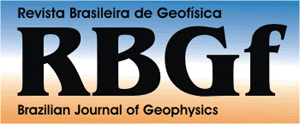Resumos
Água de formação é a água que ocorre naturalmente nos poros de uma rocha e é produzida junto com o petróleo. E geralmente hipersalina podendo chegar a concentrações de até 250 g/l de sólidos dissolvidos. A concentração dos materiais nela dissolvidos e a composição isotópica da água e de alguns dos elementos nela presentes se constituem em excelentes traçadores, podendo revelar a dinâmica do fluxo subterrâneo, a mistura de fontes distintas e a origem da salinização dessas águas. Este trabalho reporta a composição isotópica (δ2H , δ18O ) e a condutividade elétrica (CE) de amostras de água de formação, provenientes de 10 poços de um campo de petróleo da Bacia do Recôncavo, com o objetivo de avaliar a sua evolução, interação com minerais e rochas e interconexões do reservatório em subsuperfície. As amostras são ricas em material dissolvido, com condutividade elétrica variando de 84 mS/cm a 137 mS/cm aumentando com a profundidade de extração. Também foi observado um enriquecimento em isótopos pesados de H e O em direção aos níveis mais profundos, possivelmente causado pela interação água-rocha, potencializada pela elevada temperatura, característica dos níveis mais profundos, e pelo longo período de residência dessas águas. À profundidade de 1450 a 1520 metros, zona de produção de 7 dos 10 poços amostrados, verifica-se uma pequena variação da composição isotópica e da CE, indicando uma homogeneidade das amostras nesse nível do reservatório. No nível de produção mais raso, situado a 450 metros abaixo da superfície, obteve-se os menores valores de δ2H , δ18O e de condutividade elétrica, com composição isotópica similar a da água do mar, possivelmente representando a água que entrou na formação durante a sedimentação da bacia.
geofísica isotópica; água de formação; isótopos estáveis; Bacia do Recôncavo; destilação criogênica
Formation water is the water present in reservoir rock pores, produced together with petroleum. Usually it is hypersaline with concentrations that can be higher than 250 g/l of dissolved solids. The concentration of the dissolved elements and the isotopic composition of the water and of some of the dissolved elements can be excellent tracers to study the dynamic of underground fluid flux, the mixing of distinct sources and the origin of salinization of these waters. This work reports the isotopic composition (δ2H , δ18O ) and electrical conductivity (EC) of formation waters from 10 wells of a petroleum field of the Recôncavo Basin, looking for their evolution, interaction with the minerals and rocks and reservoir interconnection. The samples have electric conductivity ranging from 84 to 137 mS/cm, with conductivity increasing with depth of production zone. It is observed an enrichment of deuterium and oxygen-18 with the depth of production zone, probably due to water-rock interactions that were probably increased by higher temperatures of the deeper levels and longer residence times. The samples from the production zone between 1450 to 1520 m, drained by 7 of the 10 wells sampled, show a small range in isotopic composition and in electric conductivity, indicating homogeneity in this level of the reservoir. In the shallow level of 450 m the values of δ2H , δ18O and EC are lower, with isotopic composition similar to the oceanic water, possibly representing the original water that entered the reservoir during the sedimentation of the basin.
isotopic geophysics; formation water; stable isotopes; Recôncavo Basin; cryogenic distillation
Caracterização isotópica de águas de formação hipersalinas de um campo de petróleo da Bacia do Recôncavo, Brasil
Danilo Ribeiro de Sá TelesI; Antônio Expedito Gomes de AzevedoI; Christian Pereira Lopes dos SantosII
IInstituto de Física e Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil. Tels.: +55(71) 3283-6680/3283-6691 - E-mails: danilosateles@yahoo.com.br; expedito@ufba.br
IIInstituto Federal Baiano, Salvador, BA, Brasil - E-mail: cplsgs@gmail.com
RESUMO
Água de formação é a água que ocorre naturalmente nos poros de uma rocha e é produzida junto com o petróleo. E geralmente hipersalina podendo chegar a concentrações de até 250 g/l de sólidos dissolvidos. A concentração dos materiais nela dissolvidos e a composição isotópica da água e de alguns dos elementos nela presentes se constituem em excelentes traçadores, podendo revelar a dinamica do fluxo subterrâneo, a mistura de fontes distintas e a origem da salinização dessas águas. Este trabalho reporta a composição isotópica (δ2H , δ18O ) e a condutividade elétrica (CE) de amostras de água de formação, provenientes de 10 poços de um campo de petróleo da Bacia do Recôncavo, com o objetivo de avaliar a sua evolução, interação com minerais e rochas e interconexões do reservatorio em subsuperfície. As amostras são ricas em material dissolvido, com condutividade elétrica variando de 84 mS/cm a 137 mS/cm aumentando com a profundidade de extração. Também foi observado um enriquecimento em isótopos pesados de H e O em direção aos níveis mais profundos, possivelmente causado pela interação água-rocha, potencializada pela elevada temperatura, característica dos níveis mais profundos, e pelo longo período de residência dessas águas. À profundidade de 1450 a 1520 metros, zona de produção de 7 dos 10 pocos amostrados, verifica-se uma pequena variação da composição isotópica e da CE, indicando uma homogeneidade das amostras nesse nível do reservatorio. No nível de produção mais raso, situado a 450 metros abaixo da superfície, obteve-se os menores valores de δ2H , δ18O e de condutividade elétrica, com composição isotópica similar a da água do mar, possivelmente representando a água que entrou na formação durante a sedimentação da bacia.
Palavras-chave: geofísica isotópica, água de formação, isótopos estáveis, Bacia do Recôncavo, destilação criogênica.
ABSTRACT
Forrmation water is the water present in reservoir rock pores, produced together with petroleum. Usually it is hypersaline with concentrations that can be higher than 250 g/l of dissolved solids. The concentration of the dissolved elements and the isotopic composition of the water and of some of the dissolved elements can be excellent tracers to study the dynamic of underground fluid flux, the mixing of distinct sources and the origin of salinization of these waters. This work reports the isotopic composition (δ2H , δ18O ) and electrical conductivity (EC) of formation waters from 10 wells of a petroleum field of the Recôncavo Basin, looking for their evolution, interaction with the minerals and rocks and reservoir interconnection. The samples have electric conductivity ranging from 84 to 137 mS/cm, with conductivity increasing with depth of production zone. It is observed an enrichment of deuterium and oxygen-18 with the depth of production zone, probably due to water-rock interactions that were probably increased by higher temperatures of the deeper levels and longer residence times. The samples from the production zone between 1450 to 1520 m, drained by 7 of the 10 wells sampled, show a small range in isotopic composition and in electric conductivity, indicating homogeneity in this level of the reservoir. In the shallow level of 450 m the values of δ2H , δ18O and EC are lower, with isotopic composition similar to the oceanic water, possibly representing the original water that entered the reservoir during the sedimentation of the basin.
Keywords: isotopic geophysics, formation water, stable isotopes, Recôncavo Basin, cryogenic distillation.
INTRODUÇÃO
Os isótopos estáveis ambientais vêm cada vez mais sendo utilizados em estudos hidrogeolágicos na investigação de problemas hidrolágicos tais como identificação de mecanismos de salinização em águas subterrêneas, definição de áreas de recarga, quantificação e origem de mistura entre unidades hídricas. Aplicado à água de formação, resíduo ligado à atividade de extração do petróleo, o estudo desses isátopos permite levantar hipóteses a respeito do grau de evolução hidrológica do campo, da sua classificação hidroquímica e principalmente da classificação genética, ou seja, sua origem. A partir desses resultados é possível determinar se o reservatório, que armazena esta água, tem ligação com outros reservatórios, aquíferos ou se sofre infiltração de água meteorica. Worden et al. (2006) analisando os isótopos do oxigênio, hidrogênio, carbono e estrôncio e a salinidade das águas de formacão da Formação Chaunoy na Bacia de Paris concluíram haver, nesse local, uma dependência da salinidade da água com a profundidade em que a mesma se encontra e com a localização geográfica dos poços, sendo que a concentração de solutos totais dissolvidos decresce do norte para o sul da bacia devido à entrada de água doce principalmente de origem meteórica. Segundo os autores, os isótopos analisados apresentaram valores bem similares aos das águas meteoricas atuais, o que sugere que a entrada dessas águas é um fenômeno recente e se dá devido a falhas localizadas principalmente na faixa aflorante da formação sul da bacia. As altas concentrações de solutos, encontradas no nível mais profundo dos poços localizados no norte da bacia, foram interpretadas como originadas, principalmente, da interação água-rocha a partir da dissolução de halita e que se moveram em um determinado período, interagindo intensamente com as rochas, levando a um enriquecimento considerável no δ18O. A parte central da bacia ainda conserva a água aprisionada durante a sua formação (água conata), que não interagiu tão intensamente com as rochas. Estas águas, provavelmente de origem paleometeórica, moveram-se por convecção para a porção leste da bacia devido ao gradiente de temperatura em diferentes pontos, levando ao fracionamento do liquido, enriquecendo-o em isótopos pesados.
A partir do estudo de traçadores como o Cl, Br, δ2H e δ18O e da salinidade, Ziegler et al. (2001) descrevem um modelo paleo-hidrodinâmico para a origem e movimentação de fluidos no Campo de Oseberg (Mar do Norte), concluindo que houve a entrada de água de origem marinha, após a principal fase de migração do óleo. Isto foi indicado pela diferença da composição isotópica da água deste poço em relação aos outros, o que evidenciou uma mistura de água do mar e água meteórica atual.
Rostron & Holmden (2003) analisaram a razão isotópica do oxigênio em águas de formação amostradas em campos da Bacia de Williston (Canadá - EUA), concluindo que as mesmas sofrem infiltrações de água em determinadas áreas, levando a um empobrecimento em isótopos pesados em seus aquíferos. Além disso, identificaram um lento fluxo de "salmoura" em direção a áreas estagnadas, bem como a presença de água glacial recente que indica uma recarga em subsuperfície.
De acordo com Morad et al. (2003) as águas de formação podem ser originadas a partir das águas conatas, águas oceânicas, águas oceânicas evaporadas, águas meteóricas, águas subterrâneas evaporadas ou ainda, águas magmáticas. Ainda segundo os autores, quase toda a água de formação sofre interações com rochas resultando em uma evolução de sua composição isotópica.
A contaminação do poço, com águas ricas em oxigênio, ou não, nutrientes e microorganismos, como as águas meteóricas, pode causar a biodegradação do óleo, acarretando perda de suas frações nobres, diminuindo o seu grau API, elevando a sua viscosidade e acidez, tornando dispendiosos a produção, transporte, processamento e refino (Seewald, 2003).
Neste trabalho foi feita a análise isotópica e medido o pH e a condutividade de águas de formação de um campo de petróleo e gás da Bacia do Recôncavo, em poços livres de recuperação secundária procurando determinar, a partir desses resultados, os parâmetros que controlam essa composição, tais como contato com água superficial, interação água-rocha, contato entre poços. Além disso, foram analisados métodos para tratamento e análise de águas hipersalinas.
TRATAMENTO DE AMOSTRAS E AMOSTRAGEM
A preparação e análise das amostras foram executadas no Laboratário de Física Nuclear Aplicada, LFNA/UFBA, sendo elas provenientes de um campo da Bacia do Recôncavo e cedidas pela Petrobras. Durante o processo de amostragem houve bastante cautela nas etapas de transporte e armazenamento, evitando-se perdas através da evaporação e/ou trocas isotópicas com o meio. Por isso, visando assegurara pureza das amostras coletadas, bem como a padronização dos métodos de amostragem, a metodologia adotada nas coletas e na estocagem das amostras procurou seguir o protocolo indicado por Lemay (2002). As amostras foram retiradas na cabeça do poço, e são constituídas basicamente de uma mistura de água, óleo e gás. Elas foram inicialmente armazenadas em um "barrilete" de 5 litros, lacradas e deixadas em repouso por 24 horas para que decantassem e, dessa forma, separassem o óleo da água e então, por diferença de densidade, a água ocupasse a parte inferior do recipiente fazendo o óleo flutuar. Posteriormente, a água foi retirada por uma torneira disposta na parte inferior do recipiente, filtrada em lã de vidro e em um filtro qualitativo passando em seguida por um novo processo de filtração, agora utilizando um filtro Millipore®, que retém partículas de até 0,45/µm. A água foi então armazenada, em frascos de vidro de 1 litro e frascos menores de 100 ml e fechados com batoque e tampas de plástico e acondicionada em geladeira. Inicialmente, as amostras de oxigênio foram preparadas em uma linha de extracão, separada do espectrômetro, a partir da técnica de micro-equilíbrio da água com CO2, e ficavam em repouso em um banho ultratermostático, a 25ºC por 24 horas para em seguida, a partir da linha de extração, captura-se o CO2 resultante que, equilibrado com a água, revelava a sua composição isotópica. Com o processo de modernização do laboratório, um novo equipamento foi introduzido, o GasBench II da ThermoFinnigan, ligado diretamente ao espectrômetro de massas, que opera utilizando fluxo contínuo. Para várias amostras foram obtidos resultados usando os dois métodos, sendo que os seus resultados foram comparados, o que serviu como uma certificação do seu bom funcionamento além da sua precisão e reprodutibilidade.
Análise isotópica do hidrogênio e do oxigênio de água hipersalina
Para determinar a razão Deutério/Hidrogênio (2H/1H) é utilizado, principalmente, o método apresentado por Brand et al. (2000), que consiste em obter o hidrogênio que constitui a água, atravós da redução da mesma a 850ºC com cromo metólico, em um aparelho denominado H-Device que é diretamente ligado ao espectrômetro de massa.
Alíquotas de aproximadamente 2,0/µl da amostra são injetadas nesse reator, ilustrado na Figura 1, com consequente liberação do H2 representado pela equação abaixo:
O hidrogênio é então direcionado para o espectrometro de massa onde é analisado em relação a um gás de referência. Quando se trata de águas hipersalinas, como geralmente são as águas de formação, o processo de oxi-redução é comprometido devido a grande quantidade de sais totais dissolvidos que precipita e danifica o reator. Como alternativa para este problema há vários trabalhos na literatura especializada, dentre os quais Bourg et al. (2001) que utilizaram o método de equilíbrio água-gás, e que chegaram à conclusão de que havia um certo efeito da concentração dos solutos sobre a razão D/H da amostra em relação à razão 2 H/1H da água pura, o que tornaria o processo inviável. Em contrapartida, concluíram não haver significante influência da salinidade nos isótopos do oxigênio. Koehler et al. (1991) realizaram medidas da composição isotópica de soluções salinas com diferentes concentrações utilizando destilação por micro-equilíbrio, com o qual chegou a conclusão de não haver variação isotópica da amostra com o aumento da quantidade de sais totais dissolvidos, no que diz respeito ao hidrogênio, porem notou um certo fracionamento que ocorre devido aos sais de Mg contidos na solução analisada. Nessas águas um pre-tratamento faz-se necessário, visto que, o excesso de sais totais dissolvidos seria precipitado durante o processo de oxi-redução, danificando o reator que contem o cromo metálico. O pre-tratamento consiste em destilar a amostra de modo a retirar os sais totais dissolvidos, mas preservando integralmente suas características isotópicas, possibilitando desta forma, a analise em espectrometro de massa a partir do H-Device.
Processo de destilação da água hipersalina
A extração dos sólidos dissolvidos foi obtida a partir de uma destilação criogênica sob vácuo. O aparato de destilação consiste de uma linha cilíndrica de aproximadamente 150 cm ligada lateralmente a uma bomba evacuadora e inferiormente a seis linhas mais curtas de aproximadamente 25 cm de comprimento, independentes uma da outra, e tendo encaixados em suas extremidades dois balões de volume 100 ml cada como ilustra a Figura 2.
Após passar pelo processo de filtração, aproximadamente 15 ml da amostra foram colocados em um dos balões (balão amostrador). Em seguida o mesmo foi mergulhado em nitrogênio líquido por aproximadamente 10 minutos, tempo suficiente para que toda a amostra congelasse. Posteriormente, evacuou-se cada par isoladamente, Figura 3, de modo a evitar a contaminação entre as amostras, obtendo-se um ambiente de baixa pressão (<10 -2 mbar). Obtendo-se a pressão desejada, o nitrogênio líquido foi retirado e o balão, com a amostra, aquecido em banhomaria a cerca de 40ºC. A água evapora e condensa no outro balão, mergulhado em nitrogênio líquido, denominado de balão coletor. Observada a evaporação quase completa da água, apos um tempo médio de aproximadamente 20 minutos, o balao amostrador é aquecido a 150ºC com uma manta térmica por aproximadamente 5 minutos a fim de se obter a evaporação completa da água da amostra e capturá-la no balao coletor de modo a evitar o seu fracionamento isotopico. No balão coletor toda a água coletada congelada, se funde sob temperatura ambiente, e em seguida é recolhida num frasco de vidro de 15 ml fechado com batoque e tampa de plástico. Devido ao volume de sal precipitado no balão amostrador, observa-se uma redução do volume de água coletada em comparação com a amostrada.
Na destilação deve-se evitar o fracionamento isotépico que é uma variação na razão isotópica de um determinado elemento. Ressalta-se que na natureza são justamente variações na abundência isotópica de elementos tais como H, C, N, O, Si e S que tornam possével sua utilização como traçadores. Em laboratório, depois de coletada uma determinada amostra, o fracionamento deve ser evitado ao maximo, ou do contrario, levaria a uma perda da identidade isotópica da mesma descaracterizando-a. Como o método de extração do sal poderia causar o fracionamento da amostra, algumas precauções tiveram que ser tomadas a fim de garantir que a sua razão isotópica nao variasse. A eficiência do método de destilação e a reprodutibilidade das medidas foram aferidas através da destilação de águas sintéticas, que foram preparadas misturando-se quantidades pré-determinadas de sal marinho em uma água matriz, cuja composição isotópica era conhecida. Ao fim da destilação dessas águas elas foram analisadas e as suas razões isotópicas comparadas com os valores isotépicos da água matriz, devendo essa diferença estar dentro de um desvio avaliado de ± 1 para o hidrogênio e de ± 0,1 no que diz respeito ao oxigênio.
Na Tabela 1 apresentam-se as caracterésticas de salinidade das amostras sintéticas bem como sua composição isotópica e seu desvio com relação à água matriz, cuja composição isotópica, com e sem destilação, também é apresentada. Os resultados das análises dessas águas apresentam um δD mádio de 1 e δ18O mádio de -1,2, ambos calculados em relação ao padrao internacional VSMOW, com desvios dentro de 1 para o δD e 0,1 para o δ18O. A composição isotópica apás a destilacão não sofreu grandes variações entre si e em relação à água matriz atestando a confiabilidade e reprodutibilidade do mátodo de destilação criogênica.
ÁREA DE ESTUDO
A Bacia do Recôncavo tem aproximadamente 11500 km 2 de área. Localizada no Estado da Bahia, foi a primeira bacia petrolífera explorada no Brasil, possuindo hoje mais de 5000 poços perfurados. Sua origem e evolução estão ligados à formação do Atlântico Sul e da Margem Continental Brasileira, guardando um importante registro geológico na forma de uma seção lacustre que inclui basicamente folhelhos e arenitos. Segundo Bruhn & De Ros (1987) a coluna estratigráfica do Recôncavo, ilustrada na Figura 4, divide a bacia, da base para o topo, nas formações Aliança, Sergi, Itaparica, Candeias, Salvador, Marfim, Pojuca, São Sebastião e Marizal. Suas principais rochas geradoras de petróleo estão incluádas na Formação Candeias, sendo representadas por folhelhos escuros e cinza-esverdeados que ocorrem intercalados com folhelhos calcíferos pretos, lentes micráticas de calcários e turbiditos siliciclaticos (Milhomem et al., 2003).
Segundo Gaglianone & Trindade (1988) dados geoquimicos caracterizam o paleoambiente deposicional das rochas geradoras como lacustre de água doce com fundo anóxico, o que propiciou a eficiência da preservacão da matéria orgânica ali depositada, sendo esta predominantemente rica em lipídios, derivada principalmente de algas, bactérias e alguns vegetais superiores (angiospermas).
Para este trabalho, extraiu-se um total de 12 amostras em 10 poços diferentes, situados em profundidades que variaram de 450 metros a 1800 metros, drenando 4 níveis diferentes de produção desse campo, cuja seção geológica é apresentada na Figura 5. Trata-se de um campo maduro de produção, com grande porcentagem de água nos fluidos extraídos.
Segundo Coste & Valois (2000), campos maduros são aqueles que possuem um histórico de produção relativamente longo, com muitos poços perfurados e que atualmente apresentam declínio na produção e que necessitam de operação e tecnologias específicas para recuperar a sua rentabilidade como é o caso da referida bacia. Espera-se que a análise da composição isotópica da água de formação possa contribuir para o conhecimento da dinâmica dos fluidos no reservatório e aumentar o fator de recuperação desses campos.
RESULTADOS
Na Tabela 2 apresentam-se o pH, a condutividade elátrica, profundidade média de cada nível de produção bem como o resultado da composição isotópica das amostras. O pH das águas coletadas, exceto pela amostra do poço 10_2, variou entre 5,9 e 7,5 evidenciando um caráter neutro a ligeiramente ácido. A amostra 10_2, que representa uma segunda coleta no poço 10, possivelmente teve o seu pH alterado por algum fator externo, que embora tenha alterado o seu valor, não comprometeu a composição isotópica da amostra. Os resultados do δ18 O apresentados foram obtidos, a partir dos mátodos por equiábrio "off-line", com introdução via dual-inlet, e por fluxo contánuo usando o Gas-Bench®. Para as medidas de δD são apresentados os resultados feitos por injeção manual no H-Device e por injeção através de amostrador automático.
Para garantir a eficiência de cada destilação, a razão isotópica 18 O/16 O foi medida nas amostras destiladas e nao destiladas, sendo posteriormente comparadas verificando-se não haver, dentro do desvio aceitável, variações significativas na composição isotópica do oxigênio devido a destilação. Nota-se, porém, um pequeno enriquecimento em 18O das amostras destiladas em relação às não destiladas, onde supoe-se ser resultado da hipersalinidade das águas que influenciaria o tempo de equilóbrio água - gás, no GasBench.
DISCUSSÃO
Salinidade
Segundo Archer & Wall (1994), a salinidade das águas de formação e a principal forma de controle da sua resistividade e um parametro essencial para o calculo de reservas de óleo. Na água, a condutividade e diretamente relacionada com o seu conteudo iônico. A concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) e um índice de quantidade de substâncias dissolvidas na água e e diretamente proporcional aà condutividade elétrica. Nelas a CE e consequentemente o teor de STD são bastante variaveis, variando desde essencialmente doces com menos de 0,9 /µS/cm (1,0 g/l) até salmouras com mais de 248,7 mS/cm, (250,0 g/l) (Levorsen, 1958). Nos reservatórios analisados, os valores da condutividade elétrica das amostras variaram de 84 a 137 mS/cm, que correspondem aproximadamente a uma faixa de valores de STD numericamente equivalente de 84 a 137 g/l. Os valores mais baixos de 84 e 86 mS/cm foram registrados na zona de produção de 435 a 486 metros, e com valores variando na faixa de 120 a 140 mS/cm nos outros níveis de produção. Tal variabilidade evidencia uma interação da água, em níveis mais profundos com rochas, dissolvendo seus minerais. Tal efeito e potencializado pelo longo tempo de armazenamento dessas águas e pelas altas temperaturas características de maiores profundidades.
Composição isotópica
Os resultados obtidos, mostrados na Tabela 2, apresentam uma composição isotópica que varia entre s 2 a s
2 a s 16 para o δD e entre s
16 para o δD e entre s 0,1 e s
0,1 e s 3,4 para δ18O. Relacionando a composição isotópica com o nível de extração (Figs. 6 e 7) percebe-se, analogamente à condutividade elétrica, que o enriquecimento se da em direção aos níveis mais profundos de extração, homogeneizando-se em grandes profundidades, como ilustra as referidas figuras.
3,4 para δ18O. Relacionando a composição isotópica com o nível de extração (Figs. 6 e 7) percebe-se, analogamente à condutividade elétrica, que o enriquecimento se da em direção aos níveis mais profundos de extração, homogeneizando-se em grandes profundidades, como ilustra as referidas figuras.
Das 12 amostras analisadas quase todas, com exceção da produzida no nível mais raso apresentaram uma composição isotópica rica em 2H e 18O em relação à água do mar. Construindo o diagrama δD Vs δ18O, ilustrado na Figura 8, verifica-se que a distribuição dos pontos se alinha em torno da reta de regressão linear com o coeficiente angular bem menor que a linha meteórica global e bem mais enriquecida que a água do mar. A amostra com composição isotópica próxima à linha meteorica global esta localizada no nível mais raso da formação, a uma profundidade de 300 metros, possivelmente represente a composição isotópica da água que entrou na bacia durante a sua deposicão. Porem, como o poço em que estas amostras foram retiradas esta situado próximo a uma zona de recuperação secundaria, feita a partir da injeção de água, pode ter havido uma eventual contaminação das mesmas fazendo variar a sua composição isotópica. A hipotese de uma possível infiltração de água meteorica recente e descartada pois, segundo Gaglianone & Trindade (1988), não ha evidencias de biodegradação nos óleos da Bacia do Recôncavo.
A composição isotópica das amostras provenientes de profundidades entre 1450 e 1800 metros estão distribuídas numa faixa muito estreita sugerindo não haver compartimentabilização nessa zona de produção.
Os resultados plotados no diagrama δ2H x δ18O se alinham ao longo de uma linha de regressão linear com coeficiente angular menor que o da linha meteorica global, provavelmente resultado da maior interação água-rocha com o aumento da profundidade. A depleção em 2H e 18 O poderia estar relacionada a processos de filtragem natural da água através de folhelhos e argilas compactados que agiriam como membranas semipermeaveis (Coplen & Hanshaw, 1973).
CONCLUSÕES
A aplicação da técnica de destilacão criogênica de águas hipersalinas permitiu a análise isotópica da água de formação de um campo de petróleo da Bacia do Recôncavo, cujo teor de sais totais dissolvidos era muito superior a da água do mar, possibilitando, juntamente com a analise físico-químico, a identificação da dinâmica do fluxo subterrâneo daquele líquido bem como a interação com sua vizinhança. A destilação criogênica de águas hipersalinas revelou-se segura e reprodutível à analise isotópica, não interferindo significativamente na composição isotópica das amostras, isto é, não gerou o fracionamento e consequentemente a perda da identidade isotópica da mesma, podendo, portanto ser aplicável, não sé a amostras de águas de formação como também a qualquer solução aquosa que contenha uma alta concentração de solutos dissolvidos.
Os gráficos de δD e δ18O versus a profundidade, assim como a anélise da condutividade elétrica, indicam um enriquecimento em isétopos pesados e em solutos dissolvidos com a profundidade o que sugere uma forte interação água-rocha, potencializada pelo movimento e pelo longo período de armazenamento da água, em níveis mais profundos do campo. O poço 1, localizado no nível mais raso, apresentou uma composição isotópica proxima a da água do mar. Tal resultado sugere que essa amostra contém a composição isotópica da água original que entrou na formação durante a sedimentação da bacia, desde que a falta de correlação com água metérica superficial é atestada pela inexistência de biodegradação dos óleos deste campo.
Os valores de δD e δ18 O apresentam uma boa correlação, e se alinham na regressão linear com um coeficiente angular menor que o da linha meteorica global, estando os dados isotopicos fora e aà direita dessa mesma linha, o que reforça a hipótese de aumento da interação água-rocha com a profundidade, possivelmente através do processo de ultrafiltração da água por argilas compactadas, agindo como membranas semipermeáveis.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Petrobras, pelo financiamento e disponibilidade de amostras. Aos Geologos Bruno Matos e Michael Strugale, integrantes da UN-Ba, pelo apoio técnico e pelas sugestões e correções feitas ao decorrer do trabalho e também aos revisores da RBGf pelos valiosos comentérios e sugestões. O primeiro autor agradece à CAPES e ao CNPq, pela concessão da bolsa de mestrado.
REFERENCIAS
ARCHER JS & WALL CG. 1994. Petroleum Engineering: Principles and Practice. Graham and Trotman, London. 350 p.
BOURG C, STIEVENARD M & JOUZEL J. 2001. Hydrogen and oxygen isotopic composition of aqueous salt solutions by gas-water equilibration method. Chemical Geology, 173: 331-337.
BRAND WA, AVAK H, SEEDORF R, HOFMANN DE & CONRADI T. 2000. New methods for fully automated isotope ratio determination from hydro gen at the natural abundance level. Geoph. Prosp., 28: 967-976.
BRUHN CHL & DE ROS LF. 1987. Formação Sergi: evolução de conceitos e tendências na geologia de reservatorios. Boletim de Geociências da Petrobras, 1(1): 25-40.
CAIXETA JM, BUENO CV, MAGNAVITA LP & FEIJO FJ. 1994. Bacias do Recôncavo, Tucano e Jatobá. Boletim de Geociências da Petrobras - Estratigrafia das Bacias Sedimentares Brasileiras, 8(1): 163-172.
COPLEN TB & HANSHAW BB. 1973. Ultrafiltration by a compacted clay membrane -1 . Oxygen and hydrogen isotopic fractionation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 37: 2295-2310.
COSTE JF & VALOIS JP. 2000. An Innovative Approach for the analysis of Production History in Mature Fields: A Key Stage for Field Reengineering. In: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas. EUA. Disponível em: <http:/www.spe.or>. Acesso em: 22 fev. 2002.
GAGLIANONE PC & TRINDADE LAF. 1988. Caracterização Geoquimica dos Óleos da Bacia do Recôncavo. Geochimica Brasiliensis, 2(1): 15-39.
GROOT PA. 2008. Handbook of Stable Isotope Analytical Techniques, Vol II, Elsevier, B.V., Oxford. 1398 p.
KOEHLER GD, CHIPLEY D & KYSER TK. 1991. Measurement of the hydrogen and oxygen isotopic compositions of concentrated chloride brines and brines from fluid inclusions in halite. Chem. Geol. (Isot. Geosci. Sect.), 94: 45-54.
LEMAY TG. 2002. Sampling of Formation water from Wells in the Athabasca Oil Sands (in Situ) Area, Alberta, 1999-2001. A Compilation of Protocols and Methods; Albeta Energy and Utilities Board, EUB/AGS Geo-Note 11. 40 p.
LEVORSEN AI. 1958. Geology of Petroleum. Freeman and Company, INC San Francisco. 703 p.
MILHOMEM PS, MAMAN EJ, OLIVEIRA FM, CARVALHO MS & SOUZA LIMA W. 2003. Bacias Sedimentares brasileiras, Bacia do Recôncavo, Phoenix, 51.
MORAD S, WORDEN RH & KETZER JM. 2003. Oxygen and hydrogen isotope composition of diagenetic clay minerals in sandstones: a review of the data and controlling parameters. In: WORDEN RH & MORAD S (Eds.). Clay Mineral Cement in Sandstones. Int. Assoc. Sediment., Spec. Publ., 34: 63-91.
ROSTRON BJ & HOLMDEN C. 2003. Regional variations in oxygen isotopic compositions in the Yeomanand Duperow aquifers, Williston basin (Canada-USA). Journal of Geochemical Exploration, 78-79: 337-341.
SEEWALD JS. 2003. Organic-inorganic interaction in petroleum producing sedimentary basins. Nature, 426: 327-333.
WEST AG, PATRICKSON SJ & EHLERINGER JR. 2006. Water extraction times for plant and soil materials used in stable isotope analysis. Rapid Commun. Mass Spectrom., 20:1317-1321.
WORDEN RH, MANNING DAC & BOTTRELL SH. 2006. Multiple generations of high salinity formation water in the Triassic Sherwood Sandstone: Wytch Farm oilfield, onshore UK. Applied Geochemistry, 21: 455-475.
ZIEGLER K, COLEMAN ML & HOWARTH RJ. 2001. Palaeohydrodynamics of fluids in the Brent Group (Oseberg Field, Norwegian North Sea) from chemical and isotopic compositions of formation waters. Applied Geochemistry, 16: 609-632.
Recebido em 21 dezembro, 2009 / Aceito em 15 março, 2010
Received on December 21, 2009 / Accepted on March 15, 2010
NOTAS SOBRE OS AUTORES
Danilo Ribeiro de Sá Teles. Graduado em Física pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente é aluno de Pós-graduação do Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia (CPGG) da UFBA. Trabalhou no Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente, na mesma universidade, como Professor Substituto.
Antônio Expedito Gomes de Azevedo. Graduado como Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo em 1963, e Ph.D. em Ciências da Terra pela Columbia University e Lamont-Doherty Geological Observatory em 1982. Atua desde 1965 como Professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, atualmente é professor participante no Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente e no Curso de Pós-graduação em Geofísica. Vem trabalhando com isótopos estáveis, com interesse em Hidrologia Isotópica, Ciclo do Carbono, Paleoclimatologia e Caracterização isotópica de água de formação e de óleos de bacias petrolíferas.
Christian Pereira Lopes dos Santos. Possui graduacão em Engenharia de Agrimensura pela Escola de Engenharia de Agrimensura da Bahia (2000), Mestrado e Doutorado na Universidade Federal da Bahia. Foi colaborador no Laboratorio de Física Nuclear Aplicada (LFNA) e atualmente á professor do Instituto Federal Baiano. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geofísica Aplicada e Geofísica Nuclear (Pura e Ambiental), podendo atuar principalmente nos seguintes temas: Eletrorresistividade, Magnetometria, Hidrologia Isotápica, Hidrogeologia e Hidrogeoquímica.
- ARCHER JS & WALL CG. 1994. Petroleum Engineering: Principles and Practice. Graham and Trotman, London. 350 p.
- BOURG C, STIEVENARD M & JOUZEL J. 2001. Hydrogen and oxygen isotopic composition of aqueous salt solutions by gas-water equilibration method. Chemical Geology, 173: 331-337.
- BRAND WA, AVAK H, SEEDORF R, HOFMANN DE & CONRADI T. 2000. New methods for fully automated isotope ratio determination from hydro gen at the natural abundance level. Geoph. Prosp., 28: 967-976.
- CAIXETA JM, BUENO CV, MAGNAVITA LP & FEIJO FJ. 1994. Bacias do Recôncavo, Tucano e Jatobá. Boletim de Geociências da Petrobras - Estratigrafia das Bacias Sedimentares Brasileiras, 8(1): 163-172.
- COPLEN TB & HANSHAW BB. 1973. Ultrafiltration by a compacted clay membrane -1 . Oxygen and hydrogen isotopic fractionation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 37: 2295-2310.
- COSTE JF & VALOIS JP. 2000. An Innovative Approach for the analysis of Production History in Mature Fields: A Key Stage for Field Reengineering. In: SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas. EUA. Disponível em: <http:/www.spe.or>. Acesso em: 22 fev. 2002.
- GROOT PA. 2008. Handbook of Stable Isotope Analytical Techniques, Vol II, Elsevier, B.V., Oxford. 1398 p.
- KOEHLER GD, CHIPLEY D & KYSER TK. 1991. Measurement of the hydrogen and oxygen isotopic compositions of concentrated chloride brines and brines from fluid inclusions in halite. Chem. Geol. (Isot. Geosci. Sect.), 94: 45-54.
- LEMAY TG. 2002. Sampling of Formation water from Wells in the Athabasca Oil Sands (in Situ) Area, Alberta, 1999-2001. A Compilation of Protocols and Methods; Albeta Energy and Utilities Board, EUB/AGS Geo-Note 11. 40 p.
- LEVORSEN AI. 1958. Geology of Petroleum. Freeman and Company, INC San Francisco. 703 p.
- MILHOMEM PS, MAMAN EJ, OLIVEIRA FM, CARVALHO MS & SOUZA LIMA W. 2003. Bacias Sedimentares brasileiras, Bacia do Recôncavo, Phoenix, 51.
- MORAD S, WORDEN RH & KETZER JM. 2003. Oxygen and hydrogen isotope composition of diagenetic clay minerals in sandstones: a review of the data and controlling parameters. In: WORDEN RH & MORAD S (Eds.). Clay Mineral Cement in Sandstones. Int. Assoc. Sediment., Spec. Publ., 34: 63-91.
- ROSTRON BJ & HOLMDEN C. 2003. Regional variations in oxygen isotopic compositions in the Yeomanand Duperow aquifers, Williston basin (Canada-USA). Journal of Geochemical Exploration, 78-79: 337-341.
- SEEWALD JS. 2003. Organic-inorganic interaction in petroleum producing sedimentary basins. Nature, 426: 327-333.
- WEST AG, PATRICKSON SJ & EHLERINGER JR. 2006. Water extraction times for plant and soil materials used in stable isotope analysis. Rapid Commun. Mass Spectrom., 20:1317-1321.
- WORDEN RH, MANNING DAC & BOTTRELL SH. 2006. Multiple generations of high salinity formation water in the Triassic Sherwood Sandstone: Wytch Farm oilfield, onshore UK. Applied Geochemistry, 21: 455-475.
- ZIEGLER K, COLEMAN ML & HOWARTH RJ. 2001. Palaeohydrodynamics of fluids in the Brent Group (Oseberg Field, Norwegian North Sea) from chemical and isotopic compositions of formation waters. Applied Geochemistry, 16: 609-632.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
03 Set 2010 -
Data do Fascículo
Jun 2010
Histórico
-
Aceito
15 Mar 2010 -
Recebido
21 Dez 2009