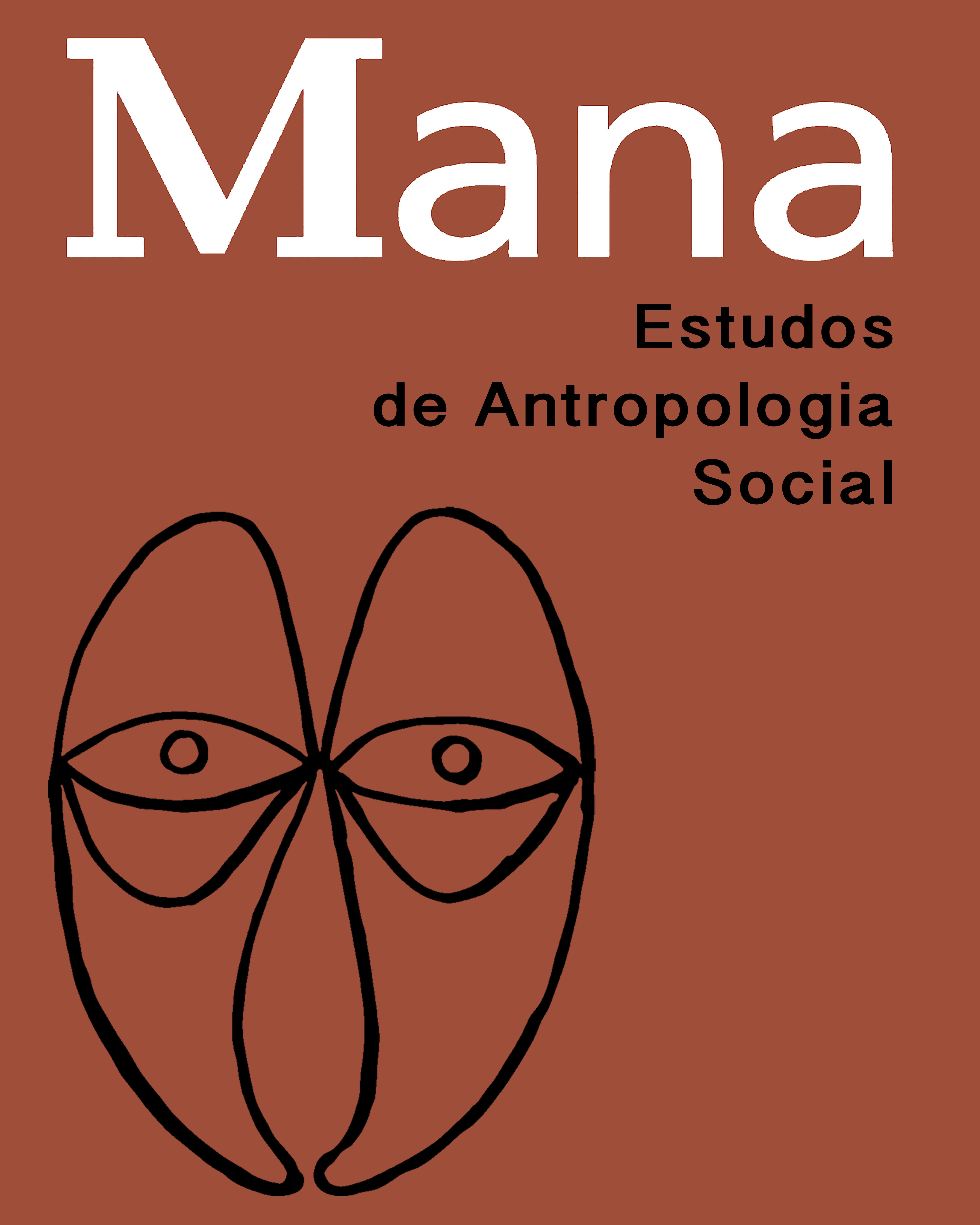Diferentes exercícios de antropologia histórica realizados ao longo das últimas décadas pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira, professor titular do programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram exemplarmente organizados na obra O nascimento do Brasil e outros ensaios. De uma perspectiva etnográfica e dialógica - combinando o olhar antropológico com a crítica historiográfica - e a partir de situações históricas diversas, os textos identificam, descrevem e questionam cinco regimes de alteridade com os quais se tem representado a presença indígena em diferentes momentos da nação brasileira. Um primeiro regime representou os grupos indígenas como “nações”, atribuindo um caráter de nobreza a alguns dos grupos; só posteriormente surgiria a construção de primitividade e canibalismo que, porém, não foi o registro dos primeiros contatos.
O segundo regime é caracterizado pela separação entre índio colonial e índio bravo, assim como pelos locais que cada um ocupava, justificando as práticas diferenciadas de cativeiro e escravização e marcando uma clivagem na historiografia nacional. No terceiro regime, o indígena está sempre remetido ao passado, as artes românticas contribuíndo com a imagem cuidadosamente estetizada de um ente autóctone, anterior ao contato com os colonizadores. A mesma aura romântica aparece no quarto regime, mas a distância muda de registro, indo do registro temporal do indígena no passado para o registro espacial do indígena geograficamente afastado, confinado nas florestas e nas regiões mais remotas do país. Finalmente, é só no quinto regime que os indígenas são os protagonistas de sua própria representação; usando elementos híbridos, salienta o autor, os indígenas tomam a cena pública para narrar sua história, ou melhor, suas histórias, sempre plurais e sempre mostrando uma multiplicidade de relatos possíveis.
Apesar do seu caráter intencionalmente fragmentário, que permite a leitura dos nove capítulos que compõem o livro de maneira independente, uma das grandes qualidades da publicação é oferecer, em um volume só, um conjunto muito bem articulado de discussões e categorias. Dessa maneira, cada capítulo propõe ferramentas analíticas que subsidiam uma reflexão mais complexa das situações discutidas nos outros. A leitura dos capítulos sete e oito, por exemplo, correspondem a situações históricas mais próximas do tempo presente (a sociogênese dos movimentos indígenas e a transformação dos marcos jurídicos da nação com o processo de redemocratização do país marcado pela mudança constitucional de 1988) e contribuem para reforçar, por meio do estudo de experiências talvez mais familiares para alguns leitores, a complexidade das estratégias e dos atores envolvidos nas interações entre populações indígenas e outros grupos da sociedade nacional.
A atenção às estratégias políticas heterogêneas, aos interesses às vezes contraditórios e à multiplicidade de articulações e pautas que marcam a história recente da participação política dos indígenas no Brasil enfraquece a leitura que atribui uma suposta unicidade e coerência às populações nativas tanto no presente quanto no passado. Essa complexidade salientada pelo autor também contribui com seu propósito de questionar a construção histórica das categorias nativo/colonizador “como categorias totalizadoras e simetricamente opostas”, revelando diferenças fundamentais segundo dinâmicas locais e situações históricas concretas, mesmo que dentro de configurações sociais maiores que, de forma genérica, podem ser caracterizadas pela desigualdade e a assimetria de poder. Dessa maneira, cada capítulo oferece em si mesmo um deslocamento comparativo por múltiplas escalas temporais. Mas o livro em seu conjunto permite, além disso, a comparação de situações e contextos diferentes.
Tal consistência teórica e metodológica faz transcenderem as possibilidades de reflexão sobre os cenários marcados pela presença indígena referidos pelo autor, permitindo questionar também a produção de outros regimes de alteridade caracterizados pela subalternização de populações de origens raciais e étnicas diferentes, como evidenciado no nono capítulo, na análise do processo de “pacificação” das favelas do Rio de Janeiro. Na minha leitura, a proposta do regime tutelar pode ser uma ferramenta imprescindível também para outras áreas, como o caso das investigações sobre imigração, nas quais é especialmente relevante a compreensão das tradições burocráticas coloniais (ainda muito ativas) desdobradas para a administração e a permanente vigilância sobre as populações construídas como os outros da nação. Se na leitura dos ensaios o autor deixa claro que extermínio e tutela são facetas solidárias da ação colonial, assombra a coincidência a forma contemporânea de gerir as crises migratórias mundiais em que os regimes de administração humanitária se caracterizam por uma movimentação, nem sempre bem delimitada, entre proteção e criminalização, compaixão e aniquilamento.
O prefácio, expressamente escrito para apresentar a proposta do livro, orienta de maneira precisa a trilha de leitura da obra. É nesse prefácio que começa o diálogo entre o mundo colonial e a contemporaneidade. Por meio da análise crítica tanto dos poderes disciplinadores que marcam a relação entre indígenas e grupos dominantes ao longo da história do Brasil quanto dos modos de resistência, sempre heterogêneos dos primeiros, o autor interroga o regime de verdade que se instalou no senso comum e nos saberes científicos quando se trata de pensar o papel desempenhado pelas populações indígenas na formação do Brasil. Portanto, o livro não chama a atenção somente sobre os formatos consumidos e reproduzidos por um público leigo que teria se apropriado de maneira acrítica das representações hegemônicas e totalizantes sobre as populações indígenas, mas também pelo questionamento da reprodução desses regimes de representação por parte de agentes sociais com prestígio e poder de fala sobre o assunto que, pretendendo mudar uma suposta invisibilização ou estigmatização das populações indígenas, terminam encaixando suas críticas numa estrutura narrativa que permite deslocar pouco ou nada tais representações.
Nesse sentido, a análise dos regimes de alteridade proposta ao longo do livro sugere uma discussão sobre a compreensão mesma da história como categoria, mas também como disciplina na sua relação com a antropologia. O primeiro capítulo do livro constrói essa sólida crítica ao paradigma historiográfico e à sua consequente narrativa sobre a colonização, na qual a história foi concebida como uma sequência de acasos com um destino final quase preestabelecido que independe dos sujeitos históricos envolvidos na trama de relações. Mostra ainda a forma com que esta concepção contribuiu na produção dos indígenas como sujeitos preexistentes à colonização e ao processo de criação de uma nação brasileira e, do mesmo modo, como sujeitos sempre à margem da economia nacional.
Os jogos de memória e esquecimento que permitiram a reapropriação simbólica do indígena no século XIX, tratados no capítulo dois, vêm reforçar a necessidade do escrutínio etnográfico das fontes historiográficas através das quais foi produzida uma visão de paz e harmonia na constituição do Estado-nacional. Dessa leitura hegemônica e naturalizante, e de suas revisões posteriores, não apenas foram omitidas as relações cruentas com as populações nativas, mas especialmente o caráter ideológico e político dos diferentes projetos econômicos que terminaram por impor no imaginário nacional uma fronteira espacial e não apenas temporal para os indígenas, relegando sua presença aos confins supostamente inexplorados do território, “às fronteiras externas do país” (:110).
Por isso, talvez uma das mais importantes contribuições dos ensaios seja reconstruir, com fontes cuidadosamente revisadas - incluindo uma preocupação pelas condições envolvidas na produção dos dados, que o autor conceitualiza como situação etnográfica - as múltiplas escalas e temporalidades intrincadas na produção das várias fronteiras que permitem delimitar a existência diferenciada de grupos e desenhar seus vínculos com determinados territórios, assim como arquitetar as relações de alteridade. Processo esse que requer o acionamento de categorias identitárias com direitos muito bem diferenciados, como exemplificado no quarto capítulo com a distinção entre caboclo e índio bravo. Para conseguir esse propósito, é questionada também a fronteira disciplinar entre antropologia e história, que foi coadjuvante da separação entre povos com escrita e povos sem escrita; entre passado e presente; e entre o mundo ocidental e o mundo das sociedades não ocidentais. Mais que uma divisão entre disciplinas, nos alerta o autor, a separação foi entre paradigmas teóricos que, no processo, perderam a capacidade produtiva de interrogar seu objeto simultaneamente com o olhar do etnógrafo e do historiador.
Finalmente, dentre as muitas outras contribuições do livro - que dificultam fazer justiça em apenas alguns parágrafos - gostaria de destacar aquelas relativas à fronteira, que são o foco dos capítulos três e quatro. Entendida pelo autor ao mesmo tempo como construção social e como ferramenta de análise, a fronteira é desdobrada nesses capítulos como um modelo cujas bases são elencadas pedagogicamente a partir da investigação sobre a conquista do vale amazônico: a fronteira “não é um objeto empírico real, uma região ou ainda uma fase na vida de uma região, mas uma forma de propor uma investigação” (:125).
Assim como a expansão da fronteira do seringal não é um fato natural, é possível perceber a própria divisa internacional amazônica em toda a sua arbitrariedade, e recomendar a leitura do livro para os pesquisadores interessados em aceitar o convite de uma antropologia histórica - e eu ousaria dizer que também crítica - nas diferentes localidades (amazônicas, mas não só) de outros países da América Latina. Isto pensando na possibilidade de considerar experiências locais compartilhadas que façam um contraponto à “história geral” da Amazônia como uma só região, mas que possam também combater o nacionalismo metodológico que utilizaria como base para as investigações apenas as tradições coloniais tal como apropriadas pela historiografia em cada um dos contextos nacionais. Como experiências compartilhadas não estou me referindo somente ao cativeiro, à escravização e a outros regimes de trabalho compulsório característicos do seringal, mas especialmente às ideologias e às políticas que guiaram os diferentes projetos de colonização para a Amazônia no Brasil e a América Latina, e também a sua imbricação em localidades concretas em que adquiriram dinâmicas e significados diferenciados.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Apr 2017