RESUMO:
Este artigo se propõe a descrever algumas cenas performadas por estudantes de escolas públicas paulistas, sobretudo das periferias, no VIII Slam Interescolar de São Paulo, visando discutir e analisar práticas de letramentos literários. Esse evento poético foi observado in loco pelos autores deste artigo, em específico, a performance poética da estudante do ensino fundamental II, Manoella de Souza, da Escola Estadual Dona Luiza Macuco. Os autores desta pesquisa assumem a perspectiva dos letramentos literários (Amorim; Domingues; Klayn; Silva, 2022AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da. A questão dos letramentos e dos letramentos literários. In: AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da (ed.). Literatura na escola. São Paulo: Contexto, 2022. p. 75-100.; Neves, 2021aNEVES, C. A. B. Poemar é preciso porque somos poesistência (Prefácio). In: ASSUNÇÃO, C.; JESUS, E. A. de; CHAPÉU, U. (org.) Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar. São Paulo: LiteraRUA, 2021b. v. 1, p. 8-11.), dos letramentos de reexistência (Souza, 2011SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p.; Duboc; Menezes De Souza, 2021DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.; Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009., 2019WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.) e dos letramentos críticos (Monte-Mór, 2015MONTE-MÓR, W. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. (ed.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas: Pontes, 2015. p. 31-50., 2019MONTE-MÓR, W. Letramentos críticos e expansão de perspectivas: diálogo sobre práticas. In: JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. Z.; MONTE-MÓR, W. (ed.). Letramentos em prática na formação inicial de professores de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 315-335.) em defesa do Poetry Slam como ato político-poético-performático de jovens da periferia paulistana.
PALAVRAS-CHAVE:
letramentos;
Slam Interescolar de São Paulo
; performances poéticas
ABSTRACT:
This paper aims to describe some scenes performed by students from São Paulo public schools, especially from the peripheries, at the VIII Inter-School Slams of São Paulo, to discuss and analyze literary literacies practices. This poetic event was observed on site by the authors of this paper, specifically the poetic performance of elementary school student Manoella de Souza, from the state school called Dona Luiza Macuco. The authors of this research take the perspective of literary literacies (Amorim; Domingues; Klayn; Silva, 2022AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da. A questão dos letramentos e dos letramentos literários. In: AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da (ed.). Literatura na escola. São Paulo: Contexto, 2022. p. 75-100.; Neves, 2021aNEVES, C. A. B. Poemar é preciso porque somos poesistência (Prefácio). In: ASSUNÇÃO, C.; JESUS, E. A. de; CHAPÉU, U. (org.) Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar. São Paulo: LiteraRUA, 2021b. v. 1, p. 8-11.), literacies of reexistence (Souza, 2011SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p.; Duboc; Menezes De Souza, 2021DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.; Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009., 2019WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.) and critical literacies (Monte-Mór, 2015MONTE-MÓR, W. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. (ed.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas: Pontes, 2015. p. 31-50., 2019MONTE-MÓR, W. Letramentos críticos e expansão de perspectivas: diálogo sobre práticas. In: JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. Z.; MONTE-MÓR, W. (ed.). Letramentos em prática na formação inicial de professores de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 315-335.) in defense of Poetry Slam as a political-poetic-performative act by young people from the outskirts of São Paulo.
KEYWORDS:
literacies;
Inter-School Slams of São Paulo
; poetic performances
1 Introdução
A prática de dizer poesia é uma atividade humana que remonta à Antiguidade, quando ainda nem se tinha uma definição razoavelmente delineada dos gêneros literários e suas variedades em circulação. Em Aristóteles (2011[384-322 a.C]ARISTÓTELES (384-322 a.C.). Poética. Tradução de Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2011. 96 p.), vemos as primeiras tentativas de se definir as particularidades da criação poética. Na visão do filósofo grego, cabia ao poeta transfigurar a existência em palavras, numa espécie de recriação mimética da experiência sensível.
Se, no entanto, essa percepção aristotélica guarda em si um quê dicotômico, há muito já se percebem nela peculiaridades que seguem atuando naquilo que constitui a ação poética em relação a outros fazeres com a palavra – sejam eles considerados artísticos ou não. O fato é que a poesia está no tecido social de modo inseparável da própria constituição humana: seria impossível, assim, ser e estar no mundo sem a mediação da palavra poética, sendo ela compreendida como um redimensionamento imaginativo da vida, isto é, como a possibilidade ou capacidade de transmutar a existência em outras formas de apropriação do verbal e da enunciação que apresentem diferentes modos de ver e recriar o real imediato (Hamburger, 2013HAMBURGER, K. A lógica da criação literária. Tradução de Margot P. Malnic. São Paulo: Perspectiva, 2013. 256 p.; Sartre, 2015SARTRE, J.-P. Que é a literatura? Tradução de Carlos Felipe Moisés. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 256 p.). É nesse sentido que a poesia assume aspectos de uma certa categorização que faz dela efetiva criação artística. Ainda assim, definir poesia continua sendo uma tarefa árdua, uma vez que o termo é de tal forma polissêmico que é possível, como bem sabemos, olhar, por exemplo, para uma paisagem qualquer e, ao admirá-la, adjetivá-la como poética. Isso vale para tantas outras apreciações possíveis – tenham elas ou não a assinatura humana.
Neste artigo dialogado, assumimos uma definição do poético que vai muito além daquela propagada ou validada historicamente pela academia, ou seja, aquela visão de que o fazer poético está necessariamente relacionado à erudição, a uma genialidade, ou mesmo a um dom usufruídos apenas pelos poetas. Ao contrário, para nós, a poesia é uma realidade à qual, enquanto seres humanos, nunca estamos alheios. Desse modo, ler, escrever e performar poesias independem do nível de escolarização ou formação acadêmica dos/as poetas, haja vista o fazer poético dos/as repentistas, cordelistas ou cantadores/as de aboios e toadas nordestinos, muitos dos quais não tiveram acesso a qualquer tipo de escolarização formal, mas que são mestres/as do improviso (Sautchuk, 2013SAUTCHUK, J. M. A poética do improviso: prática e habilidade no repente nordestino. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013. 363 p.).
A nosso ver, o texto poético materializa-se no corpo transformando-se em ato; é uma voz que grita em (busca de) liberdade. Nas palavras de Paul Zumthor (Zumthor, 2010, p. 11ZUMTHOR, P. Introdução à poesia oral. Tradução de Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia Diniz Pochat e Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 11., grifo nosso): “Ora, a voz ultrapassa a palavra. Ela é, segundo expressão de D. Vasse, aquilo que designa o sujeito a partir da linguagem. [...] A voz não traz a linguagem: a linguagem nela transita, sem deixar traço. [...] A voz se diz enquanto diz; em si ela é pura exigência”.
No caso específico das reflexões aqui elaboradas, voltaremos o nosso olhar para a poesia oral in-corpo-rada por estudantes da educação básica (ensino fundamental e médio) que participaram do VIII Slam Interescolar de São Paulo1 1 O Slam Interescolar de São Paulo foi idealizado pelo Coletivo Slam da Guilhermina, organizado por Emerson Alcalde, Cristina Assunção e Uiliam Chapéu. Acresce dizer que as formações e oficinas nas escolas só são possíveis graças aos/às slammers mais experientes que, voluntariamente, replicam esse trabalho de disseminação do slam, sob a coordenação do Coletivo. em 2022. O evento foi a edição final de uma competição de poesias performadas por jovens estudantes de centenas de escolas do estado de São Paulo. Trata-se de estudantes-poetas-slammers que sobem ao palco para vociferar suas poesias-slams (Neves, 2021aNEVES, C. A. B. Poemar é preciso porque somos poesistência (Prefácio). In: ASSUNÇÃO, C.; JESUS, E. A. de; CHAPÉU, U. (org.) Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar. São Paulo: LiteraRUA, 2021b. v. 1, p. 8-11.) contra as normas colonialistas preexistentes (Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009., 2019WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.), tecendo críticas (Monte-Mór, 2015MONTE-MÓR, W. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. (ed.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas: Pontes, 2015. p. 31-50., 2019MONTE-MÓR, W. Letramentos críticos e expansão de perspectivas: diálogo sobre práticas. In: JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. Z.; MONTE-MÓR, W. (ed.). Letramentos em prática na formação inicial de professores de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 315-335.) em atos de reexistência (Souza, 2011SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p.; Duboc; Menezes De Souza, 2021DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.; Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009., 2019WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.).
É, portanto, por meio dos eventos de slams escolares que as “poesias das ruas invadem as escolas” e, assim, os/as jovens poetas da periferia, os/as estudantes da escola pública, se valem da poesia para dar voz à sua própria existência, às suas vivências, às suas angústias e aos seus medos, compartilhando com seus pares suas dores e delícias versificadas. Não há regras ou melindres com a escrita poética. Todos/as os/as estudantes que participam das “batalhas poéticas” são poetas que primeiro escrevem suas poesias – “trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!”, como no poema de Olavo Bilac2 2 Referência ao soneto “A um poeta”, de Olavo Bilac (2001, p. 336), publicado no livro Tarde. – para depois encená-las teatralmente, sem medo de ser feliz, mesmo que esteja em jogo uma competição escolar.
Por isso, a noção do que é ou não poético, de quem pode ou não escrever/performar poesias, e de quem pode ou não usufruir delas, deve ser desmitificada. A poesia é de todos/as/es e para todos/as/es. É de quem tem o que dizer e não tem medo de (se) dizer o que tem a dizer no “papo reto”. No Poetry Slam, a poesia é também de quem está disposto a escutar, a gritar, a torcer, a bater palmas, a repetir slogans, a dançar ao som do DJ e, claro, a celebrar vitórias. Por essas razões – e por outras que serão apresentadas e discutidas adiante – é que consideramos os eventos de slams escolares e as poesias-slams (Neves, 2021bNEVES, C. A. B. Letramentos literários em travessias na Linguística Aplicada: ensino transgressor e aprendizagem subjetiva da literatura. In: LIMA, Érica (org.). Linguística Aplicada na Unicamp: travessias e perspectivas. Bauru, SP: Canal 6, 2021a. 191 p.) que ali circulam uma poderosa ferramenta de desconstrução e ruptura de visões cristalizadas que ainda se nutrem do que consideram ser poesia e ser poeta.
2 VIII Slam Interescolar de São Paulo: da formação ao evento poético
Fabiana: Voltemos agora para aquela tarde no Teatro Sérgio Cardoso, situado no bairro Bela Vista, na capital paulista. Era dia 17 de novembro de 2022. Sóstenes e eu recebemos o inusitado convite da nossa orientadora, a professora Cynthia, para acompanhá-la na final desse campeonato poético, que aconteceria, enfim, no formato presencial, após o hiato forçoso a que todos fomos submetidos em decorrência da malfadada pandemia desde março de 2020. Cynthia é uma conhecida entusiasta dos slams brasileiros e fora convidada para ser uma das cinco juradas das batalhas poéticas entre estudantes-slammers do ensino fundamental II no VIII Slam Interescolar de São Paulo.
Vimos, nesse convite, uma oportunidade de presenciar e experienciar esse campeonato de poesias performadas que tem despertado a atenção de professores e estudantes da rede pública de ensino da cidade de São Paulo e, mais recentemente, de todo o estado, haja vista o número de escolas da capital e do interior paulista participantes do evento (em 2022 foram 141 escolas inscritas). Nosso primeiro encantamento começou logo na chegada ao teatro, pois, estacionados à frente dele havia vários ônibus e estudantes que se aglomeravam no local. Era visível a empolgação deles/as, portando faixas, cartazes e camisetas customizadas para torcerem pelo/a poeta que representaria sua escola.
Não é difícil imaginar o quanto um campeonato dessa dimensão pode contribuir para mudanças de paradigma nos currículos escolares e, consequentemente, no ensino de literatura e de poesia na educação básica, visto que promove o encontro de diversas vozes juvenis “das ruas para as escolas, das escolas para as ruas” – como registra o slogan do Slam Interescolar de São Paulo, gritado pelos slammasters Emerson Alcalde e Cristina Assunção entre uma apresentação de poesia e outra. Os dois, juntamente com Uiliam Chapéu, o matemático do jogo, formam o trio do Coletivo da Guilhermina, que comanda o espetáculo poético. Pensando nesse impacto na educação, o que têm a dizer, Sóstenes e Cynthia?
Sóstenes: Muito bem observado, Fabiana. Até mesmo porque estamos diante de um contexto de ensino e aprendizagem voltado para adolescentes em pleno exercício de sua formação cidadã; portanto, cabe a nós, educadores, incentivar esse trabalho com os gêneros orais, o qual se encontra preconizado até mesmo na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC (Brasil, 2018, p. 65BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. 600 p.), nas “Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental”. A esse respeito, Carvalho e Ferrarezi Jr. (2018, p. 20CARVALHO, R. S. de; FERRAREZI JR., C. Oralidade na educação básica: o que saber, como ensinar. São Paulo: Parábola, 2018. 160 p.) defendem não apenas a importância da “sistematicidade no ensino da oralidade”, como também, e não menos importante, da “dimensão ética” necessariamente implicada nesse trabalho, pois, segundo argumentam, “[...] não é verdade que não cabe à escola desempenhar o papel de instância educadora do ponto de vista humano. A formação cidadã da criança inclui sua formação ética”.
Assim, como educador, ao pensar nos slams escolares, imagino logo as possibilidades de trabalhar com a escrita poética em sala de aula, valorizando o seu aspecto formal ao ensinar rimas, métricas e versos livres; mas também, e sobretudo, o seu aspecto performático, ao ensinar técnicas teatrais de impostação de voz, de flexibilidade do corpo, de interação com o público espectador, enfim, vislumbro tempo e espaço das aulas de língua portuguesa para poesia, performance e ética se fazerem presentes na educação básica. Invejosos dirão que se trata de incentivar mais um tipo de competição, algo recorrente na lógica capitalista e neoliberal que rege a educação brasileira, assim como a própria gênese da BNCC. Para quem nunca foi a um evento de slam e, portanto, nunca escutou os versos das poesias-slams ali performados, talvez pense mesmo se tratar de uma competição qualquer entre os jovens estudantes – nada diferente de uma vaga para o vestibular ou da almejada nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para nós, os slams escolares significam muito mais em termos de educação.
Em tal situação interativa está o exercício de corporificar uma poesia autoral sem contar com subterfúgios cênicos, apenas corpo e voz em ato performático (Zumthor, 2007ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 128 p.). Se há competitividade nisso, é bom ressaltar que, como vários esportes demonstram na prática, o público infantil e adolescente, em geral, se sente instigado em atividades lúdicas que despertam o espírito competitivo, principalmente quando os participantes buscam sagrar-se vitoriosos ao final. Protagonizar uma batalha de slam, seguramente, implica ludicidade, jogo poético; há certa competitividade, portanto. No entanto, como sempre frisa Emerson Alcalde, ali todos saem vitoriosos. Assino embaixo.
De volta àquela tarde de novembro de 2022, no Teatro Sérgio Cardoso, lembro-me de um episódio que me chamou atenção: toda vez que um/a jovem slammer do ensino fundamental II subia ao palco para se apresentar, a torcida organizada da escola onde estudava lançava gritos de guerra em apoio ao/à colega, subiam cartazes, assoviavam, batiam palmas, e assim o faziam entusiasticamente. De modo contrário, houve um momento (e vocês também devem se recordar, Fabiana e Cynthia) em que um/a poeta foi ligeiramente vaiado/a por outras torcidas de escolas “rivais”, e então Emerson e Cristina (os slammasters) logo intervieram, pedindo aos/às estudantes que, em vez daquela atitude, demonstrassem apoio ao/à poeta – ao que as torcidas assentiram. Noutras situações era comum que, ao iniciar sua performance, o/a jovem poeta, bastante nervoso/a, esquecesse a letra e precisasse recomeçar a apresentação – momento que também recebia a atenção do casal de apresentadores: “Vamos mandar energia positiva para o/a poeta, galera!” – e o público se voltava com as mãos estendidas em direção ao/à participante, até que ele/ela recomeçasse e concluísse sua performance poética.
É evidente que, diante desses fatos, não podemos simplesmente “romantizar” afirmando o chavão de sempre: “o que importa é competir”, pois, ao instaurar o desejo pela melhor performance, o ato de competir no slam também conduz aqueles/as estudantes-slammers a tratarem com responsabilidade sua participação naquilo que se propuseram a fazer publicamente. Dedicam-se à escrita e à performance poéticas desde as prévias realizadas nas suas respectivas escolas, nos chamados slams intraescolares, que Cynthia conhece bem. A propósito, poderia nos contextualizar acerca da formação desses jovens slammers antes de subirem aos palcos do VIII Slam Interescolar de São Paulo, Cynthia?
Cynthia: Contextualizo sim. O Coletivo da Guilhermina costuma lançar as inscrições para a participação das escolas públicas e privadas no Slam Interescolar de São Paulo em meados de março e as encerra em meio a abril ou maio3 3 Em 2023, as inscrições foram de 15 de março a 15 de abril. Há 400 escolas inscritas para este ano. . No início do ano também abrem as inscrições para professores e estudantes que queiram participar do Ciclo Formativo Slam da Guilhermina, que propõe encontros presenciais de formação. Tal formação é gratuita e se dá ao longo de quatro encontros, aos sábados de manhã, das 11h às 14h, em algum espaço cultural da capital paulistana, e são regidos por personalidades do slam. Em 2022, como professora-pesquisadora, participei do curso formativo realizado na Barra Funda, no qual foram oferecidas aulas de: Oficina de Escrita, com Victor Rodrigues; Oficina de Voz, com Andrea Drigo; Oficina de Corpo, com Flip Couto; e Oficina de Performance, com Érika Viana.
Havia um total de 37 inscrições, incluindo a minha. Participaram desse curso não apenas professores e estudantes da rede pública de ensino, como também pessoas de profissões variadas: músico, escritor amador, atriz de teatro, dançarina, assistente de marketing, analista de suporte, duas intérpretes de libras, diretor de arte, editor, assistente social. Essa última, Edilene Souza da Silva, se interessou pelo curso formativo porque queria promover um evento de slam na Fundação Casa, onde trabalhava com menores há alguns anos. Também participou dos encontros formativos Victor Emanuel Araújo Dos Santos, o poeta-slammer Nuel, campeão do VIII Slam Interescolar de São Paulo na Categoria Ensino Médio.
Este ano, o curso formativo presencial ocorreu em abril/2023 e contou com aulas de: Oficina de Escrita, com Marcelino Freira; Oficina de Corpo, com Edson Lima; Oficina de Voz, com Bel Borges e Oficina de Performance, com Jô Freitas. Além do curso presencial, o Coletivo da Guilhermina ofereceu também um curso online, em julho/2023, visando atender a demanda de outros estados e países. Para essa formação a distância, o Coletivo contou com aulas de: Oficina de Escrita, com Tom Grito (RJ); Oficina de Corpo, com Luaa Gabanini (SP); Oficina de Performance, com Maria Giulia Pinheiro (Portugal).
Nota-se, portanto, nesse projeto educativo idealizado e organizado pelo Coletivo Slam da Guilhermina, o envolvimento maciço de poetas. “Todo poeta tem que ir aonde o povo está” – há tempos vem cantando Milton Nascimento pelas estradas da vida, desde quando “nada era longe, tudo tão bom / Té a estrada de terra na boleia de um caminhão / Era assim...”4 4 Referência a versos da música “Nos bailes da vida” (1981), de Fernando Brant e Milton Nascimento. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KIdVnY. Acesso em: 8 nov. 2022. . O Coletivo conta com uma legião de poetas-formadores que se desloca da grande São Paulo para adentrar periferias e percorrer o interior do estado, seja de trem, metrô ou ônibus, voluntariamente e... “assim será”. São poetas-slammers conhecidos da cena paulista que vão “das ruas para as escolas” promoverem eventos de slam (os campeonatos intraescolares de que falamos anteriormente) e ensinar os/as estudantes a produzir textos poéticos do gênero slam5 5 Recomendo a leitura de Neves (2021b), em que caracterizo conceitualmente os slams como eventos e práticas de letramentos (Street, 2014), diferenciando-o do gênero poesia-slam ou poema-slam. . Alguns deles/as “são crias” dos slams escolares, como Nicole Amaral e Tawane Theodoro, isto é, participaram há alguns anos do campeonato intra/interescolar; e assim o trânsito se inverte: “das escolas para as ruas”. Este ano, a equipe de poetas-formadores conta com 13 slammers-educadores: Clamant, Cleyton Mendes, Daniel Minchoni, Eve, Fernaun, Kenyt, Legant, Monique Martins, Márcio Ricardo, Nicole Amaral, Afrollufy, Tawane Theodoro e Emerson Alcalde. Todos estão em ação visitando as inúmeras escolas inscritas no campeonato estadual de 2023.
Nas escolas, os poetas-formadores replicam aquilo que aprenderam no Ciclo Formativo. Organizam oficinas de escrita e de performances poéticas, explicam as regras do jogo, apresentam vídeos com encenações de poetas-slammers no Brasil e no mundo, além de promoverem um slam intraescolar, dividido em duas categorias: ensino fundamental II e ensino médio. Dali saem os slampiões e as slampiãs6 6 Neologismo criado pelo Manifesto do Slam da Guilhermina para fazer referência – e reverência – a Lampião e Maria Bonita, cangaceiros que desestabilizaram o sistema latifundiário e coronelista do Nordeste na década de 1930. Assim também se comportam os slammers: poetas subversivos, transgressores da cultura hegemônica. Por isso, quando vencem uma batalha de slam são, por empréstimo, slampiões ou slampiães. que vão representar suas escolas no campeonato estadual. Antes da visita dos poetas-formadores, a parceria se dá por meio dos/as professores interessados/as. Contudo, é curioso observar que não necessariamente esses professores são os de língua portuguesa, ou de literatura, no caso do ensino médio. Há professores de artes, geografia e história que se envolvem com o projeto. Independente da área, são os/as professores/as que levam a ideia para a direção da escola, fazendo a mediação entre a gestão escolar e o Coletivo Slam da Guilhermina.
Os resultados são impressionantes e envolvem toda a comunidade escolar, como é possível constatar nas redes sociais7 7 Disponível em: https://www.facebook.com/slaminterescolarsp e https://www.instagram.com/slaminterescolar/. Acesso em: 13 dez. 2022. do Slam Interescolar de São Paulo. Os números não mentem: em 2015, o projeto se iniciou timidamente contando com apenas quatro escolas da Zona Leste de São Paulo; em 2017, 42 escolas; em 2018, 52 escolas; em 2019, 80 escolas participaram; em 2020 e 2021, os números de inscritos aumentaram graças ao formato remoto e híbrido, respectivamente, do evento. Entretanto, muitas escolas desistiram no meio do caminho. Em 2022, na sua oitava edição, o Slam Interescolar paulista somou mais de cem escolas participantes. Chama a atenção a presença de Escolas Municipais (EMEF), Centros Educacionais Unificados (CEU), Escolas Estaduais regulares (EE) e Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral (PEI), além da recente adesão de Escolas Técnicas (ETEC), Escolas de Aplicação (EA) e de escolas do Serviço Social da Indústria (SESI). Raras ainda são as escolas particulares que se engajam no projeto, como o Colégio Torricelli, em Guarulhos, e a Escola da Vila, em São Paulo, duas exceções. No interior do estado, os slams também invadiram escolas de tradição, como o Colégio Culto à Ciência, em Campinas.
Tal dado etnográfico se faz relevante na medida em que nos leva a refletir: estaria o slam, que se configurou no Brasil como um evento que agrega poetas-slammers da periferia, migrando para outro espaço social e geográfico?
Fabiana: Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa relação escola-sociedade. O grande fluxo de informações que transita em diferentes meios de comunicação tem possibilitado às pessoas diversas formas de ver e viver as relações humanas, propiciando o (re)conhecimento e a (re)definição de suas identidades sociais construídas em diversos cenários de atuação humana. Diante desse contexto contemporâneo e levando em conta as realidades socioeconômicas dos sujeitos que estudam em escolas públicas no Brasil, é possível dizer que os/as estudantes-slammers integram uma cultura de língua/linguagem que reflete e refrata posicionamentos e ideologias advindos, em geral, de guetos e periferias. Uma pesquisa rápida acerca da localidade dessas escolas participantes do VIII Slam Interescolar de São Paulo nos permite tal constatação. A escola torna-se então a arena responsável por dar visibilidade a esses/as jovens poetas da periferia que veem na poesia-slam uma forma de resistência e sobrevivência (Maia, 2022MAIA, J. de O. Letramentos de Sobrevivência. In: MATOS, D. C. V. da S.; SOUSA, C. M. C. L. L. de (ed.). Suleando conceitos e linguagens: decolonialidades e epistemologias outras. Campinas, SP: Pontes Editores, 2022. p. 215-222.).
Em um momento anterior deste artigo, Sóstenes afirmou que é no slam que os estudantes se apropriam da poesia. De fato, como bem sublinhou Neves (2021aNEVES, C. A. B. Poemar é preciso porque somos poesistência (Prefácio). In: ASSUNÇÃO, C.; JESUS, E. A. de; CHAPÉU, U. (org.) Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar. São Paulo: LiteraRUA, 2021b. v. 1, p. 8-11.), os jovens se apropriam das poesias-slams para denunciar o racismo, a violência policial, o tráfico de drogas, a cultura do estupro, o machismo, a homofobia, a transfobia, o feminicídio, a corrupção política, a intolerância religiosa, o genocídio indígena, o negacionismo, assumem a vez e a voz para encenar suas poesias de combarte – ou de artivismo, no neologismo de Vilar (2019VILAR, F. Migrações e periferias: o levante do slam. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, p. 1-13, 2019.) –, deixando assim ecoar sua cultura preta, pobre e periférica. O evento de 17 de novembro foi síntese e simbiose de tudo isso. Nas palavras de Vilar (2019, p. 3VILAR, F. Migrações e periferias: o levante do slam. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, p. 1-13, 2019., grifo nosso):
Nas periferias nascem novas formas de combarte, em que a iniciativa artística combina-se com dinâmicas de combate, criando diversas formas de levante: movimentos localizados de protesto que formam por instantes um lugar por onde vão começando a ser tratados temas sérios para o desenvolvimento humano, econômico, social e atualmente, ambiental. A arte engajada torna-se o espaço da utopia e de comunicação para ideias e ideais de futuro.
Sóstenes: Essa foi também a minha impressão. Ainda em consonância com suas observações, acredito que a presença dos slams nas escolas merece ser encarada mais como um meio do que, propriamente, como um fim. Segundo Emerson Alcalde, em oficina ministrada no evento do GEDLit8 8 Grupo de Estudos em Didática da Literatura, cadastrado no CNPq e liderado pela Profa. Dra. Cynthia Agra de Brito Neves. Programação completa do evento disponível em: https://www2.iel.unicamp.br/gedlit/eventos/. Acesso em: 20 nov. 2022. , na Unicamp, cada vez mais jovens estudantes fazem uso de suas letras poéticas para compartilhar dores e angústias. Alguns preferem produzir poemas narrativos, cujos versos relatam tentativas de suicídios, perdas familiares, abusos sexuais sofridos, depressão pós-pandemia, males da saúde mental etc., ou seja, temáticas subjetivas à vida desses sujeitos, suas questões mais singulares. Portanto, sejam poesias de temas sociopolíticos ou que abordem questões íntimas, o fato é que versificam o mundo que os/as cerca. Tais motivações individuais são também coletivas e eis o que os/as conduz a situações de aprendizagem pela/com a poesia até chegarem à culminância do evento final. De fato, o fenômeno do slam (seja nas ruas, seja nas escolas) nos apresenta uma nova subjetividade desses sujeitos periféricos, como nos explica D’Andrea (2013, p. 15) em sua tese:
Calcados na historicidade de atributos estigmatizantes e formulados quase sempre fora dos bairros populares, seus moradores começaram a construir novas formulações sobre si mesmos e sobre sua posição no mundo. Dessa forma, uma nova subjetividade se forma na periferia, sobretudo entre os jovens, enfatizando o orgulho de sua condição e as potencialidades dessa condição. Esta tese conceitua como sujeito periférico o morador da periferia que passa a atuar politicamente a partir de sua condição e orgulhoso dela. Ou seja, a posse do orgulho periférico é a expressão da existência de uma nova subjetividade. No entanto, a transformação em sujeito periférico socorre quando essa subjetividade é utilizada politicamente, com organização coletiva e ações públicas. A formação de uma subjetividade baseada no orgulho periférico embasou a construção dos coletivos artísticos da periferia.
A nosso ver, o slam é prova disso, como ficou claro nas poesias performadas VIII Slam Interescolar de São Paulo.
Vale acentuar que todos/as ali presentes se envolveram nas mesmas atividades: produziram poemas escritos; ensaiaram a leitura em voz alta alternando o tom de voz para imprimir o ritmo desejado; projetaram gestos a partir da cena que iriam performar, e tomaram cuidado para que sua poesia não fosse somente pronunciada, mas vivificada pelo corpo e pela voz – artifícios que garantem notabilidade diante de uma plateia para a qual a apreciação das poesias e a reação durante a performance podem ser imprevisíveis e imprescindíveis para a obtenção de notas altas. Nas palavras de Neves (Neves, 2017, p. 101NEVES, C. A. B. Slams – letramentos literários de reexistência ao/no mundo contemporâneo. Linha D’Água, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 92-112, out. 2017. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/134615. Acesso em: 13 ago. 2022.
https://www.revistas.usp.br/linhadagua/a...
),
o poeta age como locutor/falante interativo, o interlocutor/ouvinte como um leitor ativo, responsivo e replicante, e [...] as condições de recepção (a escuta) e de produção (a escrita) estão o tempo todo em jogo, isto é, são determinantes para a construção do gênero discursivo/textual poético.
Há quem ainda (se) pergunte, a propósito, se o texto poético deveria ser ensinado na escola. Talvez a pergunta nem devesse se dar exatamente nesses termos, afinal, como vimos na Introdução, as poesias (faço questão do plural) requerem complexa definição, logo, estão acima de qualquer didatização simplória ou corriqueira. No entanto, com toda a sua especificidade linguística, literária, discursiva e dialógica, as poesias estão em tudo e em todos, nesse sentido, materializam-se para além do ensino de língua e de literatura, independentemente da sua pedagogização. Por que então responsabilizar a escola por essa lida? Por que então defender um projeto educacional como o do Coletivo Slam da Guilhermina?
Porque, como nos adverte Pinheiro (2018, p. 21–22PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2018. 252 p., grifo nosso):
[...] Tendo em vista que a poesia é, entre os gêneros literários, dos mais distantes da sala de aula, a tentativa de aproximá-la dos alunos deve ser feita de forma planejada. Deve-se pensar que atitude se tomará, que cuidados são indispensáveis e, sobretudo, que condições reais existem para a realização do trabalho.
Ao pensar nesse planejamento, Pinheiro (2018PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2018. 252 p.) alega que dois fatores são fundamentais: i-) o professor e a professora gostarem, terminantemente, de ler e de lidar com a poesia e a literatura – para, assim, terem condições mínimas e coerentes de executar atividades dessa natureza junto aos/às estudantes; e ii-) levar em consideração os principais interesses subjetivos da turma e, conhecendo melhor os/as educandos/as, ser possível apresentar-lhes textos e propostas que, inicialmente, tenham maior aderência e facilidade para atrair sua atenção.
Foi exatamente isso que presenciamos no espetáculo do VIII Slam de Poesias Interescolar de São Paulo: havia ali uma ambientação que favorecia o acolhimento dos jovens estudantes. No palco, microfones a postos, slammasters gritando o slogan, DJ embalando músicas, três counters calculando a média das notas atribuídas, e o público reagindo com “Credo!” para as notas abaixo de dez e com “Pow, pow, pow” para as notas dez. Tudo isso junto e misturado a muita gritaria, torcida organizada, assovios e palmas. Os/As estudantes, por sua vez, sentiam-se estrelas da cena poética que, simplesmente, não existiria sem sua presença e participação.
Uma ressalva: há muitos slams no Brasil que se realizam nas ruas, nas praças, em espaços públicos e culturais. Todavia, ali se tratava de um evento formalizado, com participação genuína de estudantes da educação básica, então, era mais apropriado o espaço selecionado ser um teatro; aliás, muitas daquelas crianças e adolescentes, oriundos/as das periferias paulistanas e de cidades do interior do estado de São Paulo, certamente estavam visitando um teatro pela primeira vez. Tal impressão nos faz pensar nos espaços artísticos construídos para uma determinada camada social historicamente privilegiada do nosso país. Nesse sentido, o fato de os/as estudantes “ocuparem” aquele teatro para performar suas poesias é bastante simbólico. Em 2021, o palco do evento foi o Teatro Municipal de São Paulo, o que torna essa ocupação dos/as slammers mais revolucionária ainda.
Cynthia: Por fim, faço ainda outra contextualização; desta vez, histórica. O slam não surgiu no Brasil, tampouco os slams escolares aqui tiveram origem. O Poetry Slam, assim batizado em inglês, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1984. Foi criado por Mark Kelly Smith, poeta e operário da construção civil, que teve a ideia de realizar, em um bar noturno de jazz, um campeonato de poesias valendo premiações aos poetas vencedores. No Brasil, o slam chegou em 2008, com a inauguração do ZAP Slam – Zona Autônoma da Palavra por Roberta Estrela D’Alva, em São Paulo. A atriz conheceu “o criador da criatura” e importou a ideia americana para cá9 9 O filme-documentário Slam – voz de levante (2018), dirigido e roteirizado por Tatiana Lohmman e Roberta Estrela D’Alva, apresenta-nos um breve histórico sobre os slams, desde a sua origem em Chicago até sua chegada ao Brasil. . Aqui o slam tomou conta do país.
Já os slams escolares, é provável que tenham origem francesa. Em 2014, Emerson Alcalde foi o representante brasileiro na Copa do Mundo de Slam (Grand Poetry Slam), que acontece anualmente em Paris. Lá, assistiu a um campeonato de slam escolar e ficou encantado ao ver aquelas crianças e adolescentes encenando poesias em voz alta. Voltou para o Brasil e no ano seguinte deu início ao seu projeto juntamente com o Coletivo da Guilhermina. Sabe-se que há slams escolares em outros países como Ilhas Maurício, na África, e na cidade de Quebec, no Canadá, por exemplo. Não por acaso, ex-colônias da França. Tal coincidência me faz pensar no que afirma Vilar (2019, p. 3VILAR, F. Migrações e periferias: o levante do slam. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, p. 1-13, 2019.):
Seja na Europa ou no Brasil, as periferias registram a perpetuação das segregações sociais, raciais e habitacionais do imaginário colonial. Essa herança continua a invisibilizar uma população muitas vezes étnica e religiosamente marcada, gerando ambientes de exclusão e de racismo que não são discutidos como questões urgentes de políticas públicas. Nesses dois diferentes contextos é importante observar como as práticas urbanas e periféricas de arte são importantes como veículos de expressão de demandas urgentes dessas populações – e que não se restringem apenas a determinados países ou comunidades – são questões transnacionais.
Em pesquisa de pós-doutoramento, tenho dedicado minha atenção a eventos e práticas de letramentos nos slams escolares paulistas e parisienses10 10 Pesquisa sob supervisão da Profa. Dra. Walkyria Monte-Mór, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Pesquisa (CNPq). , e tendo a concordar com o que aponta Vilar (2019VILAR, F. Migrações e periferias: o levante do slam. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, p. 1-13, 2019.), embora também reconheça que, em território brasileiro, os slams incorporaram algumas práticas de letramentos diferenciadas, já aqui brevemente delineadas, daquelas de países colonizadores. Mas essa discussão merece outro artigo.
Para se ter um retrato dessa juventude da periferia engajada nos slams escolares paulistas, o Coletivo da Guilhermina organizou um livro intitulado Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar SP, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, na categoria Inovação – Fomento à Leitura11 11 Cf. em: https://www.premiojabuti.com.br/premiados-por-edicao/premiacao/?ano=2021. Acesso em: 27 out. 2022. . A obra é um registro de memória das cinco edições do Slam Interescolar paulista (de 2015 a 2020) e apresenta mais de 250 poemas dos estudantes-poetas-slammers. O livro também traz comentários dos/as poetas, algumas curiosidades sobre eventos nacionais e internacionais de slams, além de muitas fotos coloridas.
3 Uma estudante-slammer e sua performance africanizada: o recado da periferia no palco
Antes de iniciar a análise a seguir, é preciso justificar que estamos tratando de uma performance realizada no espaço cênico da batalha poética, ou seja, no Teatro Sérgio Cardoso. Entretanto, vamos nos valer aqui da filmagem dessa performance, tendo em vista que a gravação do espetáculo será o meio pelo qual o leitor deste artigo terá acesso à apresentação da poeta12 12 A final do VIII Slam de Poesias Interescolar de São Paulo foi gravada na íntegra e está disponível para o público no canal YouTube do Slam da Guilhermina: https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE_xc. Acesso em: 17 dez. 2022. . Como enfatizam Santos e Neves (2022SANTOS, S. R. de J. C.; NEVES, C. A. B. Poesia e performance da slammer Bicha Poética: reexistência quilombola de poetas pretas, travestis e periféricas. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte, v. 32, n. 4, p. 57-81, 2022.), a performance exige o corpo presente da/o poeta que escreveu a poesia-slam; é no ato performático que surgem as improvisações dos/as poetas-slammers, por isso, as surpresas não devem ser desconsideradas.
Nessa lógica, nada se compara a estar ao vivo, frente a frente com o/a slammer, e sentir toda a energia de seu ser poeta: o modo como se porta no palco, como usa o microfone, como lê ou declama os versos decorados, como olha, como gesticula, como performa; sem falar também na sensação de ser espectador/a (no caso de Fabiana e Sóstenes) e/ou jurado/a (no caso de Cynthia) e, assim, envolver-se intimamente com o evento, participando de “um espaço não formal de ensino-aprendizagem”, como ressaltam Bastos e Villas Bôas (2022, p. 97BASTOS, M.; VILLAS BÔAS, R. L. Pode a rua ser escola? Slam como espaço não formal de ensino-aprendizagem. Revista Terceira Margem, Rio de Janeiro, v. 26, n. 49, p. 97-114, 2022.). De fato, não somos nunca meros receptores daquilo que se realiza em cena; ao contrário, nossa interação antes, durante e depois da atuação do/a performer produz efeitos favoráveis ou desfavoráveis a sua avaliação, numa relação que se retroalimenta. Por isso, quem ainda não teve a oportunidade ou curiosidade de estar presencialmente em um Poetry Slam, seja uma batalha de ruas ou de escolas, fica aqui a recomendação-convite.
Confessamos que, entre as apresentações dos/das estudantes-slammers naquele espetáculo de 2022, não foi uma decisão fácil escolher qual performance analisar aqui... quase um “catar feijão” de João Cabral13 13 Referência ao poema “Catar feijão”, de João Cabral de Melo Neto (2007, p. 320), publicado em Poesia completa e prosa.. . Corremos o risco. A familiaridade com a linguagem da poesia-slam e o desafio de vencer a timidez enfrentando um público de mais de cem pessoas foi determinante, e optamos pela performance de Manoella de Souza, aluna do ensino fundamental II, representante da Escola Estadual Dona Luiza Macuco, localizada na cidade de Santos, litoral paulista. Tal preferência se justifica tanto pela execução da estudante quanto pelo tema abordado por ela nessa que foi sua primeira apresentação, na primeira rodada do campeonato14 14 De acordo com as regras, o Poetry Slam tem três rodadas. Todos/as os/as inscritos/as participam da primeira, os cinco primeiros lugares participam da segunda rodada, e a terceira rodada elege o primeiro, segundo e terceiro lugares. .
Como não temos acesso a uma versão escrita do poema, transcrevemos os versos com base na escuta do texto performado15 15 Pedimos desculpas, antecipadamente, se transcrevermos algum verso ou palavra de modo errado. Há trechos na gravação que são inaudíveis, outros que são prejudicados por nossa escuta da dicção da poeta. Além disso, não conhecemos todas as entidades citadas por ela, o que pode ter nos levado a registrar nomes incorretos. . Vale frisar que o foco neste instante não recai unicamente sobre a letra, mas sim sobre o todo da performance, do qual a letra faz parte. Justificamos ainda que, mesmo tendo visto e ouvido a adolescente in loco, foi indispensável recorrer à gravação e voltar a vê-la e ouvi-la por mais de uma vez. O vídeo do VIII Slam de Poesias Interescolar de São Paulo tem duração total de 2 horas e 57 minutos, mas o trecho da performance aqui analisada se inicia aos 44 minutos e 20 segundos e termina aos 47 minutos e 10 segundos, quando Manoella é ovacionada pela plateia. De início, a slammaster Cristina Assunção faz o sorteio, anuncia o nome da escola, chama a participante para o palco e grita o slogan: “Das ruas pras escolas, das escolas...”, e o público responde em uníssono: “Pras ruaaaas!”.
Trajando um short curto, uma camiseta preta com a imagem branca estampando o rosto da Escrava Anastácia16 16 A Escrava Anastácia, como ficou popularmente conhecida, viveu na Bahia, no século XVIII. Anastácia foi vítima de estupros e, por se opor às constantes violências sofridas, foi castigada sendo obrigada a usar uma máscara de ferro (máscara de flandres) em sua boca e pescoço durante quase toda a vida. A imagem mais famosa de Anastácia foi registrada em 1839 pelo artista francês Jacques Arago e é a que aparece estampada na camiseta da slammer. A resistência de Anastácia tornou-se símbolo de resistência de tantas outras mulheres negras ao longo da história do Brasil. , e tênis cáqui, a jovem slammer sobe ao palco sob aplausos. Em seguida, ocupa o centro dele e se posiciona frente ao microfone: com a mão esquerda segura o microfone apoiado no tripé; com a direita, segura o celular (Figura 1), e lê seu poema em voz alta, performando-o (Figura 2).
Nas regras do Poetry Slam são proibidos adereços cênicos e qualquer tipo de instrumento musical, mas é permitido citar outros textos e/ou cantar à capela alguns versos de alguma música. A jovem sabe disso e introduziu sua performance com os seguintes versos cantados:
Esquece, que a porta da senzala já não fecha
No cabaré ainda vai ter festa!
E a flecha que se foi não volta mais
Floresce, que em meu quintal brotou erva sagrada
E no meu pescoço, guia consagrada
De branco da cabeça até os pés
O teu livro é lindo
Escuto pelas mãos do Criador
Mas não fala mais alto que a voz do meu povo de cor!
E o meu tambor zumbindo
Em compasso com o peito meu
Aqui ela bate no peito com a mão esquerda fechada. “Meu Santo tem a cor da noite” – eleva as duas mãos à frente do rosto e em seguida faz um movimento que as entrelaça (Figura 3). “A dança é no xirê / Em minha veia corre sangue / Misturado com mel e dendê / Meu corpo tá fechado com a força da minha fé / Eu sempre respeitei o seu ‘amém’ / Respeita o meu ‘axé’!”. Esse último verso é entoado como uma ordem. A partir de então, a canção se encerra e Manoella prossegue, agora com os versos de sua autoria. O celular, por sua vez, já perdeu a função anterior (de apoio, para não errar a canção que fora entoada no início) e a estudante declama seu texto poético de cor, sem necessidade de olhar mais para a tela do aparelho (Figura 4).
“Minha religião não te diz respeito! / Não tem nada de errado com meu Orixá / Errado mesmo é seu preconceito!”. Nesse momento, a participante aponta o dedo esquerdo para a frente e sua voz ecoa alto, demonstrando consciência da tonalidade acusatória que deve dar andamento a seus versos. Em seguida, suaviza a voz para concluir que “Errado é seu... racismo religioso!”. O estranhamento inicial provocado pelos versos cantados foi desfeito. Aqui a slammer deixou claro a que veio: criticar a intolerância religiosa, que ela bem adjetiva como “preconceito” e “racismo”. Os versos seguintes são performados rápida e ininterruptamente: “Não pode me ver orando para o meu Orixá / Que já começa a esbravejar / Falando que... vou pro inferno”. Então ela invoca um timbre de voz seguro e, ao mesmo tempo, altivo e debochado, e completa: “Mas pode ficar tranquilo / Que eu não vou te levar”. O tom irônico é evidente e amplia a força argumentativa de quem está rebatendo falácias replicadas em torno das religiões de matriz africana, proferidas por pessoas racistas e/ou por religiosos fundamentalistas.
Manoella continua:
Minha religião é tão atacada
Porque a minha forma de louvar o meu sagrado é diferente
No meu caminho até meu Senhor
Existe atabaque, defumação [trecho inaudível],
pano de cabeça, roupa de função
O que pra você é ‘macumba’
Pra mim é entrega pro Santo
Com muito amor e oração
O que pra você é “diabo”, “demônio”
Foi o que me estendeu a mão
O trecho inaudível se deve à rapidez de sua fala, que prejudica a sua dicção – em se tratando de uma competição como o slam, seria importante a estudante observar essa falha que se repete em outros momentos da performance. Por outro lado, aqui o/a espectador/a nota facilmente a ironia no sorriso e no tom de voz da jovem, somados a seu “gingado” ao pronunciar tais versos. A poesia-slam continua dando o seu recado: “Minha Erê me ensinou / Que é sendo grato e fazendo a caridade / Que se alcança a salvação / Aprendi que um abraço de Preto-velho / É a melhor sensação”. Nesses versos Manoella mantém a voz firme, mas deixa perceptível a afetuosidade relacionada ao conselho de Erê e ao abraço de Preto-velho.
Desse modo, já de posse de certa intimidade com as entidades evocadas, a estudante persiste: “Minha Pombagira é minha moça”. Agora ela põe o dorso da mão esquerda na cintura e sacode rapidamente o corpo, como a fazer referência e reverência à sensualidade daquele orixá. “Perdão! / Seu Zé me ensinou que é melhor andar sozinho / Do que mal acompanhado”. Nesse exato instante, algumas pessoas na plateia gritam e a aplaudem, empolgadas com o que escutam e veem da performance. A jovem slammer não hesita e completa: “Desculpa se meu Santo não gosta de fazer assim” – e junta as duas mãos, palma com palma, em sinal tradicional de oração cristã. “Ele prefere fazer assim” – então leva cada uma das mãos a um lado da cintura, repetindo mais demoradamente o movimento de sacudir o corpo, na ginga, em saudação à Pombagira (Figuras 5 e 6). “Desculpa se eu não gosto de dizer ‘amém’ / Eu prefiro ‘Laroyê’, ‘Eparrêi’ [trecho incompreensível em que são citadas outras entidades]”. A performer faz um gesto com as mãos elevadas à cabeça, como em uma saudação religiosa. E conclui: “Adorei as almas, adorei... ‘Odoyá’, minha mãe Iemanjá” – faz mais uma vez uma ginga com as mãos na cintura. “Eu não gosto de cantar louvor / Eu prefiro cantar um ponto”. Em seguida, entoa novamente uma canção mantendo as mãos nos quadris: “‘Quando eu morrer, não quero choro nem vela...’/ ‘Quando eu morrer, eu não quero choro nem vela...’ / Traz água benta para o diabo trabalhar / E o meu caixão eu quero que... / Seja o mais belo / Vai trabalhar pro Exu caveira no inferno / ‘Laroyê, Exu’, ‘Exu, Mojubá’”. Depois, grita: “Exu não é o diabo / Quem criou o diabo que lide com ele” – eis o clímax da poesia performada!
Manoella denuncia, então, na sequência, um caso de racismo religioso sofrido por ela: “E esses dias que um bendito professor, pastor / Disse pra mim / Que eu não era da igreja e não entendia nada” – a poeta olha para cima ligeiramente, com os olhos meio revirados como quem demonstra desprezo. A ofensa do “bendito professor” enfurece a slammer, que grita com o dedo indicador esquerdo em riste (Figura 7), para depois ameaçar:
Ah, vai te catar!
No meu terreiro
Eu aprendi muita coisa, inclusive a te respeitar
E só pra te avisar, professor:
Não é “barraquinha de axé”
É terreiro que se chama!
Vê se aprende a respeitar
Porque se eu ver você
Desrespeitar o meu axé
“Eu vou botar teu nome na macumba
Vou procurar uma feiticeira
Fazer uma quizomba pra te derrubar”
Hahahahaha!
Ela dá uma gargalhada bem alta. Por fim, levando os dorsos das mãos à cintura, termina: “Laroyê, Exu! / Exu é Mojubá!” (Figura 8). Recado dado!
Aplaudida calidamente, Manoella desce do palco e a apresentadora assume o microfone. Então explica para a plateia: “Mojubá, que na língua iorubá quer dizer ‘respeito’! Mojubá!”. Em seguida, diz: “Notas, juradas e jurados. Nós temos um 9.9! 10! 10! 10! E 10!!!”. E a plateia aplaude ainda mais, depois do “credo!” que se seguiu à primeira nota.
Presenciamos, portanto, o recado dado por uma jovem de fé a uma religião de matriz africana, seja o Candomblé ou a Umbanda. Ela critica o racismo religioso generalizado, mas, especificamente, rebate um professor, pastor evangélico, que tenta desqualificar sua religião proferindo comentários preconceituosos. A poesia de Manoella de Souza é rica em versos irônicos que acentuam o tom de deboche e sarcasmo pretendido. Sua performance desenvolta, cheia de gingas e gestos que nos remetem a rituais de religião africana, revela seu orgulho de ser mulher preta, macumbeira ou umbandista, sim senhor! A poeta demonstra conhecer canções, simbologias, ritos e entidades do universo de sua fé e se orgulha de assumi-los ao público. Retomando o conceito de D’Andrea (2013), essa é a nova subjetividade do sujeito periférico, que passa a atuar política e publicamente a partir de seu orgulho periférico. É essa subjetividade baseada no orgulho periférico que tem atravessado os coletivos artísticos da periferia, como os slams, escolares ou não.
Vale explicar que Manoella convoca para o jogo cênico em que realiza sua performance trechos de outros textos igualmente elaborados em evidente alusão às manifestações das religiões afro-brasileiras, bastante representativas do movimento diaspórico África-Brasil. Trata-se, como vimos, de duas canções: com a primeira (possivelmente entoada nos terreiros de sua religião), Manoella abre o poema; com a segunda (um conhecido samba de partido-alto do cantor e compositor carioca Dudu Nobre, “Vou botar teu nome na macumba”), ela encerra a performance. Assim, à ofensa lançada pelo professor, a estudante contrapõe a afirmação do que, no terreiro, “aprendeu a respeitar”. Sua postura é altiva e, com deboche e humor, não replica ofensivamente em direção à fé do professor-pastor fundamentalista. Em vez disso, junta-se ao que fora ultrajado por ele para se defender, reagindo sem medo e com bastante ousadia.
A seguir, a transcrição completa da letra da poesia performada:
Esquece, que a porta da senzala já não fecha
No cabaré ainda vai ter festa!
E a flecha que se foi não volta mais
Floresce, que em meu quintal brotou erva sagrada
E no meu pescoço, guia consagrada
De branco da cabeça até os pés
O teu livro é lindo
Escuto pelas mãos do Criador
Mas não fala mais alto que a voz do meu povo de cor!
E o meu tambor zumbindo
Em compasso com o peito meu
Meu Santo tem a cor da noite
A dança é no xirê
Em minha veia corre sangue
Misturado com mel e dendê
Meu corpo tá fechado com a força da minha fé
Eu sempre respeitei o seu “amém”
Respeita o meu “axé”!
[...]
Minha religião não te diz respeito!
Não tem nada de errado com meu Orixá
Errado mesmo é seu preconceito!
Errado é seu... racismo religioso!
Não pode me ver orando para o meu Orixá
Que já começa a esbravejar
Falando que... vou pro inferno
Mas pode ficar tranquilo
Que eu não vou te levar.
Minha religião é tão atacada
Porque a minha forma de louvar o meu sagrado é diferente
No meu caminho até meu Senhor
Existe atabaque, defumação [trecho inaudível],
pano de cabeça, roupa de função
O que pra você é “macumba”
Pra mim é entrega pro Santo
Com muito amor e oração
O que pra você é “diabo”, “demônio”
Foi o que me estendeu a mão
Minha Erê me ensinou
Que é sendo grato e fazendo a caridade
Que se alcança a salvação
Aprendi que um abraço de Preto-velho
É a melhor sensação
Minha Pombagira é minha moça
[trecho inaudível],
Perdão!
“Seu Zé me ensinou que é melhor andar sozinho
Do que mal acompanhado”
Desculpa se meu Santo não gosta de fazer assim
Ele prefere fazer assim
Desculpa se eu não gosto de dizer “amém”
Eu prefiro “Laroyê”, [trecho inaudível],
“Eparrêi”, [trecho incompreensível em que são citadas outras entidades]
Adorei as almas, adorei... “Odoiá”, minha mãe Iemanjá
Eu não gosto de cantar louvor
Eu prefiro cantar um ponto e...:
“Quando eu morrer, não quero choro nem vela...”
“Quando eu morrer, eu não quero choro nem vela...”
Traz água benta pro diabo trabalhar
E o meu caixão eu quero que...
Seja o mais belo
Vai trabalhar pro Exu caveira no inferno
“Laroyê, Exu”, “Exu,Mojubá”
E só pra ser perfeitamente errado,
Exu não é o diabo
Quem criou o diabo que lide com ele
E esses dias que um bendito professor, pastor
Disse pra mim
Que eu não era da igreja e não entendia nada
Ah, vai te catar!
No meu terreiro
Eu aprendi muita coisa, inclusive a te respeitar
E só pra te avisar, professor:
Não é “barraquinha de axé”
É terreiro que se chama!
Vê se aprende a respeitar
Porque se eu ver você
Desrespeitar o meu axé
“Eu vou botar teu nome na macumba
Vou procurar uma feiticeira
Fazer uma quizomba pra te derrubar”
Hahahahaha!
Laroyê, Exu!
Exu é Mojubá!
4 Slam e escola: letramentos literários, letramentos de reexistência e letramentos críticos
Fabiana: Na primeira vez que presenciei uma poesia-slam sendo performada, logo me lembrei do rap, principalmente pela aproximação do ritmo de ambos os gêneros literários. Tal semelhança não é mera coincidência, visto que o rap é parte do movimento do hip hop, do qual fazem parte o break, o grafite, o beat box, o DJ, que tem também raízes estadunidenses. A cultura hip hop nasce nos guetos nova iorquinos na década de 1970 e chega aos grandes centros urbanos do Brasil com muita força, envolvendo nossa juventude dos anos 1980 e 1990.
O trabalho com o rap nas escolas de educação básica nunca foi fácil. Considerado um gênero literário marginal17 17 Refiro-me aqui à literatura marginal no sentido empregado por Oliveira (2011), isto é, aquela literatura produzida nas duas últimas décadas por autores da periferia das grandes cidades brasileiras, sobretudo São Paulo, e que tem merecido a atenção da mídia e da crítica especializada. Na acepção artística da autora: “marginais são as produções que afrontam o cânone, rompendo com as normas e os paradigmas estéticos vigentes. Na modernidade, uma certa posição marginal da arte sempre foi a condição aspirada como possibilidade para a criação do novo. Contudo, a inovação, uma vez assimilada e introduzida na tradição, deixa de ocupar uma posição à margem […]. Sob esse ponto de vista, a história da literatura e da arte consiste nessa dialética de posições que se alternam entre o centro e a margem, o que envolve não apenas transformações de ordem estética, mas também social e política.” (Oliveira, 2011, p. 1). , foi quase sempre tratado com certa desconfiança no espaço escolar. Um exemplo recente foi a indicação do álbum Sobrevivendo no inferno, dos Racionais MC’s, para compor a lista de livros de leitura obrigatória cobrados no vestibular da Unicamp (2020 a 2022). A iniciativa inovadora da Universidade Estadual de Campinas provocou estranhamento, repercutindo não só nos espaços acadêmico-científicos, como também em colégios e cursinhos pré-vestibulares, visto que a partir de então professores e estudantes teriam que ler a obra dos Racionais e estudar (por que não?) as letras de suas músicas. De marginal, o rap passou a ser recomendado pela BNCC como gênero a ser trabalhado em sala de aula. Nos termos de Oliveira (2011OLIVEIRA, R. P. de. Literatura marginal: questionamentos à teoria literária. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 – Especial, p. 31-39, jul./dez. 2011.), ganhou a tradição, portanto.
Imagino que a mesma coisa venha a acontecer com os slams. Promover um campeonato de poesias performadas não parece ser cabível no tempo e espaço escolares. Ensinar os estudantes a produzirem textos poéticos não parece corresponder ao planejamento de muitos currículos, por vezes voltados massivamente para a produção de textos dissertativos-argumentativos à maneira do ENEM. Na prática, a escola acaba se distanciando cada vez mais do universo juvenil. Derrubar seus muros para deixar os slams entrarem pode parecer uma atitude insólita, porém interessante, bem como foi a ideia de introduzir os Racionais em um vestibular renomado como o da Unicamp.
Portanto, o projeto do Slam Interescolar de São Paulo organizado e realizado pelo Coletivo da Guilhermina não se limita a permitir um simples contato do/a jovem estudante com as poesias, até porque muitos livros didáticos já o promovem nas seções de “leitura poética”. O que se propõe é ampliar o estudo de artes, de literatura, de poesias, de performance, entre outros, transgredindo assim a tradição imposta pelo cânone. É assim que vislumbro os slams escolares: como uma proposta de educação libertadora, emancipadora (Freire, 2000FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 184 p., 2019FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 53. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019. 192 p.) e transgressiva (Hooks, 2017hooks, b. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo B. Cipolla. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017. 283 p.), que se coaduna com uma proposta de educação literária em que acredito. Por isso defendo a invasão do slam nas escolas paulistas e, por extensão, brasileiras.
Convoco a seguir Sóstenes e Cynthia para falarem dos slams escolares na perspectiva dos novos estudos dos letramentos.
Sóstenes: Antes de passar, propriamente, às questões que dizem respeito às relações entre a escola e a presença do slam em seus contextos de aprendizagem, considero importante tecer alguns comentários sobre língua/linguagem e seu ensino, e a instituição escolar. Frequentemente, somos levados a tratar as escolas e os estudantes de uma maneira muito genérica, como se fossem todas e todos iguais; é comum ainda depositarmos muitas responsabilidades nos professores e professoras que atuam na educação formal, entre elas, o dever de ensinar leitura e escrita, cujo domínio é considerado imprescindível para quem deseja galgar lugares simbólico ou socialmente valorizados, como ter uma formação superior e/ou uma profissão de prestígio.
Contudo, é fundamental situar de que escola estamos falando: é uma escola pública ou privada? A quais níveis de ensino ela atende? Qual o perfil médio de seu público-alvo? Em que bairro ou local da cidade está localizada? E também levar em conta que nem todos os/as estudantes aprendem da mesma forma nem no mesmo tempo. Por fim, vale lembrar que o letramento ensinado e aprendido nessa agência chamada escola (Kleiman, 1995KLEIMAN, A. B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. p. 15-61.) é estreito, singular, que visa à aquisição de códigos (alfabético, numérico) como competência individual necessária para a promoção do/a estudante. Desse modo, é comum a escola desconsiderar outras práticas sociais de letramentos, no plural, que envolvem os/as jovens em outras esferas comunicativas. O rap e o slam apontados anteriormente por Fabiana são dois exemplos disso.
Logo, é impossível chegar a um consenso mais ou menos coerente em torno de qualquer tema ligado à educação formal sem observarmos as peculiaridades inerentes a cada instituição. Sob esse prisma, as relações que o sistema de educação estabelece com a linguagem e seu ensino têm de ser percebidas levando em consideração as complexidades sociais e seus componentes constitutivos, tais como: raça e etnia, gênero e sexualidade, classe e desigualdades. Soares (2017SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto, 2017. 160 p.) contextualiza que, historicamente, tem vigorado no Brasil uma ideia de “deficiência linguística”, que olha as crianças das classes desfavorecidas economicamente como indivíduos que fazem um uso “deficiente” da linguagem, de tal sorte que caberia à escola ensinar a esses sujeitos as formas ditas corretas de lidar com a linguagem para superarem as supostas “deficiência cultural” e “deficiência linguística”.
Na análise de Soares (2017SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto, 2017. 160 p.), se a problemática é colocada nesses termos, não passará de um pensamento distorcido e guiado pela “ideologia da compensação”, que em geral deposita a culpa por essa suposta “deficiência linguística” nas famílias (essas, por não usufruírem das apropriações validadas de letramento, não educariam os filhos adequadamente) e nas próprias crianças, que logo são consideradas usuárias deficitárias de sua língua materna. Ou seja, esse modo de ver a realidade transfere o problema para os indivíduos, e não para as estruturas desiguais e injustas em que a sociedade tem sido organizada. Buscam, assim, por uma espécie de solução rápida e superficial do que veem como problemático e do que deve ser corrigido: os falares tidos como “errados”, a alfabetização “malfeita”, a “base que falta” ao/à estudante etc.
Diante disso, não se deve dissociar a questão da linguagem na escola dos problemas sociais que afetam a educação pública brasileira, na qual é comum se dizer que crianças e jovens das camadas populares que habitam as periferias não avançam nos estudos devido a seus contextos familiares, onde não se leem nem se consomem construtos culturais privilegiados; onde não se fala o português padrão ou mais próximo da formalidade. É distorção porque se olha para a consequência como se ela fosse a causa, quando na realidade é somente mais um efeito de uma causa maior, propositalmente ocultada pelas ideologias vigentes. Sumariamente, essa percepção é compreendida em duas teorias – a “teoria da deficiência cultural e linguística” e a “teoria das diferenças culturais e linguísticas” – que Soares (2017, p. 84SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto, 2017. 160 p.) se empenha em desbaratar:
[...] Ambas as teorias conferem à escola uma falsa autonomia, atribuindo-lhe a capacidade e a possibilidade de encontrar soluções, ela mesma, para os problemas culturais e linguísticos que nela ocorrem. Essas soluções são buscadas internamente à própria instância escolar, ignoram as determinações externas e jamais se dão no sentido de transformação da sociedade que discrimina e marginaliza, ou de emancipação das camadas desfavorecidas, e sim no sentido de integração e adaptação dessas camadas à sociedade tal como ela é.
Com isso, não estou aqui advogando que o sistema educacional deveria descuidar de um trabalho pedagógico afeito aos usos e reflexões sobre a linguagem e suas variantes e variedades de maior prestígio. O que defendo é que a escola abarque outros letramentos – entendendo aqui letramentos como práticas sociais que envolvem leitura e escrita (Street, 2014STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 240 p.) – que estejam na ordem de realidades e contextos menos favorecidos, e que as crianças e jovens acessem ricas e variadas linguagens. Noutros termos, para nós é importante que os/as educandos/as ampliem criticamente sua percepção de mundo e de vida, percebendo-se como participantes de um entorno social muito complexo e marcado por opressões históricas que, tantas vezes, dificultam o combate às mazelas econômicas, políticas e sociais que inúmeras dessas crianças e jovens vivenciam cotidianamente.
Quando uma escola de um bairro periférico, por exemplo, abre-se ao trabalho com os chamados letramentos de reexistência (Souza, 2011SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p.; Duboc; Menezes De Souza, 2021DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.; Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009., 2019WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.) – letramentos esses que já existem ao seu redor, e resistem independentemente da escola – criam-se diversas possibilidades contra-hegemônicas de atividades com língua/linguagem. São esses os letramentos que vislumbro nas escolas, sobretudo as de periferia, o que muito dialoga com a educação libertadora (Freire, 2000FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 184 p., 2019FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 53. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019. 192 p.) e transgressiva (Hooks, 2017hooks, b. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo B. Cipolla. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017. 283 p.) apontadas por Fabiana e com a qual Cynthia também comunga.
Cynthia: Perfeitamente. Acredito que a proposta educativa de trabalhar os slams nas escolas potencializa a ruptura de dicotomias existentes entre cultura hegemônica/contra-hegemônica, cultura global/local, cultura erudita/popular, cultura canônica/de massa, cultura central/marginal, cultura vernácula/periférica etc. É nesse sentido que defendo uma pedagogia dos multiletramentos (The New London Group, 1996THE NEW LONDON GROUP. A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harward Educational Review, Cambridge, MA, v. 66, n. 1. 60-92, Spring 1996.) que inclua a multimodalidade e a multiculturalidade dando ênfase a esse último “multi”, prefixo que, como bem criticaram Duboc e Menezes de Souza (2021DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.), tem sido compreendido unilateral e equivocadamente como sinônimo de letramentos digitais. Não o são! Em sintonia com os autores, é preciso que haja um “desprendimento” (“delinking”) dessa conotação universal, hegemônica e “metodologizante” atribuída ao conceito de multiletramentos.
Advogo, portanto, em prol da multiculturalidade e, ainda em consonância com os autores, ratifico que é preciso “trazer de volta o corpo para nossas pedagogias”18 18 “bringing back the body into our pedagogies”. (Menezes De Souza, 2019, p. 11MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Decolonial Pedagogies, Multilingualism and Literacies. Multilingual Margins: A Journal of Multilingualism from the Periphery, Western Cape, ZA, v. 6, n. 1, p. 9-13, 2019., tradução nossa) como estratégia de “re-existência, resistência e ressurgimento desses corpos subjugados ao longo da história”19 19 “re-existence, resistance, and resurgence of those subjugated bodies over history”. (Duboc; Menezes De Souza, 2021, p. 562DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021., tradução nossa). Os slams atendem a esse desejo-manifesto uma vez que desestabilizam a lógica cartesiana imposta pela colonialidade/modernidade que dá supremacia à “mente” (europeia, branca, patriarcal, cristã) colocando de lado o “corpo”. Contrariando essa lógica, os jovens slammers trazem para a cena urbana e periférica seus corpos pretos, escravizados, historicamente subalternizados e silenciados, como fez a slammer Manoella de Souza na performance poética aqui destacada. A estudante impôs o seu corpo preto no palco do Teatro Sérgio Cardoso, escancarou sua crença religiosa de matriz africana, atacou o racismo religioso e in-corpo-rou gingas e mandingas afrontosa e poeticamente.
Se o discurso oficial das instituições educadoras (respaldadas pela BNCC) é formar um aluno/a ético, cidadão, democrático, crítico e plural, por que não encorajar os slams como práticas de letramentos literários, de letramentos de reexistência e de letramentos críticos na esfera escolar? Ser leitor e escritor críticos implica ter consciência crítica, social e política; significa, portanto, saber ler e escrever o/no mundo em que se (sobre)vive, de modo questionador e que não se cala frente às injustiças, tal como demonstrou a slammer Manoella. Segundo Monte-Mór (2015, p. 39MONTE-MÓR, W. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. (ed.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas: Pontes, 2015. p. 31-50.), “esse exercício pode ser promovido pedagogicamente ou educacionalmente em várias situações ou atividades dos programas de ensino escolares e universitários”.
É o que almejo ao propor a leitura e a escrita poéticas em performances de slams. O pensamento crítico ou exercício crítico a que se refere a autora tem sido a praxe nas batalhas de slam, escolares ou não. Os estudantes participantes do Slam Interescolar de São Paulo, por exemplo, versificam criticamente seu mundo (periférico) de acordo com suas vivências sociais, culturais e históricas. Leem e escrevem poemas autorais: um indicativo de agência na construção de sentidos (meaning making) – letramentos críticos, por excelência. Nas palavras da autora:
Os estudos dos letramentos (novos letramentos e multiletramentos) e, especialmente, os letramentos críticos agregam mais suportes teóricos no aprofundamento do trabalho sobre expansões de perspectivas. Esses estudos apresentam-se como uma proposta pedagógica de natureza filosófico-educacional-cultural, que [...] representam mudanças que levam à revisão e ampliação, por exemplo, de perspectivas sobre linguagem, comunicação, cultura, diversidade, poder, construção de conhecimento, construção de sentidos, formas de participação e interação, agência, cidadania, língua, cultura e diversidade cultural (Monte-Mór, 2019, p. 322–323MONTE-MÓR, W. Letramentos críticos e expansão de perspectivas: diálogo sobre práticas. In: JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. Z.; MONTE-MÓR, W. (ed.). Letramentos em prática na formação inicial de professores de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 315-335.).
É nessa proposta pedagógica de natureza filosófico-educacional-cultural que incluo o trabalho com os slams nas escolas, visando, também, a uma educação literária libertadora, emancipadora, humanizadora e decolonial, capaz de romper com a lógica da colonialidade/modernidade.
Em se tratando de uma educação literária, vale, por fim, pontuar, que a defesa dos letramentos críticos, de reexistência, dos multiletramentos, não os desvincula dos letramentos literários que, por sua vez, merecem uma atualização e redefinição do seu conceito, em diálogo com a perspectiva política e socialmente crítica a que nos engajamos:
[...] entendemos letramentos literários como movimentos contínuos, responsivos e ideológicos de apropriação do texto literário como construção de sentidos sobre os textos, sobre nós mesmos e sobre a sociedade, o que envolve: 1) a compreensão do texto literário como um tecido em construção ou texto infinito, com significados sempre em debate, abertos a questionamentos e contestações; 2) a possibilidade de construção contínua de atitudes responsivas – sempre ideologicamente guiadas – na integração com textos literários em diferentes contextos; e 3) um movimento exotópico de encontro com o outro e consigo mesmo, de alteridade, pelo estético, numa perspectiva humanizante do ser humano coisificado (Amorim; Domingues; Klayn; Silva, 2022, p. 96AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da. A questão dos letramentos e dos letramentos literários. In: AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da (ed.). Literatura na escola. São Paulo: Contexto, 2022. p. 75-100.).
Os estudantes-slammers se apropriam subjetivamente do texto poético de maneira crítica e ideológica, em um movimento que é singular, mas também é coletivo, ético e estético. Não é sobre cultuar autores/as canônicos/as dos séculos passados e retrasados. No Poetry Slam a literatura se faz contemporânea e (oni)presente. Reconheço que tal apropriação do literário é ousada e propositiva para o trabalho com língua/linguagem e literatura na escola; requer ensinar e aprender leitura, escrita e performance poéticas que fogem aos moldes preestabelecidos nos currículos, além de incentivar o potencial de criticidade e criatividade dos/as educandos/as. Contudo, esse é o sentido de uma educação literária que se quer libertadora, transgressiva e decolonial, por isso desejo(amos) que os slams invadam as escolas e encorajem os jovens pretos e periféricos a in-surgir, re-existir e re-viver (Walsh, 2009WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009.).
Considerações finais
Neste artigo dialogado, nos propusemos a relatar a experiência transformadora vivenciada pelos três autores no VIII Slam Interescolar de São Paulo em 2022FINAL Slam Interescolar SP. São Paulo: Teatro Sérgio Cardoso, 17 nov. 2022. Publicado pelo canal Slam da Guilhermina. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE_xc. Acesso em: 17 dez. 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE...
. Para isso descrevemos e analisamos brevemente a performance poética apresentada no evento pela estudante do ensino fundamental II, Manoella de Souza, da Escola Estadual Dona Luiza Macuco, localizada em Santos, litoral paulista.
Ao presenciar a performance dessa jovem estudante-slammer nos certificamos da ideia falaciosa comumente sustentada de que os jovens “não gostam de literatura” ou de que “poesia é coisa só para quem tem o dom”. O que vimos foi o oposto: jovens poetas se apropriando de uma literatura viva ao performar poemas autorais no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, capital. Seus versos gritavam suas dores e injustiças, impondo seus corpos pretos, pobres e periféricos à cultura hegemônica historicamente opressora e colonialista. Manoella de Souza “mandou o seu recado no papo reto” da poesia-slam que ali encenou performaticamente, em pleno exercício de cidadania.
Reconhecemos, portanto, essa importante iniciativa do Coletivo da Guilhermina que há oito anos tem descoberto brechas para levar os slams “das ruas para as escolas”. Como professores-pesquisadores, encorajamos essa prática poético-literária de forte marcação crítica e política, que irrompe fronteiras entre linguagens, discursos e territórios, conduzindo os jovens estudantes-slammers à apropriação dos letramentos literários de reexistência. Nessa experiência individual dos estudantes, há também a experiência coletiva, o engajamento político desses jovens de periferias, historicamente estigmatizados e excluídos.
Por essas e outras razões – que não cabem mais neste artigo –, o slam como evento político-poético-performático se apresenta sob uma perspectiva da insubmissão decolonial, na medida em que enfrenta o racismo, a discriminação cultural e todo modo de subalternização imposto pela colonialidade/modernidade. A poesia-slam performada por Manoella de Souza é prova disso. Nessa lógica, o grito Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas! é também de resistência, simbolizando o rompimento inegociável do silenciamento das vozes de estudantes-poetas que, por meio da performance (corpo) e da palavra poética, reexistem no Poetry Slam.
Referências
- AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da. A questão dos letramentos e dos letramentos literários. In: AMORIM, M. A. de; DOMINGUES, D.; KLAYN, D. V.; SILVA, T. C. da (ed.). Literatura na escola. São Paulo: Contexto, 2022. p. 75-100.
- ARISTÓTELES (384-322 a.C.). Poética. Tradução de Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2011. 96 p.
- BASTOS, M.; VILLAS BÔAS, R. L. Pode a rua ser escola? Slam como espaço não formal de ensino-aprendizagem. Revista Terceira Margem, Rio de Janeiro, v. 26, n. 49, p. 97-114, 2022.
- BILAC, O. A um poeta. In: BILAC, O. Poesias. Introdução, notas e fixação de texto: Ivan Teixeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 336.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. 600 p.
- CARVALHO, R. S. de; FERRAREZI JR., C. Oralidade na educação básica: o que saber, como ensinar. São Paulo: Parábola, 2018. 160 p.
- DUBOC, A. P. M.; MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Delinking Multiliteracies and the Reimagining of Literacy Studies. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 547-576, 2021.
- FINAL Slam Interescolar SP. São Paulo: Teatro Sérgio Cardoso, 17 nov. 2022. Publicado pelo canal Slam da Guilhermina. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE_xc Acesso em: 17 dez. 2022.
» https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE_xc - FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 53. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019. 192 p.
- FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 184 p.
- HAMBURGER, K. A lógica da criação literária. Tradução de Margot P. Malnic. São Paulo: Perspectiva, 2013. 256 p.
- hooks, b. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo B. Cipolla. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017. 283 p.
- KLEIMAN, A. B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. p. 15-61.
- MAIA, J. de O. Letramentos de Sobrevivência. In: MATOS, D. C. V. da S.; SOUSA, C. M. C. L. L. de (ed.). Suleando conceitos e linguagens: decolonialidades e epistemologias outras. Campinas, SP: Pontes Editores, 2022. p. 215-222.
- MELO NETO, J. C. de. Catar feijão. In: MELO NETO, J. C. de. Poesia completa e prosa. Antonio Carlos Secchin (org.). 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. p. 320.
- MENEZES DE SOUZA, L. M. T. Decolonial Pedagogies, Multilingualism and Literacies. Multilingual Margins: A Journal of Multilingualism from the Periphery, Western Cape, ZA, v. 6, n. 1, p. 9-13, 2019.
- MILTON Nascimento – Nos bailes da vida. [S. l.: s. n.], 28 ago. 2013. Publicado pelo canal Milton Nascimento. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KIdVnY Acesso em: 8 nov. 2022.
» https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KIdVnY - MONTE-MÓR, W. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, C. H.; MACIEL, R. F. (ed.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas: Pontes, 2015. p. 31-50.
- MONTE-MÓR, W. Letramentos críticos e expansão de perspectivas: diálogo sobre práticas. In: JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. Z.; MONTE-MÓR, W. (ed.). Letramentos em prática na formação inicial de professores de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2019. p. 315-335.
- NEVES, C. A. B. Letramentos literários em travessias na Linguística Aplicada: ensino transgressor e aprendizagem subjetiva da literatura. In: LIMA, Érica (org.). Linguística Aplicada na Unicamp: travessias e perspectivas. Bauru, SP: Canal 6, 2021a. 191 p.
- NEVES, C. A. B. Poemar é preciso porque somos poesistência (Prefácio). In: ASSUNÇÃO, C.; JESUS, E. A. de; CHAPÉU, U. (org.) Das ruas para as escolas, das escolas para as ruas: Slam Interescolar. São Paulo: LiteraRUA, 2021b. v. 1, p. 8-11.
- NEVES, C. A. B. Slams – letramentos literários de reexistência ao/no mundo contemporâneo. Linha D’Água, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 92-112, out. 2017. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/134615 Acesso em: 13 ago. 2022.
» https://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/134615 - OLIVEIRA, R. P. de. Literatura marginal: questionamentos à teoria literária. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 – Especial, p. 31-39, jul./dez. 2011.
- PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2018. 252 p.
- SANTOS, S. R. de J. C.; NEVES, C. A. B. Poesia e performance da slammer Bicha Poética: reexistência quilombola de poetas pretas, travestis e periféricas. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte, v. 32, n. 4, p. 57-81, 2022.
- SARTRE, J.-P. Que é a literatura? Tradução de Carlos Felipe Moisés. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 256 p.
- SAUTCHUK, J. M. A poética do improviso: prática e habilidade no repente nordestino. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013. 363 p.
- SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto, 2017. 160 p.
- SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p.
- STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 240 p.
- THE NEW LONDON GROUP. A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harward Educational Review, Cambridge, MA, v. 66, n. 1. 60-92, Spring 1996.
- VILAR, F. Migrações e periferias: o levante do slam. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 58, p. 1-13, 2019.
- WALSH, C. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir e re-vivir. Revista (entre palabras), [s. l.], p. 1-29, 2009.
- WALSH, C. Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, v. 5, n. 1, p. 6-38, jan./jul., 2019.
- ZUMTHOR, P. Introdução à poesia oral. Tradução de Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia Diniz Pochat e Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 11.
- ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 128 p.
-
1
O Slam Interescolar de São Paulo foi idealizado pelo Coletivo Slam da Guilhermina, organizado por Emerson Alcalde, Cristina Assunção e Uiliam Chapéu. Acresce dizer que as formações e oficinas nas escolas só são possíveis graças aos/às slammers mais experientes que, voluntariamente, replicam esse trabalho de disseminação do slam, sob a coordenação do Coletivo.
-
2
Referência ao soneto “A um poeta”, de Olavo Bilac (2001, p. 336BILAC, O. A um poeta. In: BILAC, O. Poesias. Introdução, notas e fixação de texto: Ivan Teixeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 336.), publicado no livro Tarde.
-
3
Em 2023, as inscrições foram de 15 de março a 15 de abril. Há 400 escolas inscritas para este ano.
-
4
Referência a versos da música “Nos bailes da vida” (1981MILTON Nascimento – Nos bailes da vida. [S. l.: s. n.], 28 ago. 2013. Publicado pelo canal Milton Nascimento. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KIdVnY. Acesso em: 8 nov. 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KId... ), de Fernando Brant e Milton Nascimento. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=laVg1KIdVnY. Acesso em: 8 nov. 2022. -
5
Recomendo a leitura de Neves (2021bNEVES, C. A. B. Letramentos literários em travessias na Linguística Aplicada: ensino transgressor e aprendizagem subjetiva da literatura. In: LIMA, Érica (org.). Linguística Aplicada na Unicamp: travessias e perspectivas. Bauru, SP: Canal 6, 2021a. 191 p.), em que caracterizo conceitualmente os slams como eventos e práticas de letramentos (Street, 2014STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 240 p.), diferenciando-o do gênero poesia-slam ou poema-slam.
-
6
Neologismo criado pelo Manifesto do Slam da Guilhermina para fazer referência – e reverência – a Lampião e Maria Bonita, cangaceiros que desestabilizaram o sistema latifundiário e coronelista do Nordeste na década de 1930. Assim também se comportam os slammers: poetas subversivos, transgressores da cultura hegemônica. Por isso, quando vencem uma batalha de slam são, por empréstimo, slampiões ou slampiães.
-
7
Disponível em: https://www.facebook.com/slaminterescolarsp e https://www.instagram.com/slaminterescolar/. Acesso em: 13 dez. 2022.
-
8
Grupo de Estudos em Didática da Literatura, cadastrado no CNPq e liderado pela Profa. Dra. Cynthia Agra de Brito Neves. Programação completa do evento disponível em: https://www2.iel.unicamp.br/gedlit/eventos/. Acesso em: 20 nov. 2022.
-
9
O filme-documentário Slam – voz de levante (2018), dirigido e roteirizado por Tatiana Lohmman e Roberta Estrela D’Alva, apresenta-nos um breve histórico sobre os slams, desde a sua origem em Chicago até sua chegada ao Brasil.
-
10
Pesquisa sob supervisão da Profa. Dra. Walkyria Monte-Mór, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Pesquisa (CNPq).
-
11
Cf. em: https://www.premiojabuti.com.br/premiados-por-edicao/premiacao/?ano=2021. Acesso em: 27 out. 2022.
-
12
A final do VIII Slam de Poesias Interescolar de São Paulo foi gravada na íntegra e está disponível para o público no canal YouTube do Slam da Guilhermina: https://www.youtube.com/watch?v=tTdbxMiE_xc. Acesso em: 17 dez. 2022.
-
13
Referência ao poema “Catar feijão”, de João Cabral de Melo Neto (2007, p. 320MELO NETO, J. C. de. Catar feijão. In: MELO NETO, J. C. de. Poesia completa e prosa. Antonio Carlos Secchin (org.). 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. p. 320.), publicado em Poesia completa e prosa..
-
14
De acordo com as regras, o Poetry Slam tem três rodadas. Todos/as os/as inscritos/as participam da primeira, os cinco primeiros lugares participam da segunda rodada, e a terceira rodada elege o primeiro, segundo e terceiro lugares.
-
15
Pedimos desculpas, antecipadamente, se transcrevermos algum verso ou palavra de modo errado. Há trechos na gravação que são inaudíveis, outros que são prejudicados por nossa escuta da dicção da poeta. Além disso, não conhecemos todas as entidades citadas por ela, o que pode ter nos levado a registrar nomes incorretos.
-
16
A Escrava Anastácia, como ficou popularmente conhecida, viveu na Bahia, no século XVIII. Anastácia foi vítima de estupros e, por se opor às constantes violências sofridas, foi castigada sendo obrigada a usar uma máscara de ferro (máscara de flandres) em sua boca e pescoço durante quase toda a vida. A imagem mais famosa de Anastácia foi registrada em 1839 pelo artista francês Jacques Arago e é a que aparece estampada na camiseta da slammer. A resistência de Anastácia tornou-se símbolo de resistência de tantas outras mulheres negras ao longo da história do Brasil.
-
17
Refiro-me aqui à literatura marginal no sentido empregado por Oliveira (2011OLIVEIRA, R. P. de. Literatura marginal: questionamentos à teoria literária. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 – Especial, p. 31-39, jul./dez. 2011.), isto é, aquela literatura produzida nas duas últimas décadas por autores da periferia das grandes cidades brasileiras, sobretudo São Paulo, e que tem merecido a atenção da mídia e da crítica especializada. Na acepção artística da autora: “marginais são as produções que afrontam o cânone, rompendo com as normas e os paradigmas estéticos vigentes. Na modernidade, uma certa posição marginal da arte sempre foi a condição aspirada como possibilidade para a criação do novo. Contudo, a inovação, uma vez assimilada e introduzida na tradição, deixa de ocupar uma posição à margem […]. Sob esse ponto de vista, a história da literatura e da arte consiste nessa dialética de posições que se alternam entre o centro e a margem, o que envolve não apenas transformações de ordem estética, mas também social e política.” (Oliveira, 2011, p. 1OLIVEIRA, R. P. de. Literatura marginal: questionamentos à teoria literária. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 – Especial, p. 31-39, jul./dez. 2011.).
-
18
“bringing back the body into our pedagogies”.
-
19
“re-existence, resistance, and resurgence of those subjugated bodies over history”.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Dez 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
30 Nov 2022 -
Aceito
01 Ago 2023
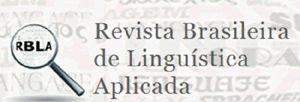









 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).
 Fonte: Final [...] (2022).
Fonte: Final [...] (2022).