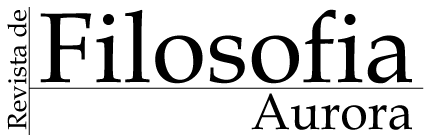Resumo
Discuto, neste artigo, se a fidelidade à terra é uma estratégia efetiva de enfrentamento do niilismo na obra de Nietzsche, tal como é defendida por Jelson Oliveira. Se o dualismo está na base da moral do Zoroastrismo iraniano, o Zaratustra de Nietzsche busca superar essa moral dualista por meio de uma afirmação irrestrita da vida mundana. Entretanto, ao confrontar a proposta afirmativa de Jelson, mostraremos que as diversas correntes do gnosticismo têm por base o dualismo ontológico e antropológico, mas não conduzem necessariamente a uma postura niilista, negadora da vida. O dualismo gnóstico pode levar a uma fruição do mundo, por não se ater às regras morais e sociais. O parentesco ‘gnóstico’ próprio do pensamento de Nietzsche, como se expressa em Assim falou Zaratustra, consiste na tensão dinâmica entre os polos opostos da afirmação e da negação. Defendo que a solução de Nietzsche não é satisfatória, pois o niilismo não é apenas um subproduto do dualismo, mas uma condição ligada à finitude do ser humano.
Palavras-chave:
Niilismo; Gnosticismo; Fidelidade à terra; Dualismo
Abstract
In this article I discuss whether fidelity to the earth is an effective strategy for confronting nihilism in Nietzsche's work, as advocated by Jelson Oliveira. If dualism is at the basis of the morality of Iranian Zoroastrianism, Nietzsche's Zarathustra seeks to overcome this dualistic morality through an unrestricted affirmation of worldly life. However, when confronting Jelson’s affirmative proposal, we will show that the various currents of Gnosticism are based on ontological and anthropological dualism, but do not necessarily lead to a nihilistic, life-denying stance. Gnostic dualism can lead to a fruition of the world by not sticking to moral and social rules. The Gnostic scheme proper to Nietzsche’s thought, as expressed in Thus Spoke Zarathustra, consists of the dynamic tension between the opposite poles of affirmation and negation. Nietzsche’s solution is not satisfactory, for nihilism is not only a by-product of dualism, but a condition linked to the finitude of the human being.
Keywords:
Nihilism; Gnosticism; Earth Allegiance; Dualism
Resumen
Discuto en este artículo si la fidelidad a la tierra es una estrategia eficaz para enfrentarse al nihilismo en la obra de Nietzsche, tal como defiende Jelson Oliveira. Si el dualismo subyace a la moral del zoroastrismo iraní, el Zaratustra de Nietzsche busca superar esta moral dualista a través de una afirmación irrestricta de la vida mundana. Sin embargo, al confrontar la propuesta afirmativa de Jelson, mostraremos que las diversas corrientes del gnosticismo se basan en el dualismo ontológico y antropológico, pero no conducen necesariamente a una postura nihilista y negadora de la vida. El dualismo gnóstico puede conducir a una fruición del mundo, al no atenerse a las normas morales y sociales. El parentesco “gnóstico” propio del pensamiento de Nietzsche, expresado en Así habló Zaratustra, consiste en la tensión dinámica entre los polos opuestos de la afirmación y la negación. Argumento que la solución de Nietzsche no es satisfactoria, ya que el nihilismo no es sólo un subproducto del dualismo, sino una condición ligada a la finitud del ser humano.
Palabras clave:
Nihilismo; Gnosticismo; Lealtad a la tierra; Dualismo
Introdução
Niilismo e gnosticismo são movimentos que marcam a tradição ocidental. Por seu turno, o gnosticismo é uma tradição multifacetada, de cunho sincretista, que expressa experiências religiosas do Oriente próximo e da Pérsia. Em comum a todas as correntes gnósticas, os dualismos enfatizam a situação de desamparo do ser humano face a um mundo hostil ou indiferente. Nesse sentido, o dualismo está na base da moral, da antropologia e da cosmologia do Zoroastrismo iraniano. O Zaratustra de Nietzsche busca superar essa moral dualista por meio de uma afirmação irrestrita da vida mundana. Em um primeiro momento, apresentaremos os traços básicos do dualismo gnóstico, para confrontar a proposta afirmativa de Jelson, a saber, de que a fidelidade à terra permite superar tanto o niilismo quanto o gnosticismo, por serem visões dualistas negadoras do enraizamento terreno do ser humano. Em um segundo momento, mostraremos que as diversas correntes do gnosticismo têm por base o dualismo ontológico e antropológico, mas não conduzem necessariamente a uma postura niilista, negadora da vida. O dualismo gnóstico pode levar a uma fruição do mundo, por não se ater às regras morais e sociais. Isso implica em retomar a discussão sobre a crítica de Nietzsche ao pretenso niilismo implícito em todos os dualismos, assim como sobre sua proposta afirmadora, de uma afirmação da imanência irrestrita da vida terrena.
Zoroastrismo e gnosticismo: o dualismo e suas implicações morais e amorais
Jelson Oliveira defende em seu artigo “Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche” (2022, p. 86) que Zaratustra, o “personagem histórico fundador do zoroastrismo”, é o responsável pela difusão de uma moral dualista, que guia ao niilismo da negação da vida. Nesse sentido, esse dualismo estaria entranhado em todas as tendências gnósticas do início da era cristã, visto que parte de uma separação entre o mundo imperecível do divino e o mundo humano perecível. Nietzsche destaca o núcleo moral e profético do zoroastrismo, que abarca o núcleo essencial da doutrina, em seus esforços para situar a vida humana nessa luta entre o Bem e o Mal, transposta ao plano cosmológico. Nesse sentido, Oliveira destaca:
Marcado por uma visão de duas divindades mais ou menos independentes, representantes dos princípios do Bem e do Mal, cuja influência na história seriam marcadas por uma alternância de domínio e cuja característica é uma radical hostilidade em relação ao mundo, o zoroastrismo não apenas afirma uma visão teológica, cosmológica e antropológica de tipo dualista, mas, sobretudo, oferece uma orientação ética para o ser humano em luta contra o mundo, servindo, portanto, de paradigma da moralidade que passou a estruturar a vida no Ocidente (OLIVEIRA, 2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 91).
Esse é o aspecto central que Nietzsche enfatiza no Zaratustra histórico, sendo que a luta cósmica entre o Bem e o Mal se desdobra no plano de uma história humana dramática, na busca por salvação e por vitória sobre o Mal:
Tive de prestar homenagem a Zaratustra, um persa: Os persas pensaram primeiro a história como um todo. Uma sequência de desenvolvimentos, cada qual presidido por um profeta. Cada profeta tem o seu hazar, o seu reino de mil anos - - - (FP 1884, 25[148])1 1 Serão utilizadas as seguintes abreviaturas para citar as obras de Nietzsche: ZA (Assim falou Zaratustra), DD (Ditirambos de Dioniso), GM (Genealogia da moral), CI (Crepúsculo dos Ídolos) e FP, para os fragmentos póstumos por nós traduzidos, conforme a convenção adotada pelos editores G. Colli e M. Montinari, na Kritische Studienausgabe (KSA), e seguida por Paolo D’Iorio, na edição eletrônica e-KGWB: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB .
Entretanto, se Nietzsche entende que Zaratustra considera o Bem e o Mal como engrenagens de toda a história, ele não chega a determinar o dualismo entre os deuses. Como notou Norman Cohn (2001COHN, N. Chaos, Cosmos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. 2 ed. New Haven and London: Yale University Press, 2001., p. 81), Ahura Mazda, o Senhor Sabedoria, é a causa de todas as coisas boas do universo, sejam elas divinas ou humanas. Incriado, justo e bom, ele é uma espécie de guardião da ordem do universo. Mas essa ordem é perturbada por um outro deus antagônico, Angra Mainyu, o princípio da desordem e da falsidade. Ou seja, Ahura Mazda é o único ser divino originário, mas não é o único ser originário, pois Angra Mainyu é também um princípio coeterno poderoso, do caos e da desordem, cujo antagonismo propicia uma tensão dinâmica no universo. Assim, Ahura Mazda é uma “natureza profundamente moral” (COHN, 2001COHN, N. Chaos, Cosmos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. 2 ed. New Haven and London: Yale University Press, 2001., p. 82). Esse dualismo cosmológico, antropológico2 2 Nesse sentido, concordamos com a afirmação de OLIVEIRA (2022, p. 92), de que “o zoroastrismo promoveu o dualismo antropológico”. e moral é central em todas as correntes gnósticas e é o ponto de partida do trabalho de superação da moral da figura literária do Zaratustra de Nietzsche, como veremos adiante.
A luta entre as divindades gêmeas e antagônicas transcorre em um tempo delimitado, que constitui a história humana. O mito cosmogônico do zoroastrismo, assim, aponta para o desenlace dessa luta, no triunfo definitivo das forças do Bem sobre o Mal, que suprimira o próprio tempo finito da história humana (COHN, 2001COHN, N. Chaos, Cosmos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. 2 ed. New Haven and London: Yale University Press, 2001., p. 83). Essa escatologia teria influenciado a moral religiosa judaica e cristã3 3 John Gray defende que toda as tradições proféticas e escatológicas do judaísmo e do cristianismo foram influenciadas pela religião de Zoroastro (Cf. GRAY, 2008, p. 25). , no modo de compreender a história humana da salvação como uma luta para vencer o Mal e a finitude do mundo, com a promessa de uma eternidade fora do tempo.
Os vínculos do gnosticismo com o zoroastrismo são complexos e de difícil delimitação. Como nos mostram as obras de Hans Jonas (1988JONAS, H. Gnosis und spätantiker Geist. I. Die mythologische Gnosis. 4. ed. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1988., 2001) e de Kurt Rudolph (1987RUDOLPH, K. Gnosis. The nature and History of Gnosticism. Trad. de Robert McLachlan Wilson. New York: HarperCollins Publishers, 1987.), o gnosticismo é uma religião helênica sincretista, reunindo influências diversas das religiões orientais4 4 Kurt Rudolph destaca também a importância das religiões helênicas de mistérios, principalmente do orfismo, para a formação do Gnosticismo (1987, p. 285 ss.). Como é sabido, o orfismo possui um vínculo forte com o culto de Dioniso. A versão do mito de Dioniso-Zagreus, com o despedaçamento de Dioniso pelos Titãs, possui semelhanças com a cosmogonia gnóstica, em relação ao destino pavoroso da origem primeva da divindade e dos humanos. , do pensamento grego antigo e da época helenista. Do mesmo modo que o cristianismo, o gnosticismo dos séculos I e II d.C. possui elementos helenístico-sincretistas. Nesse sentido, Hans Jonas expõe os quatro tipos principais de gnosticismo (Gnosis): i) O tipo iraniano (sobretudo Mani); ii) o tipo sírio-egípcio (Valentim e Basilides são os principais representantes; iii) o tipo eclesial-alexandrino (Orígenes e a tradição mística monacal dos séculos I e II d.C.), e iv) o tipo neoplatônico (Plotino). Esses quatro tipos estão distribuídos sobretudo em três regiões geográficas: o Egito, a Síria/Palestina e a Babilônia profunda (Pérsia) (JONAS, 1988JONAS, H. Gnosis und spätantiker Geist. I. Die mythologische Gnosis. 4. ed. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1988., p. 256 s.). Mani e Plotino são extremos no movimento gnóstico, o primeiro significando um aprofundamento do dualismo moral e o último defendendo uma doutrina da emanação, de cunho monista. Por uma questão de delimitação da relação entre gnosticismo e niilismo, abordaremos os aspectos centrais do dualismo gnóstico nos séculos de seu nascimento e florescimento.
A pesquisa rigorosa de Hans Jonas trouxe resultados significativos, de modo a compreender o caráter dinâmico do dualismo gnóstico. Segundo Jonas (1988, p. 260), a visão gnóstica dualista do mundo pode ser apreendida por cinco aspectos: i) O afastamento dos deuses do mundo; ii) o fechamento do mundo; iii) o aprisionamento do homem no mundo; iv) o Eu não mundano (pneumático); e v) a transmundaneidade de deus. O acosmismo presente no gnosticismo não configura somente uma fuga do mundo, mas insere uma tensão dinâmica entre os polos opostos, que resulta em uma posição antropológica sui generis e em uma construção histórica de sentido escatológico. É assim que, para Jonas, o mito gnóstico significa “uma história da desmundanização do Ser” (1988, p. 257). Tanto no mito cosmogônico (luta entre deuses coeternos) quanto no plano metafísico (oposição entre mundo e deus), o dualismo gnóstico acarreta uma desvalorização dos poderes e da condição natural do ser humano (JONAS, 2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 281). Mas a condição do ser humano, conforme Hans Jonas destaca com muita coerência, não é constituída por uma mera dualidade entre corpo e alma. A alma não é o divino no íntimo do ser humano, em contraposição ao corpo mundano. Essa posição estranha e problemática da alma tem consequências decisivas para a moral, para o imoralismo e amoralismo gnósticos. A alma também está aprisionada ao mundo e, além do corpo, possui uma oposição ainda maior: ao espírito (pneuma) acósmico5 5 O eu pneumático (pneumatisches Ich) dos gnósticos é uma espécie de “ponto nulo” (Nullpunkt) da dimensão acósmica, permitindo tanto a libertação real do mundo quanto a plenificação pneumática no mundo do puro espírito (cf. JONAS, 1988, p. 200-202). . Assim, Jonas (2001, p. 270) defende que essa dualidade interna entre alma e espírito permite que o princípio transcendente (espírito) consiga, depois de percorrer um longo caminho, a libertação completa de tudo o que é mundano.
Segundo Jonas (2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 270), o “niilismo moral” dos gnósticos consiste na revolta metafísica mais radical contra a finitude e insuficiência do mundo, em uma época de crise e de fragmentação do mundo antigo. Esse niilismo é também uma indiferença moral, que se expressa como amoralismo. Mas também como imoralismo, pela atitude decidida de descumprimento das normas morais e das convenções que ligam os humanos às instituições e à coletividade. Ou seja, o pecado ativo é visto como necessário no caminho da salvação (2001, p. 274). Nesse “vácuo de valores” engendrado pela crise social e espiritual do mundo antigo, os gnósticos prescrevem o imoralismo de modo positivo. Levando-se em conta que os “pneumáticos” estão salvos de antemão, por sua pureza espiritual (que não pode ser maculada por nada de terreno ou cósmico), o ascetismo e a prática da virtude sucedem em uma “moldura acósmica de referência” (JONAS, 2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 275). Assim, em Marcion, Mani e nos mandeus, essa posição acósmica resulta na valorização de virtudes negativas, como a compaixão, a autoabnegação, o desprezo pelo mundo material e pelo próprio corpo.
Destacamos aqui um ponto forte da análise de Jonas, ao distinguir a versão ascética do gnosticismo da versão libertina. Há dois modos de praticar a liberdade: i) pelo abuso: por meio do excesso, do “pecado”, há um repúdio à adesão à natureza; ii) pelo não uso: por meio da abstenção e da ascese, também se repudia a natureza. São dois modos de viver “fora da lei”, ou seja, fora das normas mundanas (JONAS, 2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 275). A versão libertina da estranha “moralidade” do gnosticismo é constituída por tipos esotéricos. Os pneumáticos seriam puros, imunes à corrupção corpórea, de modo que poderiam se entregar a todos os tipos de excesso, como veremos adiante. Entretanto, essa liberdade seria para poucos, para essa elite dos eleitos e predestinados à salvação do mundo. Entretanto, na versão ascética dessa “moralidade”, predominam os tipos exotéricos de gnosticismo. Nesse grande grupo estão Mani, Marcion, os mandeus. A formação de comunidades e igrejas é favorecida por essa orientação ascética, aberta a todos os membros que praticam suas virtudes. Nesse sentido, o maniqueísmo foi a religião gnóstica mais abrangente do mundo antigo, chegando a rivalizar com o cristianismo nos séculos III e IV d.C. Com a curiosa moralidade dos seletos libertinos, que atribuíam a si mesmos o raro privilégio da liberdade, não há condições para formar grandes comunidades religiosas.
O gnosticismo, desse modo, não é apenas a expressão moral-ascética da negação do mundo, mas implica em uma inusitada fruição positiva do excesso das forças naturais do ser humano. Esse é um aspecto que Nietzsche não considerou, pois trata apenas das implicações religiosas negadoras do mundo nas duas únicas menções diretas ao gnosticismo encontradas em suas obras. No fragmento póstumo de 1885 (38[7]), Nietzsche compreende o gnosticismo como uma expressão da piedade cristã na filosofia alemã de Hegel, Schelling e Schopenhauer, junto ao panteísmo, com o misticismo e com posições ascéticas negadoras do mundo. Na segunda menção (FP 1885 2[131], ele identifica em Schelling a tentativa de transformar o cristianismo em gnosticismo. Essa breve menção é bem pertinente em relação à filosofia do Schelling tardio, nas suas investigações sobre a filosofia da mitologia e da revelação. Entretanto, não há um desenvolvimento dessa posição, nem das formas gnósticas presentes no pensamento de Hegel e de Schopenhauer; do último, aliás, o jovem Nietzsche se apropriou de esquemas dualistas em O nascimento da tragédia.
O niilismo é apenas a consequência da desvalorização dos valores superiores da moral dualista?
Nos escritos tardios de Nietzsche há uma insistência na crítica ao niilismo como resultado da desvalorização dos valores da moral cristã. Se a moral cristã foi um antídoto ao primeiro niilismo, ao horror vacui, ou seja, ao vazio de sentido que ameaçava o homem antigo diante da ruína da cultura helenista e romana, essa mesma moral propiciará as irrupções mais radicais do niilismo ativo e passivo. Esse processo de ruína movido pela moral cristã é expresso enfaticamente no fragmento de Lenzer-Heide, de 10 de junho de 1887:
Mas entre as forças que a moral fomentou estava a veracidade: esta se volta por fim contra a moral, descobre sua teleologia, sua consideração interessada - e agora o conhecimento (die Einsicht) dessa longa e encarnada mentira, de que se desespera por libertar-se, atua justamente como estimulante. Ao niilismo. Constatamos agora em nós a existência de necessidades, implantadas pela longa interpretação moral, que nos aparecem como necessidades do não verdadeiro; por outro lado, dessas mesmas necessidades parece depender o valor, por meio das quais suportamos viver. Este antagonismo entre não estimar o que conhecemos, e não poder mais estimar aquilo de que gostaríamos de nos iludir - resulta em um processo de dissolução. (FP 1887 5[71])
A interpretação moral cristã do mundo tem consequências niilistas, pela postura negadora do mundo ocasionada pela supervalorização do mundo transcendente (mundo verdadeiro) em detrimento do enraizamento natural da existência humana. Na religião e na moral cristãs confluiriam todas as tendências niilistas do mundo antigo, medieval e moderno. Assim, a luta de Nietzsche é pela consumação do processo de autossuperação da moral que, ao mesmo tempo, seria o processo de autossuperação do niilismo. Isso seria possível se o niilismo fosse somente uma doença do homem moral.
O niilismo não é somente a posição doentia de valores proveniente da moral dualista, seja ela cristã, platônica ou gnóstica. Apesar das poucas menções ao primeiro niilismo, ao desespero preexistente desde a humanidade arcaica, que se manifestava de tempos em tempos quando faltava o poder transfigurador da arte ou da religião. Como é o caso de Pirro (FP 1888, 14[100] e dos curiosos habitantes da Ilhas Fidji, com seu hábito do suicídio (NT 3). Quando o instinto da vida ou, na formulação do Nietzsche tardio, a vontade de poder decai, o niilismo se estabelece como ausência de sentido, angústia e desamparo face ao mundo hostil. Mas não podemos atribuir somente à moral dualista as causas do esgotamento nervoso e da fraqueza fisiológica. Até porque a fraqueza fisiopsicológica, e a situação existencial de ausência de valores motivou multidões no mundo antigo e medieval a se agarrar aos arroubos morais sublimes do sacerdote ascético. Os remédios propostos por esse estranho médico e pastor causam o excesso de sentimento; no fundo, preparam a irrupção de formas violentas da vontade de nada, como “delírios coletivos sedentos de morte”. Esses são os resultados do agravamento da condição doentia na História:
Tremendas doenças epilépticas, as maiores de que fala a história, como as danças de São Vito e de São João na Idade Média, encontramos, como outra forma do seu influxo, paralisias terríveis e depressões prolongadas, com as quais por vezes o temperamento de um povo ou de uma cidade (Genebra, Basileia) se transforma de uma vez por todas em seu oposto - nisto se inclui a histeria das bruxas, algo aparentado ao sonambulismo (oito grandes erupções epidêmicas dessa histeria somente entre 1564 e 1605) - (...). (GM III, 21)
O ideal ascético corrompeu também a saúde e o espírito dos humanos modernos. Os valores niilistas, desse modo, preponderam na humanidade do século XIX, sob a égide do cristianismo. Com a percepção da ruína das valorações morais cristãs, o desamparo niilista é ainda mais grave do que no primeiro niilismo, pois agora os “malogrados” teriam a percepção de que, com a ruína do cristianismo, o deserto da ausência de sentido não pode ser preenchido. Isso porque os esgotados não encontram consolo nos valores nobres e naturalistas, que brotam dos instintos mais afirmativos da vida. Nietzsche julgava ter encontrado a fonte dos valores afirmativos na vontade de poder da vida ascendente, mas estes valores poderiam garantir a superação do niilismo somente para os “mais fortes”. Para garantir o triunfo dos mais fortes sobre os esgotados e malogrados, ele ainda enfatiza o sentido de sua crítica ao cristianismo em O Anticristo:
A vida mesma é, para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de poder: onde falta a vontade de poder, há declínio. Meu argumento é que a todos os supremos valores da humanidade falta essa vontade - que valores de declínio, valores niilistas preponderam sob os nomes mais sagrados (AC 6).
Quando Jelson Oliveira (2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 4) afirma: “Todo dualista e niilista é um doente”, ele parece concordar com essa interpretação do niilismo restrita ao campo dos valores morais negadores. Tanto o niilista que expressa seu conhecimento acerca da ausência de valor quanto o niilista que diz não à vida terrena em prol de esperanças transcendentes seriam formas de negação teórico-práticas da existência mundana. Entretanto, se o niilismo é uma forma grave de doença do homem moral, e se a moralização atingiu a todos os seres humanos no processo civilizacional, mesmo aqueles que reivindicam a “grande saúde”, então a questão principal é como tratar essa doença. Nesse ponto, não é uma censura ou uma objeção dizer que todos os dualistas e niilistas são doentes. A questão é: mesmo sendo doentes (expressando a décadence fisiopsicológica), os niilistas podem afirmar a vida? Nesse ponto, contraponho-me à interpretação de Jelson, mostrando que os gnósticos libertinos podem fruir positivamente dos poderes da natureza, mesmo através de seu esgotamento.
O libertinismo gnóstico e o espírito livre de Nietzsche
O libertinismo gnóstico pode ser uma objeção à tese de que o niilismo da negação da vida é o único resultado da moral dualista. Para formular essa objeção, apoio-me em Hans Jonas, que compreendeu de modo lúcido a imbricação entre gnosticismo e niilismo. Concordo com Jelson Oliveira no sentido de que todos os movimentos gnósticos são marcados por dualismos e por uma hostilidade ao mundo. Mas a versão libertina do gnosticismo não significa uma mera negação da vida e do mundo. Há um “imoralismo de base religiosa” (JONAS, 2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 271) que leva a uma indiferença a tudo o que é cósmico6 6 Jelson Oliveira (2022) pondera, a partir das reflexões de Hans Jonas sobre o niilismo moderno, que mesmo nas atitudes libertinas próprias da modernidade prepondera uma indiferença em relação ao mundo, que se desdobra em hostilidade aberta a ele. Essa hostilidade, enfim, se volta contra a natureza por meio da exploração e esgotamento moderno dos recursos naturais. Considero pertinente essa observação à medida que coloca essa hostilidade como marca do niilismo moderno, mesmo em suas versões mais libertinas. Entretanto, é preciso pensar sobre a amplitude dessa hostilidade, pois ela parece estar no núcleo niilista de nosso “ser moderno”. Está em nosso poder afirmar o mundo como um lugar acolhedor de habitação? Estaria o niilismo gnóstico tão entranhado em nossos modos de ser, de modo que somos hostis ao mundo mesmo quando pretendemos afirmar o sentido da Terra? Penso que essas questões assumem um caráter próprio e inquietante no primeiro quartel do século XXI. , mundano, natural. O que há de mais sagrado e valioso no ser humano é o “pneuma ou Eu acósmico”. Segundo Jonas, essa é uma concepção niilista, pois o Deus gnóstico possui muito mais de nihil do que do ens; ou seja, à diferença do Demiurgo que cria o mundo, o deus gnóstico é totalmente estranho ao mundo. Ele é espírito (pneuma) completamente distinto do mundo, mas tem uma contraparte: o pneuma ou Eu acósmico que está incrustrado no ser humano. Mas esse pneuma só se revela “na experiência negativa da alteridade” (JONAS, 2001, p. 271).
Como vimos, o libertinismo de cunho gnóstico apresenta uma prescrição positiva de imoralismo: descumprir normas morais, “pecar” ativamente, cometer excessos de vários tipos são formas de uma revolta metafísica niilista contra a criação demiúrgica. Ou seja, o mundo criado pelo Demiurgo, como ocorre nas formulações mais radicais do gnosticismo, em Valentinus e em Mani, possui a marca do mal, da finitude e da perdição. O princípio da salvação está no Espírito (pneuma) acósmico. Nas versões libertinas esotéricas, segundo Jonas (2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 276), a liberdade é privilégio exclusivo dos poucos, a saber dos libertinos, que estariam naturalmente salvos, por serem “pneumáticos”, a saber, homens espirituais que possuem o Eu acósmico oculto a tudo o que é mundano, e que está ao abrigo de todas as vicissitudes do mundo. Assim se mostra o amoralismo gnóstico: por estarem alheios ao mundo das normas e valores morais, os libertinos podem se entregar com inocência a todas as formas de licenciosidade. Entretanto, poderíamos questionar se de fato os libertinos pretendiam ficar indiferentes ao mundo, e se valorizavam mais o atingimento do Eu acósmico ou a própria fruição do mundo corpóreo, aparentemente negada.
No libertinismo gnóstico, contudo, há uma obrigação “moral” positiva a realizar: a de exaurir completamente os poderes da natureza (JONAS, 2001JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001., p. 272). A fruição positiva no excesso dos prazeres corporais seria uma forma de se livrar da servidão ao mundo própria das criaturas presas às normas morais e à ordem natural. Esse “interesse metafísico positivo” (JONAS, 2001, p. 203) em repudiar a afirmação do mundo parece paradoxal: a licenciosidade e os excessos do uso dos prazeres corporais e anímicos seriam formas de esgotar as forças da natureza e não a fruição do mundo natural como um local acolhedor de habitação. Essa obrigação de negar os poderes naturais por meio de um uso afirmativo até seu esgotamento possui a mesma lógica do transbordamento das paixões proposta pelo sacerdote-feiticeiro ascético, no modo como Nietzsche a descreveu na terceira dissertação da Genealogia da moral: a própria força da paixão em negar este mundo prende sempre mais o asceta a este mundo. Tanto o asceta cristão quanto o libertino gnóstico demonizam o mundo interior: o ser humano mundano seria presa de forças alheias, de caráter demoníaco. A diferença é que para o asceta cristão, o ser humano virtuoso tem a liberdade para salvar sua alma do mundo, quando se abre à graça divina. Os gnósticos são pessimistas em relação ao mundo e à alma humana. Tanto a constituição humana psicofísica quanto o mundo estão completamente dominados por poderes demoníacos (JONAS, 2001, p. 281), de modo que a salvação só poderia estar fora do mundo (acosmismo). Entretanto, os gnósticos se dedicam com paixão aos excessos, sem pressa para esgotar os poderes do mundo, fruição essa que possui um fundo niilista, mas consequências afirmativas.
A mesma prescrição moral gnóstica de imoralismo pode ser encontrada na seita ou irmandade medieval do Livre Espírito, em sua difusão nos séculos XIII e XIV. Norman Cohn (1980) investigou o modo de vida singular dessa irmandade, suas práticas licenciosas, os excessos, as prescrições positivas de cometer crimes, infâmias, etc. Essa irmandade foi ferozmente combatida pela Igreja Católica, e reunia adeptos radicais de outras seitas como os Amaurianos, as Beguines e os Beghards (COHN, 1980, p. 136). Quero apenas enfatizar aqui, sem querer entrar em discussões pormenorizadas sobre o movimento, que no auge do domínio ascético moral da cristandade havia pessoas que se dedicavam à libertação do espírito, com meios imorais.
As práticas dos adeptos da Irmandade do Livre Espírito incluíam várias técnicas de autoabnegação, de automartírio, para atingir a condição psíquica de ataraxia, de uma passividade e indiferença absoluta em relação ao mundo. Esse training ascético poderia durar muitos anos, mas teria como recompensa o “Livre Espírito”, ou seja, o adepto se transformaria em Deus. Essa unyo mystica, em princípio, seria momentânea, visto que enquanto seres mundanos, teriam de continuar a fazer concessões ao mundo. Mas aqueles adeptos que julgavam ter chegado a uma perfeita união com Deus ao final do caminho de autodeificação sucumbiriam a uma “megalomania niilista”. Conforme pondera Cohn:
Naturalmente, o atingir da divindade implicava o adquirir de prodigiosos poderes taumatúrgicos. Alguns dos Irmãos do Livre-Espírito acreditavam que tinham recebido o dom de profetizar, que tinham conhecimento de todas as coisas do Céu e da Terra, de maneira que podiam operar milagres - atravessar a água sem molhar-se; caminhar sem tocar o chão. Mas para a maioria deles, objetivos como estes eram demasiado triviais, pois sentiam-se literalmente onipotentes, “Eles dizem”, assinalava o Bispo de Estrasburgo, “que criaram todas as coisas, que criaram mais ainda que Deus” (COHN, 1980, p. 145).
Do ponto de vista estritamente psiquiátrico, teríamos ali paranoicos típicos; mas de um ponto de vista prático, aqueles que passaram pelas provas de salvação dos exercícios ascéticos poderiam viver conforme seus próprios caprichos, no “Espírito de Liberdade” (COHN, 1980, p. 144 s.), em que seria restaurada a liberdade do homem natural, sem pecado e sem consciência moral. Assim, o “amoralismo total” é o que distinguia os adeptos do Livre Espírito de outras seitas medievais.
Nietzsche não tem conhecimento da Irmandade do Livre Espírito, mas demonstra simpatia (GM III 24) pela Ordem dos Assassinos, como Jelson Oliveira bem destaca (2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 99). À diferença do Velho da Montanha iraniano do séc. XI, o espírito livre (Freigeist) de Nietzsche é muito mais contido na sua libertação, pois sua meta é viver para o conhecimento:
Um homem do qual caíram os costumeiros grilhões da vida, a tal ponto que ele só continua a viver para conhecer sempre mais, deve poder renunciar, sem inveja e desgosto, a muita coisa, a quase tudo o que tem valor para os outros homens, deve-lhe bastar, como a condição mais desejável, pairar livre e destemido sobre os homens, costumes, leis e avaliações tradicionais das coisas (HH I, 34).
Essa renúncia ascética envolve prescrições práticas de vida, como as formuladas por Nietzsche nos 10 mandamentos do espírito livre7 7 No FP 19 [77] - outubro - dezembro de 1876] são elaborados “Os 10 mandamentos do espírito livre: Tu não deves amar nem odiar os povos. Tu não deves praticar nenhuma política. Tu não deves ser rico e nem um mendigo. Tu deves sair do caminho dos famosos e influentes. Tu deves tomar tua mulher de um povo que não seja o seu. Tu deves deixar teus filhos serem educados por teus amigos. Não deves te submeter a nenhuma cerimônia da igreja. Tu não deves te arrepender de nenhuma ofensa, mas por causa disso fazer uma boa ação. Tu deves preferir o exílio, para poder dizer a verdade. Tu deves deixar o mundo ir contra ti e precaver-te contra o mundo.” . Acima de tudo, ela é um meio para a libertação dos valores negadores da vida, para alcançar a liberdade de criar novos valores. O tipo do espírito livre das obras intermediárias é um tipo transitório. Zaratustra carrega em si mesmo as “virtudes” do espírito livre, mas pretende ir além do vazio de valores que se abriu com o livramento em relação aos valores do passado. Mesmo que o libertinismo da versão esotérica da “moral gnóstica” pareça ser estranho a Nietzsche, algumas atitudes libertinas estão no modo de pensar e viver do espírito livre, principalmente no desprezo às convenções morais e sociais. A segunda transmutação do espírito, do camelo em leão, simboliza bem a importância do espírito livre em Nietzsche, sua atitude decidida de enfrentar o grande dragão e livrar-se do fardo dos valores milenares da moral:
Mas no mais solitário deserto acontece a segunda transmutação: o espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto.
Ali procura o seu derradeiro senhor: quer se tornar seu inimigo e derradeiro deus, quer lutar e vencer o grande dragão (ZA II, Das três transmutações).
O deserto é o vazio de valores em que o espírito livre transita, com o anseio por novas criações. O poema “Der Freigeist. Abschied” (FP 1884, 28[64]), que retrata bem esse sentimento de desamparo pela perda dos valores antigos e pela segurança do mundo moral, é do outono 1884, ou seja, da época do Zaratustra, depois de Nietzsche já ter anunciado o super-homem (der Übermensch) como o sentido da Terra. Jelson Oliveira (2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 111) defende que a fidelidade à Terra é o principal enfrentamento do niilismo proposto pelo autor do Zaratustra. Isso ocorreria por meio de um processo de autossuperação da moral, pois no Zaratustra de Nietzsche “o moralista (gnóstico) se autossupera, transvalora a si mesmo e se torna um imoralista” (OLIVEIRA, 2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 101). É essa transição que queremos investigar, enfim: com o Zaratustra de Nietzsche há uma despedida definitiva do deserto niilista do espírito livre, com a afirmação da Terra pelo super-homem? O retorno da sombra de Zaratustra é apenas a rememoração de um perigo já superado ou o ressurgimento de uma ameaça niilista no seio do próprio lar zaratustriano?
O parentesco ‘gnóstico’ de Nietzsche: os paradoxos da fidelidade à terra
Após a suposta travessia dos desertos do niilismo, Nietzsche deposita em Zaratustra suas mais ‘sagradas’ esperanças afirmativas. Na verdade, o lar de Zaratustra não é um Jardim do Éden, mas uma caverna em montanhas um tanto inóspitas. A solidão é a pátria de Zaratustra, que não é perturbada pelos animais que o cercam; os homens superiores que sobem à montanha na quarta parte do Zaratustra são “amigos”, a quem o amor não é recomendado. O anúncio do super-homem, no entanto, ocorre nos vales, quando Zaratustra implora aos habitantes da cidade que permaneçam fiéis à Terra. Depois de ter sido caluniada pelos transmundanos, a terra poderá ser do homem que vai além de si mesmo:
Vede, eu vos ensino o super-homem!
O super-homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade diga: o super-homem seja o sentido da terra!
Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas! (ZA I, Prólogo de Zaratustra, 3).
Zaratustra anuncia o super-homem, que deveria ser o “senhor da terra”; é evidente que ele não é mais um moralista ou dualista, no sentido platônico, mas ser um imoralista é suficiente para afirmar a vida terrena? Jelson Oliveira entende que sim, pois o Zaratustra imoralista iria além das consequências niilistas da vontade de verdade própria do ideal ascético (OLIVEIRA, p. 104). Entretanto, Zaratustra é também um poeta, e os poetas “mentem demais”. Ou seja, ele não é fiel à verdade, nem possui o compromisso com a veracidade oriunda da moral cristã. Zaratustra é tocado pelo canto melancólico do feiticeiro, que lamentava ser “banido de toda a verdade! Somente louco! Somente poeta!...”8 8 ZA IV, O canto da melancolia. A seção 3 do canto da melancolia aparece nos Ditirambos de Dioniso com o título “Somente louco! Somente poeta!”, sem a menção ao velho feiticeiro. Ele é agora assumido como uma canção de Zaratustra. Oliveira (p. 107) entende que Zaratustra revela seu pertencimento à gnose quando ele pretende inverter a valoração da veracidade cristã. Entretanto, a fidelidade à terra não é um momento da autossuperação da moral, implicado em estágios presentes da moralidade. Nietzsche propõe um novo caminho de criação, com novos modos não morais de valorar. Em Zaratustra, concentram-se os esforços nietzschianos para a criação do tipo do super-homem, da mais elevada configuração da vontade afirmativa de poder, que seria, no limite, a tentativa mais ousada de superar o niilismo dos valores superiores da moral.
Na busca pela criação do super-homem como o sentido da terra, Zaratustra não se liberta de sua sombra e do espírito livre. A sombra de Zaratustra, por ele reconhecida como “andarilho e espírito livre”, expressa o cansaço pela busca de um lar e também o esgotamento da própria busca do espírito livre, para quem “nada é verdadeiro, tudo é permitido” (ZA IV, A Sombra). Esse andarilho andou sempre próximo a Zaratustra, sempre a caminho, mas sem meta, e agora se insinua no estranho lar zaratustriano:
Contigo perambulei nos mundos mais distantes e frios, semelhante a um fantasma que voluntariamente anda pelos telhados invernais e pela neve.
Contigo me esforcei por entrar em tudo que é proibido, ruim, distante: se há em mim alguma virtude, é não haver receado proibição nenhuma (ZA IV, A Sombra).
Quando Zaratustra reconhece que a sombra é sua Sombra, ele fica sombrio e a define como “espírito livre e andarilho”. O perigo de perambular em um mundo de desertificação crescente acomete Zaratustra e sua sombra. A diferença é que Zaratustra ainda encontra seu refúgio nas montanhas e em sua caverna. Mas é do alto dos montes que ecoa o lamento da sombra, na seção posterior da Quarta parte do Zaratustra, Entre as filhas do deserto. A sombra se sente fortalecida pelo vigor da terra e pelo ar puro da caverna de Zaratustra, e, na pós-refeição, evoca uma velha lembrança de uma perambulação pelo Oriente. O canto da sombra, “Entre as filhas do deserto” é uma tentativa de fugir da “melancólica Velha Europa”:
Ó graciosíssimas garotas, / É mais do que tudo / Ardor de europeu, voracidade de europeu! / E aqui estou eu, / Como europeu / Não posso agir de outra maneira, valha-me Deus! / Amém!
O deserto cresce: ai daquele que oculta desertos! (ZA IV, Entre as filhas do deserto).
Sempre como europeu, como um leão moral que ruge mesmo no pequeno oásis oriental, tentando vencer o espírito de gravidade e atingir a leveza reivindicada por Zaratustra. Mas Zaratustra continua oscilando entre os polos opostos dos abismos do sofrimento (do espírito de gravidade, das trevas) e das alturas da bem-aventurança (leveza transfiguradora, luz). Concordamos, assim, com Jelson Oliveira (2022OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022., p. 88), no sentido de que o gnosticismo próprio de Nietzsche consiste na tensão entre polos opostos, seja na reversão do dualismo moral entre mundo verdadeiro e mundo aparente; ou na oposição entre os valores superiores, que levam à negação da vida, e os valores naturalistas, que levam à afirmação da vida. Entretanto, há uma tensão que, a meu ver, marca ainda mais profundamente a busca de Nietzsche/Zaratustra: a tensão entre a afirmação do sentido da terra e o impulso que o leva para os abismos do nada, para os desertos do niilismo. É uma questão difícil, a de determinar se Zaratustra tem êxito na sua afirmação incondicional da vida, no ultrapassamento dos dualismos morais, pois o Grande Meio-Dia é anunciado e preparado, mas fica como uma promessa distante - para os ‘filhos’ de Zaratustra.
Considerações finais
A sombra, andarilho e espírito livre de Zaratustra, mostra que o niilismo, enquanto experiência do em vão, como apetite furioso e incontido pelo nada, instala-se mesmo no lar de Zaratustra e nas buscas por um oásis de esplendor vital. O sentimento de esvaziamento da vida humana e a percepção de uma desertificação crescente do mundo são experiências modernas e hipermodernas. É uma experiência que marca profundamente Nietzsche, através de seu personagem literário Zaratustra. O canto da sombra de Zaratustra, “Entre as filhas do deserto”, ressoa novamente nos Ditirambos de Dioniso. Novamente, o canto é agora assumido como sendo de Zaratustra, sem a discussão inicial com a sombra. O título passa a ser o próprio refrão: “O deserto cresce: ai daquele que oculta desertos...”9 9 Enquanto em Assim falou Zaratustra o refrão termina com ponto de exclamação, nos Ditirambos de Dioniso, o título encerra com reticências. Isso é elucidativo para as hesitações de Nietzsche e para o emprego de novos símbolos para expressar o niilismo. Mas, à diferença do Zaratustra, esse canto não termina com o refrão, mas com essa formulação niilista, que o sucede:
Pedra range na pedra, o deserto engole e estrangula.
A imensa morte observa, parda e incandescente,
E mastiga - seu mastigar é sua vida...
Não esqueças, ó homem totalmente curtido pela volúpia:
Tu és - a pedra, o deserto, és a morte...
(DD. O deserto cresce: ai daquele que oculta desertos...)
Essa estranha volúpia de nada é aparentada à vivência gnóstica do mundo como algo estranho e sinistro. É inegável que a questão da fidelidade à terra, anunciada por Zaratustra, é central no pensamento afirmativo de Nietzsche. Mas a busca pela afirmação incondicional da vida mundana (do Astro supremo do Ser) não livrou Zaratustra de perambular por desertos nada hospitaleiros. A experiência do nada, que a sombra e espírito livre de Zaratustra colocam no centro das experiências afirmativas de Nietzsche, mostra que para os seres humanos dos nossos tempos o niilismo ainda está presente e inquieta. Inversamente, a versão libertina do dualismo gnóstico, entre o mundo do espírito puro e a natureza demonizada, mostra que é possível uma afirmação intensa da natureza, mesmo que pela via do esgotamento de seus poderes. Essa afirmação é também uma estranha volúpia, como percebeu Hölderlin:
Nós somos isso, nós! O nosso prazer é a precipitação na noite do desconhecido, na fria estranheza de um outro mundo qualquer e, se nos fosse possível, chegaríamos a abandonar a região do sol e a nos lançar para além das fronteiras do astro errante. Ah! Para o coração do homem não há lar possível [...] (HÖLDERLIN, 1994HÖLDERLIN, F. Hipérion ou o Eremita na Grécia. Trad. de Márcia C. de Sá Cavalcante. Petrópolis: Ed. Vozes, 1994., p. 35).
Nietzsche percebeu que a hybris do nosso ser moderno se manifesta em “nossa violentação da natureza com ajuda das máquinas” (GM III 9). Ele ficaria horrorizado se soubesse como avançou a violentação/destruição da natureza até o primeiro quartel do século XXI! Apesar de ser um desiderato de muitos humanos a fidelidade à terra, fazer da terra um lugar acolhedor de habitação, a dinâmica das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial, parece nos afastar sempre mais do sentido da terra. É o perigo da perda do caráter “natural” da vida humana, se esta for completamente dominada pelas novas tecnologias, que Slavoj Ẑiẑek (2023ẐIẐEK, S. The Post-Human Desert. 7 de abril de 2023. https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-post-human-future-by-slavoj-zizek-2023-04 Acesso em 16 de junho de 2023.
https://www.project-syndicate.org/commen...
) percebe nas “visões tecnognósticas de um mundo pós-humano”. Com suas investigações sobre o niilismo e sobre a dinâmica das vontades de poder num mundo sem valor predefinido Nietzsche nos auxilia a pensar os rumos de nosso mundo atual.
Referências
- COHN, N. Chaos, Cosmos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. 2 ed. New Haven and London: Yale University Press, 2001.
- COHN, N. Na senda do milênio. Milenaristas revolucionários e anarquistas místicos da Idade Média. Lisboa: Editorial Presença, 1981.
- GRAY, J. A missa negra. Religião apocalíptica e o fim das utopias. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2008.
- HÖLDERLIN, F. Hipérion ou o Eremita na Grécia. Trad. de Márcia C. de Sá Cavalcante. Petrópolis: Ed. Vozes, 1994.
- JONAS, H. Gnosis und spätantiker Geist. I. Die mythologische Gnosis. 4. ed. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1988.
- JONAS, H. The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 2001.
- NIETZSCHE, F. W. A genealogia da moral. Trad. de Paulo C. de Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
- NIETZSCHE, F. W. Assim falou Zaratustra. Trad. de Paulo C. de Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 2011.
- NIETZSCHE, F. W. O Anticristo; Ditirambos de Dioniso. Trad. de Paulo C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- NIETZSCHE, F. W. Digital critical edition of the complete works and letters, based on the critical text by G. Colli and M. Montinari, Berlin/New York, de Gruyter 1967-, ed. por Paolo D’Iorio. Nietzsche Source: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB
» http://www.nietzschesource.org/#eKGWB - OLIVEIRA, J. R. Niilismo e gnosticismo: da negação do mundo à fidelidade à terra no Zaratustra de Nietzsche. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v. 34, n. 62, p. 86-117, maio/ago. 2022.
- RUDOLPH, K. Gnosis. The nature and History of Gnosticism. Trad. de Robert McLachlan Wilson. New York: HarperCollins Publishers, 1987.
- ẐIẐEK, S. The Post-Human Desert. 7 de abril de 2023. https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-post-human-future-by-slavoj-zizek-2023-04 Acesso em 16 de junho de 2023.
» https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-post-human-future-by-slavoj-zizek-2023-04
-
*
Este artigo foi possível graças ao apoio do CNPq/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foram importantes para a elaboração das questões aqui tratadas as discussões com Jelson Oliveira, a partir de seu artigo sobre o niilismo e o gnosticismo em Nietzsche (2022) e de sua palestra “Nietzsche e o gnosticismo”, proferida na UFPel em 19 de abril de 2023. Agradeço a Jelson por sua disposição serena para o diálogo.
-
1
Serão utilizadas as seguintes abreviaturas para citar as obras de Nietzsche: ZA (Assim falou Zaratustra), DD (Ditirambos de Dioniso), GM (Genealogia da moral), CI (Crepúsculo dos Ídolos) e FP, para os fragmentos póstumos por nós traduzidos, conforme a convenção adotada pelos editores G. Colli e M. Montinari, na Kritische Studienausgabe (KSA), e seguida por Paolo D’Iorio, na edição eletrônica e-KGWB: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB
-
2
Nesse sentido, concordamos com a afirmação de OLIVEIRA (2022, p. 92), de que “o zoroastrismo promoveu o dualismo antropológico”.
-
3
John Gray defende que toda as tradições proféticas e escatológicas do judaísmo e do cristianismo foram influenciadas pela religião de Zoroastro (Cf. GRAY, 2008, p. 25).
-
4
Kurt Rudolph destaca também a importância das religiões helênicas de mistérios, principalmente do orfismo, para a formação do Gnosticismo (1987, p. 285 ss.). Como é sabido, o orfismo possui um vínculo forte com o culto de Dioniso. A versão do mito de Dioniso-Zagreus, com o despedaçamento de Dioniso pelos Titãs, possui semelhanças com a cosmogonia gnóstica, em relação ao destino pavoroso da origem primeva da divindade e dos humanos.
-
5
O eu pneumático (pneumatisches Ich) dos gnósticos é uma espécie de “ponto nulo” (Nullpunkt) da dimensão acósmica, permitindo tanto a libertação real do mundo quanto a plenificação pneumática no mundo do puro espírito (cf. JONAS, 1988, p. 200-202).
-
6
Jelson Oliveira (2022) pondera, a partir das reflexões de Hans Jonas sobre o niilismo moderno, que mesmo nas atitudes libertinas próprias da modernidade prepondera uma indiferença em relação ao mundo, que se desdobra em hostilidade aberta a ele. Essa hostilidade, enfim, se volta contra a natureza por meio da exploração e esgotamento moderno dos recursos naturais. Considero pertinente essa observação à medida que coloca essa hostilidade como marca do niilismo moderno, mesmo em suas versões mais libertinas. Entretanto, é preciso pensar sobre a amplitude dessa hostilidade, pois ela parece estar no núcleo niilista de nosso “ser moderno”. Está em nosso poder afirmar o mundo como um lugar acolhedor de habitação? Estaria o niilismo gnóstico tão entranhado em nossos modos de ser, de modo que somos hostis ao mundo mesmo quando pretendemos afirmar o sentido da Terra? Penso que essas questões assumem um caráter próprio e inquietante no primeiro quartel do século XXI.
-
7
No FP 19 [77] - outubro - dezembro de 1876] são elaborados “Os 10 mandamentos do espírito livre:
-
Tu não deves amar nem odiar os povos.
-
Tu não deves praticar nenhuma política.
-
Tu não deves ser rico e nem um mendigo.
-
Tu deves sair do caminho dos famosos e influentes.
-
Tu deves tomar tua mulher de um povo que não seja o seu.
-
Tu deves deixar teus filhos serem educados por teus amigos.
-
Não deves te submeter a nenhuma cerimônia da igreja.
-
Tu não deves te arrepender de nenhuma ofensa, mas por causa disso fazer uma boa ação.
-
Tu deves preferir o exílio, para poder dizer a verdade.
-
Tu deves deixar o mundo ir contra ti e precaver-te contra o mundo.”
-
-
8
ZA IV, O canto da melancolia. A seção 3 do canto da melancolia aparece nos Ditirambos de Dioniso com o título “Somente louco! Somente poeta!”, sem a menção ao velho feiticeiro. Ele é agora assumido como uma canção de Zaratustra.
-
9
Enquanto em Assim falou Zaratustra o refrão termina com ponto de exclamação, nos Ditirambos de Dioniso, o título encerra com reticências. Isso é elucidativo para as hesitações de Nietzsche e para o emprego de novos símbolos para expressar o niilismo.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Nov 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
24 Jul 2023 -
Aceito
04 Set 2023