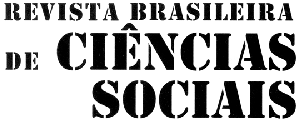Corporativismo, fragmentação e reforma do Estado
Eli DINIZ. Crise, reforma do Estado e governabilidade. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997. 229 páginas.
Marcus André Melo
O livro Crise, reforma do Estado e governabilidade reúne trabalhos alguns inéditos e outros que já apareceram de forma preliminar, e que foram revisados para esse volume que a professora Eli Diniz produziu recentemente, coroando uma vasta produção intelectual da autora sobre o tema do corporativismo e elites empresariais no Brasil. Essa produção intelectual (em que o professor Renato Raul Boschi participou também como co-autor e co-pesquisador em vários trabalhos) serviu de inspiração a toda uma geração de pesquisadores (na qual me incluo) que exploraram os mesmos temas a partir de estudos de casos, e que com ela estabeleceram um recorrente diálogo. Com esse novo trabalho, a professora Eli Diniz apresenta um dos poucos textos em forma de livro sobre o Estado e a economia na chamada Nova República brasileira e que, juntamente com aqueles recentemente publicados por Sebastião Velasco e Cruz, Brasílio Sallum Jr. e Maria Hermínia Tavares de Almeida, formam a primeira geração de análises sistemáticas sobre o tema.
A contribuição do livro se dá em vários níveis embora dois pontos penso que devam ser particularmente destacados. Esses dois pontos que entendo serem fundamentais são discutidos de forma difusa e recorrente ao longo do texto. Esse fato, e uma certa redundância na argumentação, devem-se, provavelmente, ao fato de que grande parte dos capítulos foi escrita de forma autônoma, e só posteriormente integrada no livro. Eli Diniz assinala com acuidade que dois lugares-comuns da literatura não se sustentam nem teórica nem empiricamente. O primeiro deles é que a Nova República teria se caracterizado por paralisia decisória. A autora mostra que, na realidade, o que ocorreu é exatamente o contrário. A Nova República está associada a uma espécie de hiperativismo decisório. Nesse período, multiplicaram-se os planos econômicos, as políticas salariais e os padrões monetários, ao mesmo tempo em que proliferaram os experimentos reformistas não só no campo econômico mas também no das políticas sociais. Trata-se de um dos períodos mais intensamente reformistas da história contemporânea.
O argumento da paralisia decisória freqüentemente é proposto com base na suposta ingovernabilidade da Nova República. De inspiração huntingtoniana, esse argumento sustenta que o excesso de demandas distributivas e de participação em uma situação como a da Nova República, em que o sistema político, ainda pouco institucionalizado, apresentava baixa capacidade de processamento teria levado a uma saturação da agenda pública. A autora contra-argumenta de forma persuasiva que, ao contrário, o "ponto de estrangulamento" das políticas sobretudo aquelas associadas às reformas econômicas e sociais radica não na formulação de políticas mas em outro pólo, o da implementação de políticas. Ou seja, o problema reside em escassa capacidade de fazer valer decisões e não na capacidade decisória como tal.
O segundo lugar-comum criticado pela autora é que o "insulamento burocrático" seria pré-requisito para o êxito na condução da política econômica. Insurgindo-se contra o padrão tecnocrático de formação de políticas, a autora mostra como esse argumento encontra-se fortemente disseminado na agenda de reformas. O pressuposto básico dessa linha de argumentação é que o ambiente democrático coloca em risco a racionalidade econômica. Duas razões são freqüentemente enumeradas na literatura. A primeira delas é que os constrangimentos da "conexão eleitoral" ou da competição política levariam à irresponsabilidade fiscal e a uma "política macroecônomica populista" expressão cunhada por Jeffrey Sachs e que passou a ser moeda corrente nas análises das experiências latino-americanas de estabilização. Ou seja, os governantes "não poderiam dizer não" para não pôr em risco sua sobrevivência política. A segunda dessas razões é que, com a democracia, as elites burocráticas correm o risco de se "contaminarem" pelas paixões políticas e de se deixarem capturar por interesses de grupos, setores ou, no limite, firmas individuais. O isolamento ou "insulamento" burocrático dessas elites asseguraria a prevalência da racionalidade técnica sobre a racionalidade política, evitando-se assim a "balcanização do Estado". Vários fatores contribuiriam para garantir esse insulamento: o isolamento decisório, o recrutamento meritocrático etc.
A argumentação que o livro desenvolve é que o insulamento burocrático é ele próprio alimentador da ingovernabilidade. A taxa de sucesso na implementação de planos econômicos estaria inversamente correlacionada com o grau de insulamento alcançado pelas elites decisórias. O insulamento burocrático engendra um déficit democrático e de accountability. O débil enraizamento social dos decisores dificulta a implementação de políticas. Observa-se forte tensão no ambiente político da Nova República entre o hiperativismo decisório e a incapacidade de implementação de políticas, e esta última só pode ser entendida, como assinala a autora, pelo padrão de insulamento do processo decisório prevalecente. Implementação exige cooperação, coordenação e legitimidade. Essa também é uma das conclusões importantes do livro. A linha de argumentação perseguida pela autora encontra sustentação em estudos comparativos que vêm sendo realizados em torno de reformas de políticas em outros países por autores como Peter Evans, que cunhou a expressão "autonomia inserida" ou "embutida" para analisar fenômenos da mesma natureza, e é consistente também com a discussão mais recente, na chamada Nova Sociologia Econômica, sobre o papel de redes de atores.
A autora também desenvolve arguta discussão em torno de uma iniciativa em que esse padrão de processo decisório não prevaleceu: as Câmaras Setoriais. Tendo como pano de fundo a análise do corporativismo e do neocorporativismo, esse arranjo decisório é discutido como forma de concertação social, uma espécie de "mesocorporativismo setorial", em forte contraste com a visão de que tais arranjos representariam um conluio distributivo entre setores organizados do trabalho e do capital em detrimento dos setores não-organizados (posição defendida, dentre outros, por Gustavo Franco). O tom da análise, no entanto, é cauteloso e aponta para as limitações desse formato decisório. A autora é cuidadosa em não enxergar apressadamente sementes "neocorporativistas" nesses arranjos. Conforme argumenta, o neocorporativismo social-democrata se funda em concentração organizacional e não em dispersão e fragmentação. Além do mais, é tripartite e inclusivo em relação ao mundo do trabalho, e não bipartite e excludente. Eu acrescentaria que ele pressupõe uma sociedade não-heterogênea, que não esteja fraturada entre um setor organizado e um setor desorganizado produto de nossa heterogeneidade estrutural, como já bastante analisado pela tradição cepalina. Entendo que o cerne da questão tem a ver, fundamentalmente, com o fato de que a inclusividade (encompassiveness) do sistema de representação é baixa. Não é a toa que o neocorporativismo foi exitoso em sociedades homogêneas com altíssimo grau de centralização organizacional da representação (por exemplo, a LO sueca) e altas taxas de sindicalização (Escandinávia).
Um tema que percorre toda a análise é o da fragmentação da representação de interesses do empresariado e da sobrevida do padrão corporativista anterior. A emergência de associações setoriais fora do padrão sindicatos patronais/confederações (a exemplo da Abimaq, Abinee e tantos outras), nos anos 70, já havia sido notada em trabalhos anteriores da autora e de Renato Boschi. As dificuldades na construção de peak associations na Nova República são discutidas no livro com referência à fragmentação dos interesses empresariais. No entanto, não identifiquei nenhuma explicação mais elaborada para a fragmentação e sua persistência. A explicação, difusa no texto e a merecer um tratamento mais articulado, tem a ver com três fatores: o legado corporativista, a centralização estatal sob o autoritarismo e o fato de as idéias liberais que eventualmente poderiam unificar programaticamente o empresariado padecerem de débil ancoragem social. O corporativismo e a centralização do Estado contribuíram para obstaculizar a emergência de grupos de interesse autônomos e para permitir a inserção de interesses empresariais via reprodução de arranjos burocráticos de caráter informal no sistema estatal.
A discussão realizada também faz referência ao sistema partidário, que, por sua debilidade, impediria que viesse a vertebrar o sistema de representação de interesses e que os partidos pudessem cumprir um papel agregador e universalizador em relação às demandas societais. Vale destacar que essa hipótese que é colocada em relação ao sistema de representação como um todo não é incongruente com pesquisas recentes que demonstram que os partidos importam e muito mas no que se refere a seu papel na relação executivo-legislativo, e na forma de organização do Congresso Nacional. Nesse sentido, as múltiplas interfaces entre o sistema de representação política e o de intermediação de interesses permanecem como tema de reflexão crucial (e que vem sendo objeto de atenção em contribuições recentes de autores como Renato Boschi).
Acho problemática a tese de que à debilidade do sistema partidário se pode atribuir grande parte dos problemas de representação de interesses e de que formas perversas (anéis burocráticos etc.) tenham sido distorções provocadas por ele. Ou seja, a idéia de que a ausência de partidos orgânicos teria levado os interesses setoriais a se aglutinarem em formas perversas alternativas. Esse tipo de análise confundiu a crítica política ao regime com a crítica a mecanismos que revelam a captura de agências por interesses privados, ou a proliferação de entidades setoriais fortes que existem virtualmente em qualquer poliarquia contemporânea. Tais formas perversas (por serem, por exemplo, informais) revelam a debilidade de mecanismos de accountability em um sistema autoritário e não se devem à debilidade dos partidos. A densidade organizacional do sistema de representação de interesses, na realidade, pode ser utilizada como um indicador de "desenvolvimento político", para recorrer a um termo fora de moda.
Fenômeno ubíquo nos sistemas partidários nas poliarquias tem sido a conversão dos partidos em entidades do tipo catch all, onde seu papel universalizador de demandas se dilui, e a proliferação paralela de interesses organizados em instituições setoriais. Esse argumento é válido a fortiori para os interesses empresariais. Com a institucionalização do sistema político, os partidos passaram a ser cada vez menos relevantes para a representação de interesses setoriais de natureza funcional (em oposição aos de natureza territorial). Essa tendência que levou alguns analistas a sugerirem que o neocorporativismo era uma espécie de "fase superior da social-democracia" é consistente com a própria lógica da ação coletiva que está na base dos processos de agregação de interesses.
Acredito também que a ênfase no legado do regime militar autoritarismo, centralização, fragmentação etc. como variável explicativa de vários padrões identificados na Nova República é excessiva. Aliás, essa temática de "persistência do ancien régime" é virtualmente ubíqua nas análises existentes sobre a Nova República, e embora intuitiva e prima facie razoável, empobrece analiticamente a discussão. Com essa ênfase, questões fundamentais de um programa de pesquisas sobre a Nova Democracia perdem a centralidade que deveriam ocupar e tendem a se tornar acessórias. Tais questões referem-se a como os novos arranjos institucionais, procedimentos e regras do jogo democrático incidem sobre os padrões de interação política. A resposta a essa questão exige a consideração de vários processos e mecanismos para além da constatação (invertendo-se o aforisma) do "vinho velho em barril novo". Acredito que um programa de pesquisas sobre o tema deve superar tais questões e não se deixar aprisionar, tautologicamente, por problemas "genéticos" em torno das "velhas" elites, "velhas" práticas etc. típicos de um certo ensaísmo crítico blasé.
Creio que o sucesso brasileiro com a adoção do modelo substitutivo de importações explicaria também parte da resistência oferecida pelos setores da indústria, notadamente a FIESP, à abertura comercial e às idéias neoliberais em geral. Em nosso país não ocorreu o descrédito dos modelos desenvolvimentistas centrados no Estado como ocorreu em alguns países latino-americanos como o Chile e a Argentina, onde se abriram as possibilidades de legitimação das propostas neoliberais.
Entendo que o federalismo brasileiro constitui também variável relevante para a explicação da fragmentação organizacional da representação dos interesses empresariais. De outra forma, como entender o fato de a Confederação Nacional da Indústria ser dominada, na última década, por empresários de pequenos estados do Nordeste (Sergipe e Rio Grande do Norte)? E o fato de uma entidade estadual a FIESP ser mais expressiva que a entidade setorial de cúpula? A forte heterogeneidade estrutural da economia brasileira, a clivagem entre interesses agrícolas ancorados em bases regionais (malgrado o papel homogeneizador do complexo agroindustrial) e o descolamento histórico entre os setores bancários e do capital financeiro, de um lado, e o da indústria, do outro, também contribuem, como já apontado em algumas análises, para a fragmentação, embora as variáveis institucionais o federalismo e a estrutura legal e institucional corporativista sejam mais convincentes.
Embora se ocupe do caso brasileiro, o livro faz generalizações para o conjunto da América Latina. Isso pode revelar-se temerário na medida em que, em face da escassa produção acadêmica comparativa existente, algumas generalizações são problemáticas. Com relação, por exemplo, aos partidos políticos, poder-se-ia argumentar que as conclusões relativas ao caso brasileiro pouco se aplicariam aos casos uruguaio ou chileno. Com relação ao empresariado, poder-se-ia sustentar que o caso brasileiro contrasta, como reconhece en passant a própria autora, com o de outros países da região pelo exacerbado nível de fragmentação organizacional e a inexistência de peak associations. As dificuldades de se estabelecer comparações sobre o campo temático das relações entre interesses organizados e Estado revelam o caráter embrionário das pesquisas comparativas já realizadas na América Latina. Nesse sentido, pelas inúmeras questões abertas e discutidas com fino senso analítico, o livro é um convite e uma contribuição obrigatória a essa grande empreitada coletiva.
MARCUS ANDRÉ MELO
é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
04 Fev 1999 -
Data do Fascículo
Fev 1998