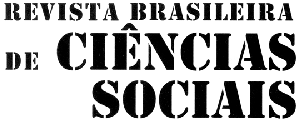Ruth Cardoso (1930-2008)
Guita Debert; Maria Filomena Gregori; Simone de Castro Tavares Coelho
Trata-se de uma grande satisfação atender ao convite da editoria desta revista para prestarmos essa homenagem, mas é importante lembrar que aquilo que retemos de um relacionamento e que fica marcado em nossa memória vem de uma experiência tão singular e única que é difícil encontrar termos ou parâmetros de partilha. Convém, nesse caso, registrar com modéstia a parcialidade do que pode ser dito. Falamos de Ruth Cardoso a partir de uma interação específica, sem a pretensão de fazer das nossas impressões algo que possa ser visto como a expressão mais verdadeira dela, ou ainda do contato mais próximo. Nós fomos suas orientandas na pós-graduação, e a marca pessoal do convívio que tivemos o privilégio de ter com ela traz os constrangimentos próprios da falta de distanciamento para que possamos materializar em discurso uma perda assim significativa. Seria preciso, sobretudo, contar com mais tempo de elaboração para empreender uma análise detalhada e justa dos artigos e das pesquisas importantes produzidos por ela. Sabemos que isso será feito e temos certeza que a Anpocs abrirá espaços para que seus alunos e colegas tratem oportunamente, de modo mais preciso e apropriado, de suas idéias para a consolidação dos estudos antropológicos sobre favelas, o cotidiano de famílias e de populações de baixa renda, os movimentos sociais, o feminismo, bem como suas reflexões agudas sobre a juventude, sobre a articulação entre cultura e poder - nisso que ela chamou atenção no Brasil, com pioneirismo -, sobre os processos identitários que se forjam nas redes sociais que constituem sujeitos políticos, sobre as implicações desses sujeitos políticos emergentes na instituição de novas faces para pensar a cidadania, bem como nos novos fóruns de configuração das esferas pública e privada. Vamos aqui tocar apenas em algumas de suas contribuições.
Conta-se como anedota que num almoço, em 1971, perguntaram para Margaret Mead qual seria na opinião dela a melhor sociedade para se criar os filhos, ao que ela respondeu, depois de um curto momento de reflexão, que depende do sexo. Se fossem meninos, o ideal seria criá-los na Inglaterra, mandá-los para uma Public School, de forma que eles ficassem bem longe de suas mães. Mas se fossem meninas, aqui mesmo, na América do Norte, no coração do movimento feminista. Não tenho dúvida, disse Mead, esse é o melhor o lugar para uma menina viver.
Não é estranho lembrar-se de Margaret Mead numa homenagem à Ruth Cardoso. Como antropólogas, ambas ampliaram o escopo da disciplina, afinaram seu instrumental para sofisticar a análise de temas que eram tidos como privilégios exclusivos de outras disciplinas, souberam tratar de questões que mobilizavam lutas políticas. Tiveram carreiras empolgantes, distantes de todos os outros antropólogos cujo trabalho ficou concentrado na academia ou em outras instituições.
Mas, Ruth daria uma resposta diferente àquela questão. Ela provavelmente diria que não existe o lugar ideal, mas o melhor seria um lugar em que nossos filhos aprendessem que não há apenas uma e única forma adequada de criar homens e mulheres, acadêmicos, estudantes ou pesquisadores, e que devemos estar sempre abertos para compreender o significado e o caráter das inovações que marcam as experiências cotidianas.
Certamente seria nessa linha de raciocínio que Ruth responderia a questões tão variadas como a educação dos filhos, passando pela indagação sobre temas inovadores para as ciências sociais ou sobre os dramas que afligem a vida política. Ela nunca impôs uma idéia ou a sua visão sobre determinada questão. O que ela sabia fazer como ninguém era mudar os termos dos problemas que estavam sendo tratados e, assim, alargar nossa reflexão sobre temas que nos preocupavam e que debatíamos.
Para compreender o impacto da sua atuação na consolidação e na reorientação da antropologia que hoje conhecemos é preciso, antes de tudo, compreender o contexto da produção acadêmica que marcou a geração de antropólogos ativos na ampliação dos horizontes da disciplina, até então, cerceada pelo predomínio da etnologia, abrindo poucas concessões ao estudo de pequenas comunidades ou das populações rurais.1 1 Sobre a antropologia no Brasil ver, sobretudo, Corrêa (1980).
Aproveitar o instrumental antropológico para estudar as classes populares nos contextos urbanos de modo a sofisticar nossas análises dos processos políticos contemporâneos foi certamente o desafio central que Ruth se propôs a enfrentar. Essa não foi uma tarefa fácil, pois exigiu que fossem colocados em novos termos as fronteiras disciplinares que delimitavam áreas muito caras à ciência política e à sociologia.
Na ciência política, a análise desses processos estava basicamente voltada para a pesquisa quantitativa. Os estudos qualitativos tinham como foco diferentes setores das classes dominantes ou distintas dimensões das instituições do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e, por isso, a idéia de manipulação de massas passivas pela ideologia dominante dominava os pressupostos do que era a participação popular no Brasil.
Na USP dos anos de 1960 e 1970, a sociologia já havia perdido o encanto pela metodologia funcionalista no tratamento das transformações sociais e pelas teorias da mudança centradas nos conceitos de aculturação, assimilação, tradição e modernidade. O marxismo foi, naquela altura, a referência teórica principal no tratamento das manifestações populares, das religiões, das relações raciais, do desenvolvimento do capitalismo e da constituição da nova estrutura de classes, entre tantas outras temáticas.
Eunice Durham empolgava, em conjunto com Ruth, os estudantes nos cursos, nos seminários e na orientação de pesquisa. Ela descreve com precisão os desafios que a antropologia enfrentava na sua relação com as outras disciplinas:
De fato, com o interesse pelo processo de transformação que estava alterando profundamente toda a sociedade brasileira, ao lado do uso de técnicas mais quantitativas, características da sociologia norte-americana, o marxismo começou a ganhar espaço na universidade, agora não mais apenas como base para uma opção política exercida fora da vida acadêmica, mas como instrumental para a reflexão teórica e para a formulação de novas pesquisas. [...] O dogmatismo que muitas vezes o acompanhou, deixou a antropologia numa situação um tanto esquizofrênica. Afinal, no ambiente de intensa politização que marca esse período, éramos todos esquerdistas, empenhados em promover a revolução socialista para a qual Marx oferecia o fundamento, a justificação e a receita. Com a instauração do regime militar, éramos todos defensores da democracia contra o autoritarismo, e o marxismo era utilizado como fundamento desta crítica. Mas o método dialético, e os conceitos marxistas básicos, como os de luta de classe, contradição, forças produtivas, materialismo histórico, ideologia e capital, dificilmente se aplicavam e certamente não elucidavam os fenômenos microssociais que os antropólogos estudavam (2004, pp. 26-27).
Redefinir o interesse do instrumental antropológico para as pesquisas sobre processos políticos era ainda desafiar o cinismo ou talvez a excessiva timidez de antropólogos que estavam acostumados a reiterar que a antropologia não fazia teoria e que o nosso métier fornecia apenas o levantamento minucioso de dados empíricos em contextos muito bem demarcados. Ruth Cardoso contestou essa noção e defendeu a relevância do emprego de metodologias qualitativas, visando a apurar a análise sobre dinâmicas e mecanismos políticos sem, contudo, perder de vista o uso insatisfatório de conceitos vindos da economia política ou da filosofia política por antropólogos. Sua visão crítica sobre o emprego do conceito de classe por certas vertentes antropológicas fica evidente no trecho a seguir:
Convém distinguir entre o conceito marxista, que supõe a luta de classes como um processo de construção da posição de classe com um lugar político, e as interpretações mecanicistas e sincrônicas que, apesar de assumirem um expresso engajamento com a causa proletária, tomam a situação de classe como um estado a ser descrito. Por este caminho, eliminada a dialética entre as classes, qualquer traço cultural distintivo é visto como resistência e a consciência da condição de explorado se transforma na condição de classe. Muitas vezes, a coleta de material qualitativo se justificou como forma de detectar essa identidade oculta dos trabalhadores [...] é, freqüentemente, uma tentativa de ouvir e tornar público um discurso oculto que, ao ser revelado, manifesta uma identidade atemporal. A intenção destes pesquisadores é ler através das linhas tortas do discurso cotidiano os sintomas que permitem manter intocável e inflexível o paradigma teórico (Cardoso, 1986, p. 97).
Com seu grupo de orientandos, nos seminários quinzenais realizados nos anos de 1980, Ruth e Eunice empreendiam diálogos com as diferentes matrizes disciplinares da antropologia: o culturalismo norte-americano, o funcionalismo britânico, o marxismo e o estruturalismo francês. O diálogo mais animador e inspirador das nossas pesquisas era com os cultural studies, particularmente, com as versões do Centre for Contemporary Cultural Studies da University of Birmingham, que empolgavam as ciências sociais na Inglaterra.
Esses seminários criaram oportunidades inéditas para um grupo jovem de estudantes participarem do debate que não poderia prescindir da participação de cientistas políticos como José Augusto Guilhom Albuquerque e Maria Lúcia Montes, antes de sua inserção no Departamento de Antropologia da USP. Obras de Althusser, Gramsci e Foucault eram, então, destrinchadas, visando a afinar o instrumental antropológico para dar conta dos significados da participação política popular que não poderia ser explicada como pura passividade, alienação ou falsa consciência.
Esses diálogos foram depois ampliados no Cebrap em seminários com o filósofo José Arthur Giannotti e com o sociólogo Vilmar Faria, e, nos anos de 1980, nos encontros da Anpocs, com o grupo de trabalho "Cultura Popular e Ideologia Política", que depois passou a ser chamado de "Cultura e Política", no qual Gilberto Velho e seus orientandos trocavam resultados de pesquisa e reflexões sobre questões teóricas e metodológicas. Nessas ocasiões, os pesquisadores traziam de primeira mão os resultados de pesquisas que depois se transformaram em obras clássicas da nova antropologia. Mais do que isso, esses encontros serviriam de modelo de orientação de novos pesquisadores que esse grupo então mais jovem teria que assumir ao ocupar posições na carreira acadêmica nas universidades do país.
Nesses encontros ficam claros os princípios que norteiam o fazer antropológico quando processos políticos estão em questão:
Uma metodologia que privilegia a etnografia baseada em entrevistas, conversas informais eobservação de comportamentos. É sempre preciso combinar a atenção para o que as pessoas dizem e fazem, de modo a entender o significados dos acontecimentos.
Esses dados de caráter etnográfico devem ser completados por dados de outras fontes em que a demografia, a sociologia, a economia, entre outras disciplinas, têm um papel central. Estamos, assim, muito distantes do presente etnográfico que caracteriza a abordagem funcionalista da antropologia, com sua aversão à história, indiferença em relação às questões de poder que caracterizam o encontro colonial na dinâmica cultural.
Realçar o ponto de vista nativo, de modo a compreender a lógica embutida nos significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa às práticas em questão, sem buscar, apressadamente, identificá-lo como prova de ignorância, falsa consciência ou forma de resistência à dominação.
Além da formação propriamente metodológica, Ruth Cardoso transmitiu a nós - seus alunos - a noção de que menos do que a consagração do sujeito pensante, as idéias que ele expressa e cria é que são importantes, bem como e, especialmente, a discussão que elas suscitam ou evocam. Ela acreditava que parte considerável do trabalho intelectual é resultado de um esforço coletivo, produto de uma época e de um lugar - ensinou que tanto a noção de gênio, como a celebração ou a eternidade do gêniosão quimeras. É no trabalho de pesquisa, na rotina disciplinada e cotidiana, e no debate constante das impressões do campo - esses insights que surgem no processo criativo da observação quando se está imerso em uma experiência de investigação - de onde emergem questões relevantes para a reflexão. Ruth insistia que as idéias não devem ser "encapsuladas" ou fixadas como definitivas - por isso gostava tanto de Geertz, um antropólogo hermenêutico, para quem as reflexões constituem um texto em aberto, veículos de novas impressões que incitam curiosidade e indagações vindouras. Ela diria: o processo de produção do conhecimento traz como características fundamentais noções como incompletude, mudança e comunicação.
Ruth nos ensinou a fazer pesquisa e a ter um apreço especial pelo tratamento do material empírico, suspeitando das interpretações rápidas e das afirmações, sejam as de senso-comum, sejam as dos conceitos consagrados. Ela não receava, inclusive, ser heterodoxa no trato das teorias - dizia constantemente que os conceitos não podem ser amarras e que pensar implica desafiar e criar. Contudo, o labor da imaginação deveria estar articulado a um rigor considerável (e nisso ela era implacável) com a coleta e a produção de dados. O trabalho científico é feito de criatividade, mas o que fazemos não é literatura - dizia repetidas vezes, para marcar um distanciamento crítico em relação aos experimentos antropológicos norte-americanos dos anos de 1980 que, embora tenham desafiado o positivismo, incorriam em subjetivismo exacerbado (Cardoso, 1986).
Ruth conduziu suas pesquisas, observando que o rigor da etnografia sempre foi um instrumento útil para a sociologia e para a ciência política. Ao analisar aspectos e fatos sociais, estava preocupada em promover uma coleta de dados que fosse fiel e inovadora, dando conta do específico produzido pela riqueza das interações sociais.
Assim, na década de 1980, sua reflexão era dirigida ao que denominava "a emergência heróica dos movimentos", quando eles, com seu papel reivindicatório, forçavam respostas mais objetivas das agências estatais. Em seu artigo "Movimentos sociais urbanos: balanço crítico", Ruth Cardoso já apontava que "é preciso considerar a necessidade que tem o Estado, por mais autoritário que seja, de responder a esses movimentos" (Cardoso, 1984). Naquele momento, ela indicava que a supressão dos canais institucionais de expressão de interesses provocou a ação direta das bases populares, que passaram a criar mecanismos de comunicação com os órgãos governamentais, produzindo espaços próprios de debate e construindo uma identidade comunitária, baseada na igualdade. Corajosamente, ela sugeriu que a consolidação desses grupos mobilizados nem sempre significava a união, mas, pelo contrário, muitos deles "competiam entre si enquanto demandantes frente ao Estado". Ruth afirmava que o lado perverso desse processo de diálogo tinha como conseqüência inevitável a fragmentação e a separação.
Preocupada com a evolução desta relação entre Estado e movimentos sociais, que entendia ser algo que veio para ficar, Ruth Cardoso refere-se em outros textos (Cardoso, 2005) a uma segunda fase desse processo de consolidação de diálogo, que seria a institucionalização, entendida não no sentido pejorativo, crítico, mas como uma evolução natural das relações. Crítica das interpretações que, perplexas, consideravam essa nova fase como um refluxo dos movimentos sociais e uma cooptação destes por parte do Estado, ela argumentava que as análises estavam deixando de lado o contexto político de redemocratização em que esse diálogo estava inserido. Muitos valorizavam certos aspectos dos movimentos sociais como, por exemplo, o "espontaneísmo" e deixavam de lado outros, como o seu papel político e pragmático que buscava conquistas específicas e no qual o discurso anti-Estado pouco fazia sentido.
A fragmentação dos grupos reivindicatórios refletia-se também na pulverização dos espaços de diálogo e interação, onde havia diferentes níveis e processos de negociação dependendo da agência governamental com a qual se interagia. Ruth orientava pesquisas sobre a importância de se investigar mais a fundo as novas configurações que a relação entre o público e o privado assumia contemporaneamente.
Acima de tudo fiel à realidade, Ruth Cardoso chamava a atenção para o uso de conceitos de forma leviana. Por exemplo, criticava o uso freqüente e inadequado do conceito de cidadania (Cardoso, 2005), entendido por muitos autores como "ter a consciência de direitos", esquecendo que o próprio conceito possui uma história. Tal conceito deveria, portanto, ser rediscutido, na medida em que não dava conta de explicar uma nova realidade - aquela em que as mudanças não são provenientes simplesmente da consciência, mas sim da relação entre Estado e sociedade civil, entre esfera pública e esfera privada.
Apesar de afastada da academia e cumprindo seu papel como pessoa pública, ou até mesmo inspirada por ele, Ruth Cardoso continuou produzindo análises fiéis a essa linha de interpretação, tendo como objeto a forma "institucionalizada" dos movimentos sociais - as organizações não-governamentais - e seu papel político. Buscava configurar um novo referencial para a ação social que, hoje, já é compartilhado com outros setores, governamentais e não-governamentais, dentro e fora do país. Assim, conceitos como "redes sociais" e "parcerias" são importantes alicerces na construção de uma análise que pretende dar conta de um novo desenho social, estabelecido a partir do processo democrático. Em seu texto "O fortalecimento da sociedade civil" (Cardoso, 2000), afirmava ter a convicção de que o conceito de Terceiro Setor "descreve um espaço de participação e experimentação de novos modelos de pensar e agir sobre a realidade social". Explicava ainda o surgimento do projeto Comunidade Solidária, que nada mais é do que a união dessa percepção teórica com uma ação prática, objetiva, de consolidação de espaço de diálogo, plataforma de ações comuns envolvendo o governo e diferentes setores da sociedade. Ruth pretendia, assim, facilitar o encontro de duas lógicas: a governamental - marcada pela universalidade das políticas - e a da sociedade civil - marcada por interesses específicos e experimentação de novas formas de ação. Todavia, ela alertava para o perigo do encantamento fácil pelas ações produzidas pelo Terceiro Setor, caracterizadas pela inovação, experimentação e dinamismo, que empolgava analistas crédulos de ser este um caminho para a superação dos problemas sociais. O lugar das ações governamentais, segundo ela, está claramente demarcado, garantindo os direitos essenciais e universais dos cidadãos. A relação entre governo e Terceiro Setor frutifica em parcerias efetivas e inspiradoras e são complementares.
No âmbito do Comunidade Solidária, Ruth Cardoso e seus parceiros Augusto de Franco e Miguel Darcy (2000) produziram reflexões que apontavam para os avanços dessa parceria, desde o desenvolvimento de ações concretas, até mesmo o aprimoramento da legislação brasileira que regula o setor e a própria relação. Apontavam que o crescimento do protagonismo cidadão e de suas organizações atuando na esfera pública, onde valores e interesses são objeto de deliberação coletiva, faz com que surja uma sociedade em rede. Os conceitos de "capital social" e "capital humano" tornam-se relevantes para o desenvolvimento de políticas públicas e, segundo eles, "o desafio para os responsáveis das políticas públicas consiste em articular a oferta de programas e serviços públicos com a identificação e mobilização deste capital social local, de modo que os destinatários e beneficiários participem da implementação das ações propostas".
Preocupada com o futuro do país, para Ruth Cardoso a temática da juventude era "mal" tratada pelos analistas sociais (Cardoso, 2006), e nos últimos tempos vinha atraindo suas preocupações intelectuais, aliás objeto de suas últimas investigações como pesquisadora do Cebrap. Segundo ela, enfrentamos, hoje, dificuldades conceituais, no sentido de que há uma confusão entre o momento da juventude, os valores e as virtudes da juventude, o que complica as definições das possibilidades de políticas públicas adequadas para esse setor jovem, que não têm refletido as mudanças da sociedade contemporânea. Seu olhar antropológico mostrava que, no âmbito do que se denomina juventude, existem grupos diferentes, com uma linguagem própria e que, por isso, não se deve "cair na armadilha de continuar considerando que existe uma única juventude. Existem juventudes ". Além disso, apontava para a necessidade de identificarmos as potencialidades dessa juventude, que nasce em contato direto com as tecnologias de comunicação, e são o melhor exemplo do que os analistas denominam "sociedade em rede".
Esse comprometimento e interesse nas mudanças sociais e nas dinâmicas contemporâneas que as gestam sempre estiveram articulados a uma preocupação em manter a mente inteiramente aberta à construção de hipóteses criativas e à escolha de campos de estudo pouco habituais. Isso explica seu interesse por temas em domínios bem pouco valorizados pelo mundo estrito acadêmico: novelas, sexualidade, aborto. Ruth Cardoso tinha mesmo essa combinação que só na superfície é contraditória: imaginação para a criatividade e inovação, uma dose considerável de antidogmatismo e, simultaneamente, o apreço não só pelos dados, pelo rigor na elaboração das idéias, como também pela qualidade da discussão e do debate.
Ruth atraiu a colaboração devotada de admiradores tanto na esfera acadêmica, como no mundo artístico, empresarial e em outras áreas que entusiasticamente apoiaram seus programas sociais e, de maneira enfática, compuseram as inúmeras homenagens que ela vem recebendo na imprensa.
Questionar certezas, despir ilusões e exigir a revisão das versões simplificadas do mundo que povoam até mesmo a ciências sociais é dispor de inevitáveis inimigos. Inflexível nas suas convicções, jamais compactuou com o devotamento ingênuo de colegas às idéias convencionais, mesmo quando elas pretendiam ser justas, generosas ou politicamente corretas. O rigor ético de sua postura fez com que Ruth conquistasse o respeito daqueles que criticavam suas posições. A clareza na exposição de suas idéias e o respeito no enfrentamento do debate com adversários são virtudes da vida acadêmica que ela soube levar para o mundo da política, marcando posições que hoje servem de modelos de uma trajetória capaz de ampliar os horizontes da antropologia, bem como redefinir o papel tradicionalmente esperado de esposa do presidente da República.
Nota
BIBLIOGRAFIA
- CARDOSO, Ruth. (1984), "Movimentos sociais urbanos: balanço crítico", in Bernardo Sorj e Maria Hermínia Tavares de Almeida (orgs.), Sociedade e Política no Brasil Pós-64, São Paulo, Brasiliense.
- ______. (1985), "O fortalecimento da sociedade civil", in Evelyn Berg Ioschpe (org.), 3ş Setor: desenvolvimento social sustentável, São Paulo, Gife/Paz e Terra.
- ______. (2005), Texto da palestra proferida "A Trajetória dos Movimentos Sociais no Brasil".
- ______. (2006), Texto de palestra proferida "Políticas Públicas de Juventude".
- CARDOSO, Ruth; FRANCO, Augusto de & DARCY, Miguel. (2000), "Um novo referencial para a ação social do Estado e sociedade: sete lições da experiência do Comunidade Solidária". Texto acessado no site do Comunitas.
- CORRÊA, Mariza. (1995), "A antropologia no Brasil (1960-1980)", in Sergio Miceli (org.), História das ciências sociais no Brasil, São Paulo, Sumaré/Fapesp.
- DURHAM, Eunice R. (2004), A dinâmica da cultura. São Paulo, Cosacnaify.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Mar 2009 -
Data do Fascículo
Out 2008