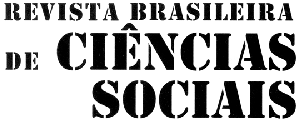RESENHAS
Sobre a profissão de economista nas Américas
Ana Maria Bianchi
Verónica MONTECINOS & John MARKOFF. Economists in the Americas. Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2009. 341 páginas.
Na avaliação do valor de uma coletânea muitos critérios podem ser adotados, com alguma margem de tolerância para compensações. Entre eles estão certamente a relevância da temática tratada, um fio condutor claro, o crivo a que os artigos selecionados foram submetidos e a qualidade da reflexão contida nos trechos elaborados por seus organizadores, sejam eles introdutórios ou de conclusão.
Pois bem, a coletânea organizada por Montecinos e Markoff vale, desde logo, pela qualidade dos capítulos de autoria dos organizadores, que compreendem um texto introdutório e um epílogo, além de um capítulo sobre o Chile de Montecinos.
Na introdução, os organizadores fazem uma ampla varredura da temática do livro e definem sua linha de exposição, cujo foco é a história da profissão de economista nas Américas durante o século XX. Em uma fase pregressa dessa história, situada em meados do século passado, os autores retratam a adoção de uma abordagem tipicamente latino-americana no ensino e na prática da economia. Foi essa a fase de predomínio da concepção desenvolvimentista, sob a liderança da escola cepalina. A fase seguinte corresponde a um movimento de internacionalização (os autores preferem falar em transnacionalização) da profissão, sob a influência dominante dos Estados Unidos e seus centros de ensino e pesquisa. Essa segunda etapa é marcada pelo intercâmbio internacional de alunos e docentes e pela ascensão de economistas formados principalmente nos Estados Unidos e no Chile a postos estratégicos na condução da política econômica nacional. Os organizadores mostram como os think tanks, que se expandiram significativamente nas décadas de 1970 e 1980, converteram-se em plataformas de difusão das concepções neoliberais, promovendo um acentuado automento da semelhança entre os economistas dos vários países do continente americano.
Igualmente interessante é o epílogo do livro, onde Montecinos e Markoff especulam sobre aquilo que o futuro reserva para a profissão de economista nas Américas. Segundo eles, descortina-se no horizonte um "momento pós-neoliberal", durante o qual a busca de uma ciência econômica nacional e latino-americana tenderá a recuperar sua importância na agenda dos economistas, com os reflexos disso sobre a própria agenda política. Desfeito o Consenso de Washington, mais vozes estariam tomando parte no debate, com um consequente abalo do fundamentalismo do mercado. A mesma América Latina que foi precursora no acolhimento do neoliberalismo estaria sendo, no século XXI, pioneira na rejeição da democracia neoliberal, arregaçando as mangas para construir uma ciência econômica mais afinada com as necessidades de sua economia.
O espaço de uma resenha não permite um maior detalhamento dessa hipótese, que é proposta pelos autores como uma mera especulação. Em todo o caso, por ser bastante controvertida, ela pode ser um fator importante para atrair a atenção do leitor.
Outro ponto de destaque na coletânea é o fato de sua unidade não ser puramente temática. Embora os organizadores não tenham imposto uma estrutura única para os diversos capítulos, nota-se uma boa afinidade nas perguntas que os diferentes colaboradores se propõem a responder (Como se dá a relação entre a profissão de economista e o poder político? Quão ubíqua e persistente é a ascensão dos economistas às esferas de poder?); na forma como abordam o tema, nos instrumentos de pesquisa em que baseiam suas conclusões e nos tipos de dados empíricos coletados. Sem constranger o espaço reservado às peculiaridades nacionais, cumprem-se assim os requisitos de uma avaliação comparada.
A coletânea de Montecinos e Markoff faz uma radiografia da profissão de economista e do papel cada vez mais saliente que desempenham em sete importantes países da América: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Uruguai. Seus colaboradores estão vinculados a diferentes centros, sendo cinco universidades latino-americanas (Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, na Colômbia, Universidad de la Republica, no Uruguai, Fundação Getúlio Vargas e Universidade de São Paulo, no Brasil) e cinco dos Estados Unidos (Boston College, Texas Tech University, University of California Berkeley, University of Pittsburgh e Pennsylvania State University). São em sua maioria professores de sociologia e ciência política, mas incluem também um economista, Luis Bernardo Flórez Enciso, autor do capítulo sobre a Colômbia.
O processo de transnacionalização da profissão nas Américas e suas características institucionais são fartamente documentados ao longo da coletânea. Os autores apresentam dados históricos e estatísticas sobre a composição do corpo docente dos centros de pós-graduação em cada país, a formação dos ministros de economia, presidentes de bancos centrais e outros cargos políticos estratégicos, os periódicos especializados, o número de diplomados pelas diferentes universidades, os autores mais citados, os setores de absorção dos diplomados e assim por diante.
Como já foi dito, a existência de uma pauta comum de discussão não fecha o espaço para as peculiaridades de cada país. Uma pequena amostra dos episódios narrados nas histórias individuais pode ilustrar isso. O capítulo sobre os Estados Unidos, de Marion Fourcade, é um bom exemplo. A autora chama a atenção para o fato de não existir ali, diversamente do que ocorre nos outros países americanos e na própria Europa, a tradição de ocupação de posições políticas por parte dos economistas. Pressões institucionais tendem a colocar a ciência numa espécie de "torre de marfim", em que o envolvimento político é visto como incompatível com as exigências profissionais. Fourcade argumenta, porém, que essa imagem não corresponde perfeitamente à realidade. Se é verdade que os economistas não governam os Estados Unidos, a economics o faz. Embora os profissionais da área sejam empregados sobretudo pelas universidades e pelo setor de negócios, sua influência na condução da política está longe de ser pequena. Organizações voltadas para a pesquisa econômica têm sido crescentemente influentes na prestação de serviços de consultoria aos governos, às corporações e ao setor legal de empresas e organizações. Paralelamente, a ciência econômica tornou-se elemento essencial da formação de homens de negócio, financistas e gestores de todos os níveis e setores.
O caso do Chile é emblemático, por representar padrões que se estendem muito além das fronteiras nacionais. Trata-se do país da América Latina em que a profissão de economista atingiu sua maior proeminência, e isso começou ainda na primeira metade do século XX, quando o país era afligido por uma inflação crônica. Como indica Montecinos, o Chile foi berço de muitas ideias econômicas heterodoxas, tais como as formuladas pela Cepal, mas, no outro extremo, também da abordagem neoliberal dos Chicago Boys. Em outras palavras, abrigou tanto o desenvolvimentismo como a contraofensiva liberal. Entre outros episódios notáveis, merece registro a história da Odeplan, Oficina de Planificación Nacional. A instituição foi criada em meados da década de 1960, no governo democrático de Frey, e foi promovida a ministério autônomo por Allende. Como o nome indica, seu objetivo era construir os pilares de um desenvolvimento planejado, no espírito do desenvolvimentismo. O advento da ditadura militar de Pinochet, contudo, não diminuiu seu prestígio e sua influência no governo. Pelo contrário, a Odeplan converteu-se no principal instrumento para recrutar jovens economistas que iriam prosseguir sua formação na Universidade de Chicago.
No caso brasileiro, analisado por Maria Rita Loureiro, um episódio recente pode servir como ilustração. A autora analisa a composição das equipes econômicas dos governos Cardoso e Lula e aponta para a semelhança no tipo de formação econômica recebida por seus integrantes. Ao contrário do que se poderia esperar, o governo Lula não reservou posições estratégicas para economistas formados em centros alinhados com a concepção desenvolvimentista. Na prática, a teoria foi mais uma vez outra. Em muitos aspectos tão diferentes, os dois governos foram parecidos no recrutamento de seus economistas, fato que a autora explica pelo problema crucial da vulnerabilidade externa que se instalou com a crise da dívida e ainda persiste. Em ambos os governos, as autoridades necessitavam de credibilidade para garantir acesso aos mercados globais e dependiam de uma gestão econômica ortodoxa para assegurar esse resultado.
A Argentina, estudada por Glen Biglaiser, destaca-se pelo fato de ter sido o primeiro país da América Latina a implantar um curso de doutorado em economia. Paradoxalmente, porém, o autor conta que o currículo do curso permaneceu durante muito tempo ligado à economia política clássica. Mesmo depois que os economistas passaram a receber treinamento nos Estados Unidos houve relutância em aderir à feição analítica e matematizada da moderna teoria econômica. Esse quadro só começou a mudar substancialmente no período mais recente, com a decadência da educação pública e a criação de novos estabelecimentos privados de formação de economistas, financiados por associações de classe e por grupos internacionais. Biglaiser conclui que esse tipo de formação serviu para desafiar a ascendência cepalina e fomentar a difusão de ideias neoliberais entre os economistas, cujo papel na elaboração de políticas públicas aumentou substancialmente a partir da década de 1990.
O caso da Colômbia, narrado por Luís Bernardo Flórez Enciso, é curioso. Diversamente da maioria dos demais países da América Latina, a Colômbia não foi afetada pela hiperinflação, nem teve sua vida política marcada pelo populismo. O autor atribui a preservação do equilíbrio econômico a alianças políticas duradouras e bem-sucedidas entre os dois principais partidos, liberais e conservadores, unidos em uma frente nacional. Graças a essas alianças, a política econômica teria conseguido combinar habilmente gradualismo e pragmatismo. Embora em meados do século XX os debates econômicos e as decisões políticas tivessem estado muito próximos daqueles observados em vários outros países da América Latina, a relativa estabilidade da moeda e do regime cambial bem como os arranjos institucionais vigentes no plano político mantiveram sob controle os desacordos sobre política econômica.
A história do México, analisada por Sarah Babb, é mais um exemplo da heterogeneidade das condições encontradas na América Latina. Durante um longo período os economistas mexicanos obtinham seu título na Universidade Nacional (Unam), cujos professores eram autodidatas imbuídos dos ideais da revolução de 1917 e desconfiados dos benefícios da abertura de mercados. O currículo da Unam era então voltado para a formação de servidores públicos, e seus professores e diplomados ocupavam postos importantes na administração pública federal e local. Para esses pioneiros, diz Babb, a configuração atual da ciência econômica no México seria irreconhecível de tanto que sua história se confundiu com a de muitos outros países do continente. Os atuais integrantes da elite acadêmica mexicana obtêm seu doutorado nos Estados Unidos ou no Reino Unido, participam rotineiramente de congressos fora do país e publicam seus artigos nos periódicos internacionais. Sua semelhança com colegas dos demais países da América Latina e dos Estados Unidos aumentou significativamente com a transnacionalização da profissão.
Adolfo Garcé, autor do capítulo sobre o Uruguai, começa por destacar que ali não ocorreu a "ascensão ubíqua" dos economistas a altos postos no governo que foi observada nos demais países analisados. Se houve algo semelhante no Uruguai, foi em etapa bem posterior e com alcance mais limitado, em termos comparativos. A Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), fundada em 1932, dedicou-se durante mais de uma década a treinar contabilistas, e não economistas. Mesmo depois da reforma curricular de 1954, que tornou autônoma a formação em economia, não se registra nenhum movimento no sentido de enviar os diplomados para fazer pós-graduação nos Estados Unidos. O ministério das finanças e a presidência do Banco de la Republica, antecessor do banco central, foram até há pouco majoritariamente ocupados por advogados, políticos e contadores. Garcé atribui essa peculiaridade à tradição de mútua animosidade entre intelectuais e políticos no Uruguai, que enxergava na participação no governo um risco potencial para o prestígio acadêmico dos economistas. Talvez isso ajude a explicar a convergência de posições doutrinárias entre desenvolvimentistas, neoliberais e mesmo institucionalistas no período mais recente, apontada pelo autor.
Como último tópico desta resenha, cabe uma crítica à falta de uma definição explícita e na medida do possível unívoca de neoliberalismo. Este conceito é crucial para conferir unidade aos capítulos, e aparece mais de vinte vezes no texto, sem contar os substantivos e adjetivos com o mesmo radical. No começo do livro, os organizadores referem-se de passagem às políticas neoliberais adotadas na América Latina no passado recente, que compreendem a abolição dos mecanismos de proteção à indústria nacional, a eliminação das barreiras aos fluxos transnacionais de investimento, a desregulação do Estado, em suma, a redução do espaço concedido ao Estado no passado recente, em favor do mercado. Advertem ainda no prefácio que a profissão de economista como um todo não se enxerga no rótulo "neoliberal", e aqueles que o recebem não se identificam com ele. Em rodapé, Biglaiser também comenta o caráter controvertido do termo "economista neoliberal". Seja como for, seria conveniente propor uma definição de neoliberalismo que, sem passar por cima da polissemia do termo, desse conta de seu conteúdo. A ciência econômica hoje é muito mais diversificada e complexa do que já foi no auge da teoria neoclássica, e o uso de termos como neoliberalismo para qualificar seu conteúdo doutrinário pode encobrir essa condição.
Essa lacuna em nada diminui o mérito de Economists in the Americas. A coletânea é valiosa pelas informações que contém e pelas reflexões que suscita sobre uma temática ainda pouco explorada. Dá ao leitor acesso a um panorama amplo, competente e empiricamente fundamentado da profissão de economista nas Américas.
Ana Maria Bianchi é professora titular da FEA-USP. E-mail: <amafbian@usp.br>
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
28 Mar 2013 -
Data do Fascículo
Fev 2013