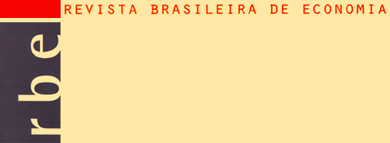Resumos
Este artigo explora os efeitos de uma regra do sistema previdenciário brasileiro, a da aposentadoria por tempo de trabalho, sobre as escolhas individuais de entrada e de retirada da força de trabalho Os resultados são comparados com os que seriam obtidos em um regime de aposentadoria por idade e em um regime de capitalização em que o indivíduo faz sua própria poupança. Nosso principal resultado é que o regime brasileiro, quando comparado aos demais, incentiva tanto a entrada quanto a saída precoce da força de trabalho, um grande desperdício de recursos para a sociedade.
capital humano; participação no mercado de trabalho; sistemas previdenciários
This paper explores the effects of the retirement rule of the Brazilian social security system, which gives a lifetime income after a certain number of working years, on the individual choices with respect to entrance and exit from the labor force. These results are compared with those ones that would be obtained under the rule of retirement after a certain age and under a capitalization regime in which the individual himself provides for his retirement. Our main finding is that the Brazilian regime incentives early entrance and early retirement from the labor force, a large waste of resources for society.
Entrada e saída precoce da força de trabalho: incentivos do regime de previdência brasileiro* * Artigo recebido em abr. 2000 e aprovado em fev. 2001. Parte deste artigo foi financiado pelo Núcleo de Pesquisa e Publicacão da EAESP/FGV. Os autores agradecem os comentários feitos pelos participantes no XXVII Encontro Nacional de Economia.
Maria Carolina da Silva Leme** * Artigo recebido em abr. 2000 e aprovado em fev. 2001. Parte deste artigo foi financiado pelo Núcleo de Pesquisa e Publicacão da EAESP/FGV. Os autores agradecem os comentários feitos pelos participantes no XXVII Encontro Nacional de Economia.
Tomás Málaga*** * Artigo recebido em abr. 2000 e aprovado em fev. 2001. Parte deste artigo foi financiado pelo Núcleo de Pesquisa e Publicacão da EAESP/FGV. Os autores agradecem os comentários feitos pelos participantes no XXVII Encontro Nacional de Economia.
Sumário: 1. Introdução; 2. A evidência empírica; 3. Formalização do problema; 4. Conclusão.
Palavras-chave: capital humano; participação no mercado de trabalho; sistemas previdenciários.
Códigos JEL: H55, H31, J24 e D91.
Este artigo explora os efeitos de uma regra do sistema previdenciário brasileiro, a da aposentadoria por tempo de trabalho, sobre as escolhas individuais de entrada e de retirada da força de trabalho Os resultados são comparados com os que seriam obtidos em um regime de aposentadoria por idade e em um regime de capitalização em que o indivíduo faz sua própria poupança. Nosso principal resultado é que o regime brasileiro, quando comparado aos demais, incentiva tanto a entrada quanto a saída precoce da força de trabalho, um grande desperdício de recursos para a sociedade.
This paper explores the effects of the retirement rule of the Brazilian social security system, which gives a lifetime income after a certain number of working years, on the individual choices with respect to entrance and exit from the labor force. These results are compared with those ones that would be obtained under the rule of retirement after a certain age and under a capitalization regime in which the individual himself provides for his retirement. Our main finding is that the Brazilian regime incentives early entrance and early retirement from the labor force, a large waste of resources for society.
1. Introdução
O sistema de previdência social no Brasil garante uma renda vitalícia para todos que tenham trabalhado por certo período de tempo (35 anos para homens, 30 para mulheres).1 1 Na recente reforma da previdência a regra de aposentadoria por tempo de servico foi modificada para tempo de contribuicão e esta regra foi abolida para os servidores públicos. Para os servidores CLT a mudanca da regra deixou de ser aprovada por um voto. Na recente reforma da previdência a ênfase esteve na redução do déficit do sistema. Este déficit cresceu demasiadamente em função da infinidade de distorções embutidas no sistema. Este é o caso da aposentadoria por tempo de serviço. Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, em média, o período em que se recebe o benefício equivale a 67% do tempo de contribuição (Schmitt, 1998). Ainda assim, a proposta do governo de abolir a aposentadoria por tempo de serviço para os trabalhadores do setor privado foi rejeitada.
As conseqüências nocivas deste regime não se limitam ao déficit da previdência. Neste artigo pretendemos dar um outro argumento em favor da mudança desta regra. Procuramos mostrar que o regime de aposentadoria por tempo de serviço pode induzir escolhas que, embora ótimas do ponto de vista individual, podem ser bastante custosas para a sociedade. Especificamente, este regime pode incentivar tanto a entrada quanto a saída precoce da força de trabalho. Ambas as escolhas são prejudiciais à sociedade, pois funcionam como mecanismos perversos de criação e perpetuação de pobreza: a entrada precoce na força de trabalho prejudica a educação e a saída prematura de pessoas ainda produtivas é um desperdício de recursos. Nossa hipótese é que a aposentadoria por tempo de serviço, ao garantir uma renda vitalícia aos trabalhadores após um certo número de anos de trabalho, afeta a decisão das famílias sobre a participação no mercado de trabalho de seus membros. Quanto mais cedo se começa a trabalhar mais cedo se pode obter a aposentadoria e por mais tempo se usufruirá esta renda adicional. Por outro lado, uma vez garantida a renda da aposentadoria, maior o salário de reserva para continuar trabalhando, tornando menos atraentes os empregos disponíveis.
Na segunda parte do artigo são apresentados alguns dados da realidade brasileira, sobre escolaridade e aposentadoria precoce, que motivam esta discussão. Na terceira parte o argumento central é formalizado modificando o modelo tradicional de investimento em capital humano, de modo a incorporar esta regra da previdência brasileira. Os resultados são comparados aos que seriam obtidos se a regra de aposentadoria fosse por idade, adotada pela grande maioria dos países. Na quarta parte algumas conclusões são apresentadas.
2. A Evidência Empírica
Como é mais do que conhecido, a distribuição de renda no Brasil é extremamente desigual e tem resistido às mais diversas conjunturas. Esta profunda desigualdade tem sido atribuída a desigualdade educacional, que é também bastante elevada. Os dados da tabela 1 mostram a renda familiar média per capita por decil de renda da população e a escolaridade média dos brasileiros acima de 25 anos de idade em 1998.
De fato, a distribuição de educação pelos decis de renda também é muito desigual, mas também chama a atenção a baixa escolaridade generalizada. Os 10% mais ricos não chegam a ter, em média, secundário completo, o que corresponderia a 11 anos de estudo, e os 10% anteriores não têm primeiro grau completo, que corresponde a oito anos de estudo. A comparação internacional torna o quadro brasileiro ainda mais sombrio. Segundo o estudo de Berhman, Dureya e Székely (1999), que calcula a escolaridade das coortes nascidas entre 1930 e 1970 para os países da América Latina e Caribe, o Brasil só ganhou de Honduras, Nicarágua e El Salvador. A escolaridade cresceu em toda a região, mas, em todo o período, o crescimento brasileiro foi sistematicamente menor. Quando comparada com países de renda per capita semelhante, como Argentina e Chile, a escolaridade dos brasileiros é cerca de quatro anos menor. A coorte nascida em 1970, hoje com 30 anos de idade, tem escolaridade média de 6,7 anos de estudo contra 11,1 no Chile, 11,3 na Argentina, 12 na Coréia, 12,3 em Taiwan e 13,4 nos EUA (Berhman, Dureya & Székely, 1999).
Esta baixa escolaridade contrasta com os elevados retornos da educação, medidos em diferenciais de salários. Segundo Menezes Filho (2000), a taxa de retorno média no Brasil é a mais elevada da América Latina e Caribe, 14%, contra cerca de 12% do México, 11,5% do Chile e 8% da Argentina. Os diferenciais de salários para o Brasil, quando analisados por ano de estudo, com controles para sexo e idade, apresentam, em 1997, os resultados do gráfico da figura 1.
Como se pode observar na figura 1, os retornos crescem a taxas decrescentes dentro dos ciclos escolares (antigos) primário, ginasial e superior, mas na conclusão destes ciclos apresentam taxas crescentes, assim como no primeiro ano de curso superior. No colegial, o comportamento é mais errático. Assim, o retorno da educação no Brasil é mais bem descrito por um polinômio, ainda que quase linear.
A baixa escolaridade dos brasileiros tem como contrapartida uma entrada precoce na força de trabalho. Os dados da tabela 2 referem-se apenas aos maiores de 25 anos e que estiveram ocupados entre setembro de 1997 e setembro de 1998. Os anos de estudo desta população não são muito distintos da escolaridade do grupo mais amplo, que inclui os que estavam inativos no ano. Para este grupo específico de pessoas, a idade média de entrada no mercado de trabalho está abaixo da mínima legal, que é de 14 anos. Novamente, mesmo nos decis mais altos, a idade de entrada é relativamente baixa e corresponde, grosso modo, à escolaridade média do grupo. Por exemplo, no 10o decil, a idade correspondente a esta escolaridade média, 11,6 anos de estudo, seria de 17,5 anos, um pouco superior aos 16,2 que de fato se observam. Isto é uma indicação de que as pessoas tendem a parar de estudar quando ingressam no mercado de trabalho.
Os dados de escolaridade dos jovens entre 10 e 18 anos mostram que os que estão na força de trabalho são prejudicados em relação àqueles que não trabalham, sendo que, quanto mais jovem, maior o prejuízo, uma vez que a diferença que se mantém relativamente estável nas diversas idades representa um atraso relativamente maior para os mais jovens.
Com respeito à vida produtiva das pessoas ao analisarmos a proporção de pessoas que trabalham por idade (figura 2), vemos que, aos 14 anos de idade, cerca de 30% dos jovens já estão trabalhando e, aos 21, já se atingiu a participação máxima, de cerca de 80%. A participação na força de trabalho se mantém elevada apenas até os 45 anos, quando começa a declinar a uma taxa relativamente constante. Aos 50 anos apenas 73% das pessoas estão ativas e aos 65 anos, idade em que supostamente as pessoas deveriam se retirar da força de trabalho, cerca de 60% já não estão mais ativas.
Entre os aposentados este quadro é ainda mais dramático. Considerando apenas a população entre 40 e 75 anos de idade, em que os aposentados ativos representam 16,4% dos ativos e o total de aposentados 25% do total de pessoas, vemos no gráfico da figura 3 que, aos 40 anos de idade, os ativos aposentados não chegam a 50%, enquanto entre os não-aposentados esta proporção é de 85%, e apenas ao redor dos 65 anos de idade é que metade dos não-aposentados torna-se inativa. Depois desta idade, a relação se inverte e os aposentados tendem a permanecer na força de trabalho, enquanto entre os não-aposentados a proporção continua a cair fortemente.
A comparação internacional, novamente, é desfavorável ao Brasil. Segundo estudo do Banco Mundial (1995), em 1995 a taxa de participação dos homens brasileiros entre 10 e 19 anos de idade só era menor do que a de países muito mais pobres, como El Salvador, Guatemala, Haiti, Panamá, Peru e Honduras, todas acima de 30% e bastante elevadas quando em comparação com os países fora da região.2 2 Neste estudo a taxa mais elevada era a da China, com 45%. Na comparação da participação na força de trabalho por grupo etário entre cinco países, no Japão, Paquistão e Uganda a participação dos homens entre 60 e 64 anos de idade era acima 80%, no Brasil era de 60% e na Romênia de 40% (Banco Mundial, 1995).
Os dados acima ilustram os pontos que pretendemos enfatizar neste artigo: os brasileiros, inclusive os mais ricos, têm baixa escolaridade, apesar dos elevados retornos da educação, começam a trabalhar cedo e também se retiram cedo da força de trabalho. Pode-se aventar diversas explicações para estes fatos. No modelo que apresentaremos procuraremos mostrar que o regime de aposentadoria adotado no Brasil pode estar contribuindo para estes resultados.
3. Formalização do Problema
Para investigar os incentivos embutidos na regra de aposentadoria por tempo de serviço, vis-à-vis uma regra de aposentadoria por idade, na decisão de participação no mercado de trabalho dos indivíduos vamos considerar:
a)trabalho e estudo como atividades substitutivas e que, portanto, a decisão de começar a trabalhar é a decisão de parar de estudar;3 3 Ainda que muitos jovens trabalhem e estudem, é razoável supor que um jovem em idade escolar que trabalha como adulto sacrifica a qualidade de sua educacão e, portanto, a acumulacão de capital humano e produtividade futura.
b)os anos de estudo correspondem à acumulação de capital humano (Becker & Tomes, 1986) que define a produtividade e, portanto, o salário do indivíduo;
c)ao se aposentar o indivíduo não necessariamente se retira do mercado de trabalho, mas passa a ter direito a uma renda que pode ser independente de sua contribuição previdenciária, como no caso do regime brasileiro para os trabalhadores autônomos4 4 O sistema brasileiro, como se sabe, reconhece os últimos anos de contribuicão, o que de fato resulta em um beneficio independente do perfil de rendimentos ao longo da vida ativa do trabalhador. e CLT que ganham mais de 10 salários mínimos, ou pode se proporcional à contribuição previdenciária, que é uma fração do salário.
Para maior clareza na exposição, vamos analisar inicialmente apenas a decisão do indivíduo quanto a idade de entrada no mercado de trabalho e depois estender a análise para incorporar também a decisão sobre a idade de se retirar da força de trabalho em cada um dos regimes.
3.1 Regime de aposentadoria por tempo de serviço: maximização com respeito à idade de entrada no mercado de trabalho, com idade de retirada fixa
Vamos considerar que o indivíduo maximiza o valor presente de sua renda vitalícia, W dada sua taxa de preferência intertemporal, b, escolhendo o número de anos, t, que vai dedicar a estudar e, portanto, não participar do mercado de trabalho.5 5 Como se trata de uma maximizacão da renda do trabalho, problemas de alocacão intertemporal da renda não considerados. O custo de estudar é c = c(t), função dos anos de estudo. Assim, neste primeiro período teríamos:
Após os t anos de estudo, o indivíduo entra no mercado de trabalho e recebe pelos próximos N anos, os 30 ou 35 anos determinados por lei, o salário w = w(t), uma função dos anos de estudo, t, com w¢(t) > 0 e w"(t) < 0.6 6 Com respeito ao sinal de w¢¢, para o Brasil não podemos defini-lo de antemão, pois, como discutido anteriormente, o comportamento é descrito por um polinômio. Este salário é líquido de sua contribuição à previdência. Neste segundo período teríamos:
Após N anos o indivíduo pode se aposentar e continuar a trabalhar até T anos, quando de fato se retira do mercado de trabalho. Neste período recebe w(t) e adicionalmente a renda da aposentadoria, que pode ser k, independentemente do salário:
ou, alternativamente, aw(t), uma proporção do salário:
Finalmente, o indivíduo vive até D e neste período em que não trabalha sua renda se restringe a k:
ou a aw(t):
Esta é uma variante em tempo contínuo do modelo clássico de investimento em capital humano. 7 7 Ver, por exemplo, a exposicão em Becker (1971:172-83) ou Schultz (1971) e Becker (1964). No modelo tradicional, considerando apenas o custo de educação e o retorno em T anos de trabalho com o nível t de educação, o indivíduo resolve o seguinte problema:
A condição de primeira ordem deste problema é:
aplicando a regra de Leibniz (Courant, 1965:203) e lembrando que uma vez escolhido t, o salário permanece igual nos demais períodos. Desta maneira, obtemos uma versão contínua do resultado em Becker (1971):
O custo marginal de mais um ano de treinamento, composto do custo direto, c(t), e do custo de oportunidade, w(t), deve-se igualar ao valor presente do fluxo de salário adicional ganho como decorrência do treinamento. A idade em que o indivíduo decide participar no mercado de trabalho é equivalente ao número de anos em que o indivíduo vai se educar. Repare que este caso simples é equivalente ao sistema de capitalização, pois, a menos que o fundo de aposentadoria tenha um juro diferente de b, este não afetará a riqueza decorrente do capital humano do indivíduo.
O problema presente é similar. No entanto, temos um termo adicional decorrente do sistema previdenciário baseado em anos de trabalho. Ao somarmos este termo e simplificarmos a expressão, no caso em que o benefício é independente da contribuição, o problema do indivíduo é:
A condição de primeira ordem com respeito a t é:8 8 A condicão de segunda ordem: se cumpre se w¢¢ < 0. Esta condicão é idêntica a do caso anterior, identificado com o regime de capitalizacão.
Como pode-se perceber, o retorno da educação é o mesmo que no caso anterior, identificado com o sistema de capitalização. A diferença surge no custo marginal de mais um ano de educação. Aqui, além do custo direto e do salário perdido por um ano adicional de educação, temos a perda do beneficio de um ano de aposentadoria, no período t + N. Esta regra desincentiva o investimento em capital humano. Como decorrência, reduz a produtividade do trabalhador e, portanto, os salários, gerando um custo social e uma redução de arrecadação do próprio sistema. No caso em que os benefícios são proporcionais ao salário, o indivíduo maximiza:
A condição de primeira ordem é:
Repare que neste caso os ganhos de educação são aumentados pelo benefício previdenciário, uma vez que os ganhos de produtividade da educação são multiplicados no período em que se acumulam os benefícios de aposentadoria.9 9 Como no caso anterior, w¢¢ < 0 é condicão suficiente para um máximo. Incentivo que desaparece para algumas classes de salário, no caso brasileiro, devido ao teto das aposentadorias. Os custos também aumentam e são maiores (menores) que no caso do benefício fixo, dependendo de aw ser maior (menor) do que k.
Até aqui assumimos que w¢¢ < 0, condição suficiente para a existência de um máximo global. No entanto, os dados brasileiros não nos permitem fazer tal hipótese para todas as faixas de anos de estudo. Como visto acima, esta hipótese só é valida dentro dos ciclos educacionais, com exceção do colegial, mas não nos anos em que estes são completados e mesmo no primeiro ano do curso superior. Se considerarmos que w¢¢ ³ 0, ainda podemos ter um máximo global, no caso de benefícios fixos, se:
e, no caso de benefícios variáveis:
Ou seja, a condição de segunda ordem para um máximo global ainda se cumpre se o valor presente da taxa de crescimento do salário marginal por mais um ano de estudo for menor do que o custo direto marginal de mais um ano de estudo e do custo de oportunidade marginal do salário perdido por ter continuado a estudar. Se esta condição não se cumprir globalmente, dada a forma polinomial da regressão de rendimentos no Brasil, teremos a possibilidade de múltiplos equilíbrios. A condição de primeira ordem pode resultar em um equilíbrio com baixa escolaridade e outro com alta. Assim, a irregularidade dos retornos da educação pode ser uma possível explicação para a baixa escolaridade observada no Brasil. Políticas que reduzissem os custos de educação, entre elas os desincentivos criados pelo sistema previdenciário, poderiam ajudar as pessoas a se mover do equilíbrio de baixa escolaridade para o de alta, provavelmente socialmente superior. No entanto, como a forma polinomial da função de retornos da educação no Brasil não é muito acentuada, podendo ser aproximada com boa precisão a uma função linear, no que se segue assumimos que as condições de segunda ordem se cumprem globalmente.
3.2 Regime de aposentadoria por idade: maximização com respeito à idade de entrada no mercado de trabalho, com idade de retirada fixa
Vamos comparar os resultados obtidos anteriormente com os da regra de aposentadoria por idade. Vamos assumir que com R anos de idade o indivíduo tem direito a receber a renda de sua aposentadoria. Neste caso, é razoável considerar que este benefício é proporcional ao salário, portanto, seria aw(t). Novamente, a aposentadoria não significa retirada da força de trabalho. O problema que o trabalhador precisa resolver é:
A condição de primeira ordem seria:
Neste caso o benefício marginal da educação é amplificado pelo fato de a aposentadoria ser proporcional ao salário, mas é relativamente menor do que no caso de aposentadoria por tempo de serviço com benefício proporcional. O custo marginal da educação, por outro lado, é menor do que nos casos anteriores. Ao computarmos a diferença entre a condição de primeira ordem da aposentadoria por idade e a da aposentadoria por tempo de serviço, avaliadas no mesmo  , temos o seguinte resultado, com respeito ao benefício fixo:
, temos o seguinte resultado, com respeito ao benefício fixo:
A relação é positiva; portanto, o t ótimo é superior no caso de aposentadoria por idade.
Com respeito ao benefício variável com o salário, temos:
Neste caso, para o t ótimo ser mais elevado na aposentadoria por tempo de serviço é necessário que:
A relação (15) indica que o fato de a renda da aposentadoria ser uma proporção do salário incentiva a procura de um salário mais alto sob qualquer um destes regimes, mas este incentivo é mais forte no regime por tempo de serviço, já que o trabalhador usufrui esta renda antes, assumindo que t + N < R, isto é, que a idade em que o indivíduo passa a receber o benefício no regime de aposentadoria por tempo de serviço é menor do que no regime por idade.
Assim, o incentivo à entrada precoce no mercado de trabalho no regime de aposentadoria por tempo de serviço é mais forte no caso do benefício previdenciário fixo e cresce com o valor desta aposentadoria. No caso do benefício proporcional ao salário, o incentivo à entrada precoce é reduzido, pois os ganhos da maior educação são ampliados. O mesmo ocorre no caso da aposentadoria por idade.
3.3 Regime de aposentadoria por tempo de serviço: maximização com respeito às idades de entrada e de saída da força de trabalho
A análise anterior não permite demonstrar que este regime também incentiva a saída precoce do mercado de trabalho, pois, como não impusemos qualquer custo à obtenção da renda, isto é, ao trabalho, se o indivíduo pudesse ele trabalharia para sempre.10
10
A maximizacão de (1) com respeito a T nos daria como condicão de primeira ordem w(t)e
-
b
T = 0,
que se cumpre quando
T® ¥.
Teríamos de redefinir a função de salário para que dependa não apenas dos anos de educação, mas também da idade do indivíduo, de forma a reproduzir o comportamento no ciclo de vida. Uma maneira simplificada de resolver esta questão é introduzir uma função  (s), assumindo que decresce até uma certa idade e depois volta a subir de forma a captar o efeito da idade no salário. Como o caso mais ambíguo é o do benefício previdenciário proporcional ao salário, vamo-nos ater apenas à análise deste caso e compará-lo ao regime de aposentadoria por tempo de serviço.
(s), assumindo que decresce até uma certa idade e depois volta a subir de forma a captar o efeito da idade no salário. Como o caso mais ambíguo é o do benefício previdenciário proporcional ao salário, vamo-nos ater apenas à análise deste caso e compará-lo ao regime de aposentadoria por tempo de serviço.
No caso em que o benefício é proporcional, teríamos:
As condições de primeira ordem para um máximo seriam:
e
Na primeira equação, a introdução de  (s) reduz o incentivo à entrada precoce no mercado de trabalho, induzido pelo regime de aposentadoria por tempo de serviço. A segunda equação indica uma relação de equilíbrio entre o salário e a perda de salário pela idade. A relação entre t e T é positiva, pois, na medida em que a pessoa se aposenta com maior idade, este custo fica maior e, na medida em que esta retarda sua entrada no mercado de trabalho, estudando, o salário que pode conseguir é maior.
(s) reduz o incentivo à entrada precoce no mercado de trabalho, induzido pelo regime de aposentadoria por tempo de serviço. A segunda equação indica uma relação de equilíbrio entre o salário e a perda de salário pela idade. A relação entre t e T é positiva, pois, na medida em que a pessoa se aposenta com maior idade, este custo fica maior e, na medida em que esta retarda sua entrada no mercado de trabalho, estudando, o salário que pode conseguir é maior.
A análise pode ser um pouco mais detalhada, diferenciando, quanto a t e T, as condições de primeira ordem:
e
onde
Se temos um máximo, pelas condições de segunda ordem a primeira equação tem inclinação menor que a segunda, e ambas são positivamente inclinadas no espaço (T, t), como mostrado no gráfico da figura 4.
Como a diferença T t é exatamente o tempo de vida produtiva do indivíduo, TVP, ao longo da reta de 45º o TVP é constante. O intercepto no eixo negativo da reta de 45º mede o negativo do TVP. A solução mostrada no gráfico, portanto, apresenta TVP positivo.
3.4 Regime de aposentadoria por idade: maximização com respeito às idades de entrada e de saída da força de trabalho
Em um regime de aposentadoria por idade onde o indivíduo maximiza
as condições de primeira ordem são:
e
Na segunda equação, a WT = 0 é exatamente a mesma nos dois regimes. Assim, a diferença entre as condições de primeira ordem, quando avaliada no mesmo t, pode ser expressa como:
Novamente podemos notar que se R = t + N, o t sob o regime de idade é mais elevado do que aquele sob o regime de tempo de serviço. Considerando que o fator de desconto b seja igual à taxa de juros, a análise feita anteriormente se repete (figura 5).
Podemos, então, concluir que nos dois regimes quanto mais o indivíduo demorar a entrar na força de trabalho mais tarde se aposentará. No entanto, se o regime for de tempo de serviço e N for suficientemente menor que R-t, então, para a mesma solução de t, a primeira diferença será positiva, indicando que a solução do regime de idade atingirá o ótimo para um t maior (a condição de primeira ordem do regime de idade apresenta um valor maior que a do regime de tempo de serviço para o mesmo t e, portanto, atingirá o ótimo para um valor maior deste).
Assim, temos que o regime de idade induz a uma maior produtividade dos trabalhadores. No entanto, não necessariamente induz a uma maior permanência na força de trabalho. Novamente, para entender esta última afirmação basta desenhar duas retas de 45º através dos pontos (T*,t*) e (T**,t**). A reta que passa pelo ponto (T**,t**) apresenta um intercepto maior em valor absoluto, mostrando que a vida produtiva dos trabalhadores é mais longa no regime de tempo de serviço, ainda que as pessoas parem de trabalhar mais cedo. Em outras palavras, o trabalhador se aposenta mais cedo com uma produtividade menor, pois parou de estudar muito cedo em comparação ao trabalhador sob o regime de idade mínima de aposentadoria.
4. Conclusão
Em termos gerais, o Brasil é um país em que a média de anos de estudo da população acima de 20 anos de idade não chega a seis anos. Não é de hoje que as análises apontam para as disparidades educacionais como causa da pobreza e da péssima distribuição da renda pessoal entre os brasileiros (Langoni, 1973; Barros & Mendonça, 1994). Não há dúvida de que a baixa escolaridade é um perpetuador da pobreza e da má distribuição de renda, mas mesmo entre os estratos mais ricos a escolaridade é bastante baixa. Baixa escolaridade gera, entre outras coisas, trabalhadores menos produtivos e tem, portanto, um custo social elevado.
A outra ponta da história, a saída precoce da força de trabalho, também é custosa, pois, ao saírem do mercado de trabalho em idade ainda produtiva, os trabalhadores não aproveitam todo seu capital humano. Aposentar este capital humano antes do tempo também é empobrecedor para a sociedade. O sistema previdenciário brasileiro parece ter sua parte de responsabilidade no problema, pois, ao garantir uma renda vitalícia após um certo número de anos de trabalho, aumenta os custos da educação e o custo de oportunidade do trabalho destas pessoas.
** FGV-SP.
*** Banco Itaú.
- Banco Mundial. O trabalhador e o processo de integração mundial. In: Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1995.
- Barros, R. Paes de & Mendonça R. Os determinantes da desigualdade no Brasil Rio de Janeiro, Ipea, 1995. (Texto para Discussão, 377.)
- ______;_____& Velazco, T. Is poverty the main cause of child work in urban Brazil? Rio de Janeiro, Ipea, 1994. (Texto para Discussão, 351.)
- Becker G. Human capital NBER, 1964.
- ______. Economic theory Alfred A. Knopf Books in Economics, 1971.
- ______& Tomes, N. Human capital and the rise and fall of families. Journal of Labor Economics, 4(3), 1986.
- Behrman, J. R.; Dureya, S. & Székely, M. Schooling investments and aggregate conditions: a household-survey-based approach for Latin America and the Caribbean. 1999. mimeo g.
- Courant, R. & John, F. Introduction to calculus and analysis V1 Interscience Publishers; John Willey and Sons, 1965.
- Menezes Filho, N. A evolução da educação no Brasil e seu impacto no mercado de trabalho São Paulo, FEA/USP, 2000. mimeog.
- Langoni, C. G. Distribuição de renda e desenvolvimento econômico no Brasil Rio de Janeiro, Expressão e Cultura, 1973.
- Schmitt, C. O. Passivo previdenciário brasileiro: custos de transição para um regime de capitalização e sus formas de financiamento São Paulo, EAESP/FGV, 1998. (Dissertação de Mestrado.)
- Schultz, T. W. Investment in human capital: the role of education and research The Free Press, 1971.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Ago 2006 -
Data do Fascículo
Abr 2001
Histórico
-
Recebido
Abr 2000 -
Aceito
Fev 2001