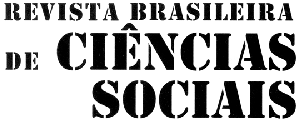Resumos
No final do século XX e início do século XXI, uma nova época geológica teve início, o Antropoceno. Ele é caracterizado pela perda da estabilidade ambiental em razão da interferência humana, do impacto cumulativo do desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente. A mudança é sem precedentes na experiência humana; mitigá-la significa assegurar uma existência mais segura para a humanidade. Essa mitigação, porém, requer concertação internacional muito mais densa do que a que tem sido observada no regime internacional sobre mudança do clima. A construção de alianças de descarbonização entre países-chave para a resolução do problema é crucial. Ela será possível mediante a revisão dos conceitos de ameaça, segurança e interesse nacional, e uma nova interpretação da soberania, em que interesses comuns da humanidade sejam incorporados ao fundamento vestfaliano. É uma mudança complexa, mas que atualizará fundamentos importantes para uma geopolítica capaz de lidar com questões do século XXI.
Antropoceno; Mudança climática; Descarbonização; Governança global; Soberania
In the end of the 20th and beginning of the 21st century, a new geological epoch emerged: the Anthropocene. In this new epoch, the environmental stability is lost due to the human interference and the impact of economic development upon the environment. Such is an unprecedented change in human experience and needs to be mitigated in order to allow a safer human existence. Mitigation requires a lot more intense international cooperation than the one observed in the international regime on climate change. Alliances between key countries for the resolution of the decarbonization problem are crucial. They might be obtained if new interpretations of threat, security, and national interest are accepted along with a revision of the conception of sovereignty in which common global interests of the humanity are incorporated. What it is about is a complex change, but a change that will update important foundations of a geopolitics able to deal with the questions put forward by the 21st century.
Anthropocene; Climate change; Decarbonization; Global governance; Sovereignty
À la fin du XXème et au début du XXIème siècle, une nouvelle ère géologique a vu le jour: l’Anthropocène. Elle se caractérise par la perte de la stabilité environnementale en conséquence de l’interférence humaine, de l’impact cumulatif du développement économique sur l’environnement. Ce changement n’a pas de précèdent dans l’expérience humaine ; l’atténuer signifie assurer une existence plus rassurante pour l’humanité. Cette atténuation requiert, néanmoins, une concertation internationale beaucoup plus intense que celle que l’on peut observer à propos du régime international sur les changements climatiques. La construction d’alliances de décarbonisation entre des pays-clés s’avère cruciale pour la résolution du problème. Elle ne sera possible que par la révision des concepts de menace, de sécurité et d’intérêt national, et une nouvelle interprétation de la souveraineté, dans laquelle les intérêts communs de l’humanité soient incorporés au fondement westphalien. C’est un changement complexe, mais qui mettra à jour des bases importantes pour une géopolitique capable de faire face aux questions actuelles du XXIème siècle.
Anthropocène; Changement climatique; Décarbonisation; Gouvernance globale; Souveraineté
Introdução
Uma grande mudança teve início com a Revolução Industrial, ganhou fôlego ao longo da aceleração demográfica, econômica e tecnológica ocorrida entre 1940 e 2000 e consolidou-se nas últimas décadas, fins do século XX e início do século XXI: a transição do Holoceno para o Antropoceno. O Holoceno foi o período de estabilidade ambiental experimentado desde a última glaciação – terminada há aproximadamente 11 mil anos – até o terceiro quarto do século XX, durante o qual a humanidade desenvolveu-se. O Antropoceno é a nova e atual época geológica em que essa estabilidade está sendo progressivamente perdida por conta da atuação da humanidade, que se tornou o principal vetor de mudanças no sistema planetário. As consequências dessa transformação têm magnitude nunca antes experimentada pela humanidade; foram compreen- didas e internalizadas rapidamente pelas ciências naturais, mas ainda escapam, em grande medida, às ciências sociais e humanas.
O fim da estabilidade ambiental significa que conceitos de ameaça e segurança precisam ser atua- lizados. A maior ameaça à segurança sistêmica tende a ser, cada vez mais, a ultrapassagem dos limites planetários, não as guerras no centro do sistema como foi até o século XX, dada a improbabilidade de uma guerra sistêmica neste início do século XXI. Ultrapassar os limites planetários significa colocar em risco a sobrevivência humana como espécie. E a ultrapassagem resulta de modelos de desenvolvimento adotados, especialmente padrões de produção e consumo e uso de combustíveis fósseis como principal fonte de energia. Por isso, também o conceito de interesse nacional precisa ser atualizado: dado que para mitigar mudanças tão significativas no sistema planetário é essencial alcançar cooperação que vá além do mínimo denominador comum, é necessário aprofundar a governança global, o que implica cessão de soberania em favor de acordos intergovernamentais mais robustos.
O objetivo deste artigo é demonstrar como o Antropoceno ainda não foi internalizado em grande parte da produção das Relações Internacionais e como a internalização torna necessário redefinir conceitos tradicionais da disciplina. Para tanto, o trabalho será dividido em três partes. Na primeira será tratado do tema do Antropoceno, seu significado e o desafio que representa para as relações internacionais. Na segunda será traçada a atual conjuntura internacional, com evidências do retrocesso na cooperação internacional e o aumento da conflituosidade e da incapacidade de regimes internacionais em tratar de problemas comuns globais, em especial a instabilidade ambiental. Na terceira será demonstrado como a atualização dos conceitos de ameaça, segurança e interesse nacional, além do aprofundamento da governança global, podem tornar a geopolítica muito mais capaz para lidar de forma satisfatória com problemas comuns globais, característicos do século XXI.
O Antropoceno e as relações internacionais
O conceito de Antropoceno e os limites planetários
Há aproximadamente 11 mil anos terminou a última glaciação e o planeta entrou em uma era geo- lógica de clima mais ameno e estável, chamada de Holoceno. Esse clima ameno e estável proporcionou à humanidade condições de desenvolvimento não presentes em épocas anteriores para outras espécies; por isso, ao longo do Holoceno, ela passou de alguns grupos de caçadores-coletores para uma população de 6 bilhões de pessoas, agrupada em complexas organizações sociais com nacionalidades, culturas e modos de vida diversos. O desenvolvimento da humanidade foi paulatino, mas trouxe impactos cumulativos. Em fins do século XX e início do século XXI, a transformação da sociedade industrial para a sociedade de informação/conhecimento, com aumento exponencial da população global e do consumo per capita de recursos naturais, fez com que a humanidade passasse a ser a principal força de transformação no planeta. Essa é a principal característica da atual época geológica, o Antropoceno.
O Antropoceno foi definido pela primeira vez pelos cientistas Crutzen e Stoemer (2000)CRUTZEN, Paul & STOERMER, Eugene. (2000), “The Anthropocene”. Global Change Newsletter, 41: 17-18.. Antropoceno é uma nova época geológica e humana, caracterizada pelo protagonismo da humanidade como força transformadora do planeta (Rockstrom et al., 2009ROCKSTROM, Johan et al. (2009), “A safe operating space for humanity”. Nature, 461: 472-475.; Biermann et al., 2012BIERMANN, Frank et al. (2012), “Planetary boundaries and earth system governance: exploring the links”. Ecological Economics, 81: 4-9.; Steffen et al., 2015STEFFEN, Will et al. (2015), “Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet”. Science, 347 (6223): 1-16.) De acordo com os cientistas, a intensidade dos impactos da humanidade sobre o planeta aumentou de forma exponencial após a Revolução Industrial, portanto ela seria o marco de início da nova época geológica. No entanto, apesar de a Revolução Industrial ter sido o estopim do processo que desencadeou o Antropoceno, à época os impactos da humanidade sobre o planeta ainda não tinham cumulado ou alcançado a escala que tornou o homo sapiens a principal força transformadora terrestre. Por isso, entende-se que o Antropoceno se consubstancia no início do século XXI, quando os requisitos de escala e cumulatividade foram alcançados (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo, Annablume.).
Um dos fatores motrizes da Revolução Industrial foi o uso massivo dos combustíveis fósseis. Com o uso desses, a restrição energética que limitava as atividades humanas1 1 Antes dos combustíveis fósseis, as fontes de energia eram a luz e o calor sol, o movimento do vento e das águas, e a biomassa, especialmente a lenha, que dependiam de serem encontradas na natureza e não podiam ser deslocadas por longas distâncias. foi superada (Steffen et al., 2011STEFFEN, Will et al. (2011), “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of The Royal Society, 369: 842-867., p. 848). O uso do carvão e do petróleo permitiu que a humanidade desenvolvesse a metalurgia e as máquinas, a indústria química e os fertilizantes agrícolas, a eletricidade e o motor de combustão interna; que revolucionasse as comunicações e os sistemas produtivos para a produção em massa. Tantas transformações, impactantes em si mesmas, não teriam alcançado escala planetária sem seu emprego disseminado por um número cada vez maior de seres humanos. De fato, entre 1945 e 2000, a população mundial passou de 3 bilhões para 6 bilhões de pessoas; o consumo de petróleo aumentou em quase quatro vezes, a atividade econômica aumentou em quinze vezes, e a urbanização e os padrões de consumo de massa disseminaram-se (Steffen et al., 2011STEFFEN, Will et al. (2011), “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of The Royal Society, 369: 842-867.).
O início do Antropoceno coincide com a ultrapassagem dos limites planetários. Os limites planetários – mudança do clima, integridade da biosfera, fluxos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo, diminuição da camada de ozônio, acidificação dos oceanos, uso da água doce, uso dos solos, poluição agregada global por aerossóis e contaminação química (Rockstrom et al., 2009ROCKSTROM, Johan et al. (2009), “A safe operating space for humanity”. Nature, 461: 472-475.; Steffen et al., 2015STEFFEN, Will et al. (2011), “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of The Royal Society, 369: 842-867.) – são limites de resiliência do planeta: se ultrapassados, a estabilidade ambiental é perdida. Dois limites encontram-se ultrapassados: os fluxos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo, em razão do uso massivo de fertilizantes desde os anos de 1950, e a integridade da biosfera, como consequência da expansão da população humana, que impactou ecossistemas naturais e outras espécies a ponto de extingui-las – é a sexta grande extinção em 4 bilhões de anos de história da vida, a primeira produzida pela humanidade. A estabilidade do clima foi quebrada, em razão da acumulação de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Como resultado, está atualmente em curso a mudança do clima incremental, que pode, se não mitigada, evoluir para perigosa e posteriormente catastrófica.
A mudança do clima incremental resulta em eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes: chuvas mais intensas e concentradas; secas mais extremas; extremos prolongados de calor e frio; choques mais intensos entre circulação atmosférica oceânica e terrestre em muitas regiões litorâneas; sequências de furacões e tufões; retração extensa e prolongada do gelo nos verões do oceano Ártico; início de liberação de metano acumulado na tundra siberiana e canadense. Esses eventos, no curto prazo, ameaçam segmentos da população mais vulneráveis, particularmente os mais pobres em diversas partes do planeta. No longo prazo, podem tornar mais custosos e menos previsíveis os sistemas energéticos, de telecomunicações e de transporte.
Caso a mudança climática em curso não seja mitigada, poderá evoluir para a mudança climática perigosa. Esta seria caracterizada por: potencial de destruição de produção agrícola; escassez de água; extremos climáticos mais intensos; aumento da turbulência do mar e ondas anormais que invadem temporariamente as regiões costeiras – e a maioria da população do mundo vive em áreas costeiras. Se ainda esta não for mitigada, chegar-se-ia à mudança climática catastrófica, os chamados tipping points: fim da corrente do Golfo, que é fundamental para o clima ameno da Europa; liberação generalizada do metano da tundra canadense e siberiana, em razão do degelo dessas regiões; incêndios generalizados na Amazônia e outras florestas tropicais remanescentes (Congo, Indonésia); derretimento do gelo na Groelândia; colapso de parte do gelo da Antártida; mudança no ciclo monções na Ásia; aumento do nível do mar entre 50 e 100 metros, inundando grande parte das cidades. A probabilidade de mudança climática catastrófica é hoje muito baixa, mas ela aumentará progressivamente caso a humanidade não consiga conter a concentração de carbono na atmosfera, e uma mudança climática nesse nível implicaria o fim da civilização, senão a extinção da espécie humana.
Retomar um espaço seguro para a existência humana na Terra requer mitigar a ultrapassagem dos limites planetários. Todavia, há descompasso entre as medidas necessárias para essa mitigação e o que a atual geopolítica tem oferecido como resposta a essas questões.
Os desafios do Antropoceno e a realidade da geopolítica
A mitigação da mudança climática é um bem comum global. Bens comuns são caracterizados pela não exclusividade – não é possível excluir de seu uso aqueles que não contribuem para sua provisão. Por isso, partes individualmente consideradas não têm interesse em sua provisão: é necessário algum arranjo cooperativo para que esses bens sejam providos. A estabilidade do clima, no entanto, têm características que dificultam a formação de arranjos cooperativos eficientes para sua provisão: (i) é intrinsicamente global, centrada em alterações na atmosfera; (ii) opera em uma escala de tempo de longo prazo estranha à experiência quotidiana humana, pois décadas podem ocorrer entre a adoção de medidas de mitigação e a observância de seus efeitos; (iii) envolve profundas questões de equidade, intra e intergerações; (iv) não apresenta linearidade causa-efeito; (v) entre suas causas está um leque amplo de atividades quotidianas humanas, o que torna impossível que sua solução seja alcançada por uma medida única (Steffen, 2011STEFFEN, Will. (2011), “A truly complex and diabolical policy problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press., pp. 22-26; Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393., p. 386). A mudança do clima é um problema complexo e de tratamento bastante difícil; sua mitigação requer a implementação de medidas que tocam questões centrais da realidade contemporânea, como fontes de energia, estilos de vida, instituições e governança, formas de organização econômica e valores (Jamieson, 2011JAMIESON, Dale. (2011), “The nature of the problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press., pp. 38-42; Steffen, 2011STEFFEN, Will. (2011), “A truly complex and diabolical policy problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press., p. 21). Instituições e sistemas jurídicos atuais, centrados na lógica causa-efeito de curto prazo e na provisão de bens privados, não estão preparados para lidar com a mudança do clima (Steffen, 2011STEFFEN, Will. (2011), “A truly complex and diabolical policy problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press.; Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393.) – e isso é verdade tanto na esfera interna como na internacional.
Para mitigar as mudanças climáticas, é preciso reduzir a concentração de GEE, especialmente o car- bono, na atmosfera, ou seja, descarbonizar. São doze os vetores principais para a descarbonização glo- bal: (i) acelerar extraordinariamente o ritmo da eficiência energética; (ii) descarbonizar a matriz energética mundial (diminuindo drasticamente o uso do carvão, estabilizando o uso do petróleo e aumentando significativamente o uso das energias renováveis e, em menor medida, do gás natural e da energia nuclear); (iii) aumentar radicalmente a proporção do transporte coletivo na mobilidade humana e, quando houver necessidade de transporte individual, usar carros elétricos, de hidrogênio, de biocombustíveis ou híbridos; (iv) parar o desmatamento e reflorestar/florestar massivamente; (v) utilizar técnicas agropecuárias virtuosas como plantio direto, agricultura de baixo carbono e mínimo uso de fertilizantes nitrogenados; (vi) reduzir o consumo de carne (particularmente de gado, cujo ciclo produtivo produz uma quantidade enorme de metano e consome muita água) nos países de renda alta e média; (vii) usar eficientemente a água; (viii) baixar rapidamente a taxa de fecundidade na África, Oriente Médio e sul da Ásia; (ix) acelerar o desenvolvimento de tecnologias de captura e sequestro de carbono fóssil; (x) diminuir as reuniões presenciais e substituí-las por reuniões virtuais; (xi) diminuir a velocidade de crescimento do tráfego aéreo (incluída uma revolução tecnológica de eficiência energética de novos materiais mais leves), cujas emissões são as que mais crescem entre todos os setores da economia mundial; (xii) avançar rapidamente na densidade da cooperação internacional sobre novas tecnologias de baixo carbono, incluídas as relacionadas com a geoengenharia climática (manejo da radiação solar e do comportamento das nuvens e outras) (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo, Annablume., pp. 143-144; The Royal Society 2012THE ROYAL SOCIETY. (2012), “People and the planet report”. Londred, The Royal Society.; Parsons e Ernst 2014PARSONS, Edward & ERNST, Lia. (2014), “International governance of climate engineering”. Theoretical Inquiries in Law, 14: 307-338.). Essas mudanças exigem novas tecnologias e designs, mas, principalmente, mudanças políticas e culturais, que são altamente influenciadas por complexos processos sociais e psicológicos (Veiga, 2013VEIGA, José Eli da. (2013), A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo, Editora 34.).
No fundamental, o desafio não é tecnológico. Houve desenvolvimento significativo de tecnologias para aumentar a eficiência energética e o uso de fontes energéticas de baixo carbono: eletrodomésticos com menos gasto de energia/intensivos; técnicas para aproveitamento da luz solar em edifícios; aquecimento de água por energia solar; eletricidade gerada por energia eólica, solar fotovoltaica, gases de aterros sanitários, nuclear, energia geotérmica e marés – incluindo expansão do uso de baterias e de smart grid; veículos movidos a gás natural, biomassa e íons de lítio. Outra quantidade de tecnologias está em estágio pré-comercial, e muitas outras encontram-se em estágios de demonstração ou pesquisa e desenvolvimento (Diesendorf, 2011DIESENDORF, Mark. (2011), “Redesigning energy systems”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press., p. 565).
No entanto, as respostas políticas para a mudança do clima têm sido insatisfatórias. Até agora, emissões de GEE continuam crescendo ao ritmo de aproximadamente 2% ao ano, mesmo que de modo bastante heterogêneo entre os diversos países. Neste nível de crescimento, o limite do orçamento global de carbono – o que os climatologistas avaliam como as emissões que nos restam para evitar a mudança climática perigosa – seria atingido em torno de 2040. O insucesso do regime do clima em mi- tigar o problema é resultado da discrepância entre a natureza da questão climática e as características do sistema internacional contemporâneo: (i) o aumento da conflituosidade e (ii) o modelo de tomada de decisões, que resulta no mínimo denominador comum e trava o avanço da negociação de temas comuns globais.
Atual conjuntura internacional: a humanidade ameaçada por seu passado e por seu futuro
Retorno ao passado? Aumento da conflituosidade no sistema internacional
Ao contrário do que imaginavam os mais otimistas do pós-guerra, o mundo não caminhou para a paz perpétua. A segunda metade do século XX viu crescer de forma considerável a cooperação multilateral entre os países: floresceram regimes internacionais nos mais diversos temas – comércio, finanças, investimentos, saúde pública, comunicações, meio ambiente, direitos humanos –; questões que ameaçavam o futuro da humanidade, como a proliferação de armas nucleares, tiveram encaminhamento relativamente satisfatório. De fato, desde 1990, a guerra simétrica entre as grandes potências é muito improvável: houve importante aumento da interdependência sistêmica, que encaminha a cooperação internacional em todos os níveis. No entanto, forças conflitivas voltaram a ganhar ânimo nos últimos quinze anos, em diversas regiões do mundo.
Neste início do século XXI, as principais tendências, com diverso potencial de conflituosidade, que interferem na estabilidade do sistema internacional, são oito. Primeira, mudanças na balança de poder entre Estados, com o deslocamento parcial e gradual do poder do mundo ocidental para a Ásia/Pacífico. Segunda, o crescimento do poder relativo de atores não estatais (empresas, ONGs, governos subnacionais, organizações religiosas, redes societais, crime organizado, grupos terroristas) no interior dos Estados nacionais, e consequente crescimento do poder relativo de atores não estatais internacionais em relação aos Estados e às organizações intergovernamentais. Terceira, a diminuição da influência dos Estados Unidos como garantidor de última instância da estabilidade global. Quarta, o aumento quase generalizado da desigualdade na distribuição das riquezas no interior das nações e entre algumas nações (as de renda per capita alta e média em relação às de baixa renda). Quinta, a natureza do poder na sociedade da informação que facilita a contestação e eventual erosão dos poderes estabelecidos, mas muito mais difícil a construção de novos poderes (Naim, 2013NAIM, Moises. (2013), The end of power. Philadelphia, Perseus Group.). Sexta, o crescimento extraordinário das capacidades para guerra cibernética e grande dificuldade para limitá-la e regulá-la. Sétima, a dificuldade para alcançar a cooperação entre os principais Estados em um leque de problemas comuns globais. Oitava, o fortalecimento em vastos setores da população mundial de identidades de tipo adscritivas (religiosa e étnica), incluindo o fortalecimento de versões fundamentalistas das grandes religiões monoteístas – cristianismo, islamismo e judaísmo –, com o correspondente acirramento de conflitos religiosos (Hoge, 2010HOGE, James F. (2010), “The world ahead”. Foreign Affairs, 89 (6): i-ii.).
Diversos são os epicentros geopolíticos dessas forças centrífugas. No leste e sul da Ásia e na crise entre Rússia e Ucrânia, há o renascimento de nacionalismos agressivos. No grande Médio Oriente, há tendências de desintegração dos Estados nacionais combinadas com guerras étnico/religiosas e desenvolvimento de redes terroristas de escopo global. Em âmbito global, há contínuo crescimento do poder do ilícito transnacional e das redes terroristas, e grande dificuldade em combatê-las. Paira, no mundo ocidental, um sentimento de impotência para lidar com áreas altamente conflitivas, o que leva à não intervenção (ou isolacionismo relativo). Sem a interferência externa, esses conflitos desenrolam-se por longos períodos até alcançarem, em alguns casos (Somália, Congo, Síria, Iraque, Líbia, Mali, Chade, Iêmen, Sudão, Zimbábue), níveis sangrentos extremos, o que não acontecia em grande escala desde 1945 (exceto em Ruanda, em 1994). Desse modo, não é irreal pensar que conflitos regionais possam se desenrolar por anos e até décadas – o combate ao Estado Islâmico configura-se para alguns internacionalistas como “uma nova Guerra dos Trinta Anos” (por analogia com as guerras religiosas europeias de início do século XVII), por exemplo.
Este cenário representa um retrocesso significativo em relação ao mundo que se almejou construir no pós-guerra. O direito internacional, avanço importante da cooperação humana, é baseado na igualdade normativa e tem efeitos limitados sobre uma realidade dominada pelas disparidades de riqueza e poder. Quando se enfrentam problemas complexos de provisão de bens comuns globais, como a mudança do clima, a discrepância entre rea- lidade desigual e a igualdade normativa torna-se ostensiva, e explica, em grande medida, a incapacidade do regime internacional para obter soluções eficientes para a questão.
Incapacidade dos regimes em mitigar a ultrapassagem dos limites planetários
A geopolítica contemporânea, assim como a maioria das ciências sociais, é construída sobre pressupostos de um meio ambiente estável para as atividades humanas – o meio ambiente como pano de fundo para o drama humano (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., p. 189). O Antropoceno representa o fim dessa estabilidade, o que, porém, ainda foi minimamente incorporado pelas relações internacionais: as análises continuam caracterizando como grandes ameaças à estabilidade da civilização apenas os conflitos entre as potências. A ameaça da instabilidade ambiental é, porém, de escala crescentemente significativa, mesmo que ainda não tenha atingido a gravidade imediata dos conflitos humanos. Envolve fatores fundamentais para a sobrevivência da espécie, como eventos climáticos extremos, escassez de água doce, acidificação dos oceanos, grandes perdas de solos agrícolas, florestas e espécies animais e vegetais, de impacto tão relevante quanto o da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Em termos de instabilidade no sistema internacional e possibilidade de perdas materiais e humanas, o risco da mudança climática perigosa não equivale ao de uma guerra simétrica entre potências que ocupam o centro do sistema. No entanto, tem impacto muito mais alto do que guerras assimétricas inter e intraestatais, que ocorrem desde 1945.
O cálculo do risco desenvolvido na época do Holoceno está baseado em dois pressupostos: situações de alto risco são aquelas que têm alto impacto mas probabilidade pequena de acontecer, e situações de baixo risco são as que têm baixo impacto mas probabilidade alta de ocorrência (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., pp. 188-189). Esse raciocínio está enraizado na psiquê humana. Em política internacional, conflitos localizados são considerados de baixo risco: são comuns, mas representam pouco risco para a estabilidade do sistema internacional; situações de alto risco, por sua vez, são raras, mas devastadoras se concretizadas – a guerra nuclear ou as ameaças terroristas de grande escala (atentados com uso de armas radiológicas ou bacteriológicas que causem a morte de milhões de pessoas). Os limites planetários não se encaixam em nenhuma das duas categorias: a mudança do clima, por exemplo, tem alto impacto e alta probabilidade de acontecer, dados os fatos verificados pela ciência (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., pp. 188-189).
A mudança do clima tem algumas semelhanças com ameaças nucleares e terroristas: (i) há incerteza em relação à sensibilidade, gama, escala, velocidade e natureza descontínua das ameaças; (ii) há incerteza em relação à efetividade e confiabilidade de estratégias de resposta; (iii) há certeza de que as consequências das ameaças para a segurança internacional requereriam intervenções militares se forem mal administradas, mas que o desmantelamento das ameaças requer, acima de tudo, ação civil que toque as causas do problema (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., p. 189). Guarda, porém, uma diferença extraordinária: o sistema climático, ao contrário das ameaças nucleares e terroristas, escapa à discricionariedade humana, pois vai inevitavelmente seguir as leis da física – o aumento da concentração de GEE leva ao aumento da temperatura média do planeta e à quebra dos padrões de clima estável. Na mudança do clima, a ação humana não é capaz de deter a relação causa-consequência; sua atuação interfere apenas para determinar seus níveis (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., p. 189).
A resposta no sistema internacional para a mudança do clima foi o desenvolvimento do regime internacional sobre mudanças climáticas. Sua evolução é bastante conhecida. Antes de 1990, a preocupação era com a definição do problema (Gupta, 2010GUPTA, Joyeeta. (2010), “A history of international climate change policy”. WIREs Climate Change, 1: 636-653.). Em 1992, foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), que estabelece os parâmetros para negociação do tema das mudanças climáticas e inaugura a busca de soluções para o problema, mas não elenca obrigações específicas de implementação. Ficou decidido que obrigações específicas seriam discutidas em reuniões periódicas, chamadas Conferências das Partes (COPs), de modo a definir as estratégias de implementação das obrigações assumidas. As COPs ocorrem desde 1995, e os contextos de três delas são especialmente importantes para a trajetória do regime: a COP 03 (Kyoto), a COP 15 (Copenhagen) e a COP 21 (Paris).
A COP 03 ocorreu em 1997 e o Protocolo de Quioto foi assinado pelos países membros da CQNUMC na ocasião. Na fase de negociação do Protocolo, economias industrializadas assumiram a liderança nos compromissos de redução de emissões de GEE (Gupta, 2010GUPTA, Joyeeta. (2010), “A history of international climate change policy”. WIREs Climate Change, 1: 636-653.; Viola, 2002VIOLA, Eduardo. (2002), “O regime internacional de mudança climática e o Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17 (50): 25-46.). O protocolo estabelece que essas economias, agrupadas no Anexo I da CQNUMC, deveriam impor limites compulsórios para suas emissões, reduzindo-as em pelo menos 5% entre 2008 e 2012 em relação aos patamares de 1990. No contexto da negociação, as economias emergentes foram pressionadas mas rejeitaram compromissos de redução de suas curvas de emissões (em relação a cenários business as usual) para o mesmo período (Viola, 2002VIOLA, Eduardo. (2002), “O regime internacional de mudança climática e o Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17 (50): 25-46.). Elas articulavam-se principalmente por meio do G-77+China, lideradas pelo Brasil, Índia e China, utilizando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e a responsabilidade histórica das economias desenvolvidas para justificar seu posicionamento. Entre 1997 e 2001, o regime do clima caminha para a consolidação (Gupta, 2010GUPTA, Joyeeta. (2010), “A history of international climate change policy”. WIREs Climate Change, 1: 636-653.), mas tem um revés, pois os Estados Unidos deixam a liderança: decidem não ratificar o Protocolo de Quioto alegando que sua competição em mercados internacionais com economias emergentes não obrigadas a reduzir emissões era desleal. O Protocolo entrou em vigor em 2005 obrigando a redução de emissões de países que, juntos, correspondiam a apenas 29,91% do total global de emissões no mesmo ano (IEA, 2007IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2007), “Key World Energy Statistics 2007”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 15 dez. 2013.
http://www.iea.org/publications/...
).2
2
Se levadas em consideração as emissões de 2008, início do prazo do compromisso de redução de emissões, a parcela chegava a 27,41% das emissões globais. Caso os Estados Unidos tivessem ratificado o Protocolo, a porcentagem teria subido para 51,34%, em números de 2005, e 46,46% em números de 2008. Todos cálculos próprios com base em IEA (2007; 2010). Não foram encontrados dados para Liechtenstein e Mônaco.
O contexto da COP 15 era mais complexo. Havia grande expectativa de assinatura de um acordo legalmente vinculante que substituiria o Protocolo de Quioto após 2012. A União Europeia vinha tendo uma atuação destacada de liderança, propondo compromissos fortes e diferenciados para todos os países, mas China, Estados Unidos e Índia mantinham posições modestas. Os resultados da Conferência foram mínimos: os países do Anexo I da Convenção foram instados a propor metas quantificadas, mas voluntárias, de redução de emissões que alcançassem toda a economia, enquanto os países não Anexo I deveriam apresentar ações de mitigação nacionalmente apropriadas (NAMAs, em inglês), nos dois casos para cumprimento até 2020. O texto foi construído pelos Estados Unidos e a coalizão BASIC – Brasil, África do Sul, Índia e China –, cujos países seguiam resistentes a assumir obrigações de redução de emissões, mas não queriam ser taxados de culpados pelo fracasso da Conferência (Dubash, 2010DUBASH, Navroz. (2010), “Copenhagen: climate of distrust”. Economic and Political Weekly, 44 (52): 8-11.; Hallding et al., 2011HALLDING, Karl et al. (2011), Together alone: basic countries and the climate change conundrum. Copenhagen, Nordic Council of Ministers.). O Acordo de Copenhague não é legalmente vinculante nem foi adotado oficialmente, uma vez que Bolívia, Sudão e Venezuela se opuseram a seus termos, impedindo o consenso. Ao contrário de reduzir emissões de GEE, os compromissos apresentados pelos países representam, em todos os casos, exceto o da União Europeia, aumentos em relação aos patamares de emissões em 1990.3 3 Vide relação da US Climate Network, disponível em: http://www.usclimatenetwork.org/policy/copenhagen-accord-commitments; acesso em: 15 fev. 2016.
As negociações do acordo que substituiria o Protocolo de Quioto a partir de 2012 seguiram em meio a grandes discordâncias. Em 2011, foi decidido que um instrumento legalmente vinculante deveria ser acordado até 2015. Em 2012, os membros da UNFCCC assinaram a Emenda de Doha, estabelecendo um segundo período de vigência para o Protocolo de Quioto, de 2013 até 2019. Canadá, Japão e Rússia não assinaram a Emenda. A Emenda ainda não entrou em vigor;4 quando entrar, estará vinculando a redução de emissões de países que representam uma parcela pequena no total global: 13,62% em 2012; 12,83% em 2013 (IEA, 2014IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2014), “Key World Energy Statistics 2014”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 10 nov. 2015.
http://www.iea.org/publications/...
; 2015IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2015), “Key World Energy Statistics 2010”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 20 jan. 2016.
http://www.iea.org/publications/...
).5
5
Cálculos próprios com base nas publicações citadas.
Em preparação para a COP 21, a polêmica em torno da obrigatoriedade dos compromissos seguia. Apesar do aumento de suas emissões no total global, as economias emergentes se mantinham resistentes a aceitar metas de redução compulsórias para suas emissões, alegando a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos continua- vam reiterando a necessidade de obrigar os emergentes a reduzir emissões como condição para aceitar as metas compulsórias para as suas emissões. Países vinculados pela Emenda de Doha, além de outras representações,6
6
A Aliança dos Pequenos Estados Ilhas, por exemplo, é muito atuante no regime do clima e pressiona por compromissos mais ambiciosos, visto que representa países que tendem a submergir em razão da elevação do nível do mar. Tem pouca influência no regime, porém.
pressionavam pelo maior envolvimento dos demais. Em 2013, foi aprovado que os membros da CQNUMC deveriam apresentar, até 1o de outubro de 2015, Contribuições Nacionalmente Determinadas (Intended Nationally Determined Contributions – INDCs). As INDCs deveriam conter informações detalhadas sobre os compromissos de cada membro após 2020, e a maioria dos membros da Convenção as apresentou. O Acordo de Paris, assinado em 2015, é legalmente vinculante (mas aguarda a ratificação de seus membros para entrar em vigor); as INDCs, sua parte fundamental, no entanto, não são: são compromissos voluntários que devem ser revistos periodicamente, com a intenção de serem adaptados conforme sua implementação ocorra. Caso o conjunto das INDCs apresentadas7
7
Cálculo feito para as INDCs apresentadas até 8 de dezembro de 2015.
for totalmente implementado, a temperatura média do planeta subirá 2,7o C até 2100 (Climate Action Tracker, 2015CLIMATE ACTION TRACKER. (2015), “Climate Action Tracker Update: 2.7°C is not enough – we can get lower”. Disponível em: http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT_Temp_Update_COP21.pdf. Acesso em: 12 fev. 2016.
http://climateactiontracker.org/assets/p...
).
O insucesso do regime em obter a mitigação da mudança do clima decorre das características do atual sistema político-jurídico, desenvolvido para lidar com curto prazo entre ação política e seu efeito, questões de causa e consequência diretas e relacionadas com atividades determinadas. A mudança do clima é cercada de incerteza e complexidade, e opera no longo prazo. Uma solução mais efetiva para o problema passa pela revisão dos conceitos de ameaça e segurança, com o reconhecimento do Antropoceno, de sua escala e de suas características; pela revisão do conceito de interesse nacional, para além das bases vestfalianas; e pelo aprofundamento da governança global.
Geopolítica para o século XXI
Ameaças à segurança no Antropoceno
Reconhecer a realidade do Antropoceno e incorporá-la às bases da geopolítica significa entender que: (i) a mudança do Holoceno para o Antropoceno representa uma transformação profunda e incerta do sistema terrestre, nunca antes experimentada pela espécie humana em sua existência; (ii) essa transformação não é um problema marginal e, sim, resulta das bases do sistema produtivo (Dalby, 2014DALBY, Simon. (2014), “Rethinking geopolitics: climate security in the Anthropocene. Global Policy Journal, 5 (1): 1-9.). Por isso, a noção de ameaças à segurança requer revisão.
Em primeiro lugar, incerteza e complexidade dos problemas ambientais precisam ser incorporadas à matriz cognitiva dos internacionalistas. Se antes o meio ambiente era considerado estável, ante sua grandeza e a incapacidade dos seres humanos de alterá-lo em escala planetária, atualmente a realidade é oposta: a atuação da humanidade modifica-o de maneira profunda e sistêmica. As consequên- cias dessas modificações têm dinâmica incerta e complexa (não linear).
Vejam-se incerteza e complexidade no caso da mudança do clima. A incerteza está relacionada com o longo período de tempo que há entre o acúmulo de GEE na atmosfera e a observância das consequências desse acúmulo, e também entre a adoção de políticas para reduzir os gases estufa e os efeitos dessas políticas (Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393., p. 386). A complexidade está relacionada com o fim da linearidade: uma mudança mínima na concentração de gases estufa pode gerar efeitos catastróficos. Políticas que lidam de maneira eficiente com sistemas complexos não dão soluções fáceis e rápidas para os problemas: combinam persistência e flexibilidade para lidar com efeitos inesperados e/ou mudanças que surjam ao longo de sua implementação (Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393., pp. 388-389). Quando incerteza e complexidade não são reconhecidas em relação à mudança do clima, as potenciais respostas ao problema estarão muito aquém do que é necessário para efetivamente enfrentá-la – o que vem acontecendo no regime do clima.
Em segundo lugar, é preciso levar a sério o peso que o atual modelo de desenvolvimento, adotado pela quase totalidade dos países, tem sobre o futuro. Mudança climática perigosa ou catastrófica não será consequência do choque de um asteroide ou do encapsulamento da Terra por um buraco negro; resultará do consumo inconsequente, do uso indiscriminado de combustíveis fósseis, do desflorestamento, de altíssimas taxas de fecundidade em várias regiões; do uso massivo de fertilizantes e aditivos químicos, entre outros (The Royal Society, 2012THE ROYAL SOCIETY. (2012), “People and the planet report”. Londred, The Royal Society.). De fato, vive-se, atualmente, uma janela de oportunidade: decisões que forem tomadas nas próximas duas décadas darão origem a consequências que serão experimentadas nos próximos séculos. Assegurar a estabilidade do planeta requer refletir honesta e abertamente sobre sistemas energéticos e materiais usados na produção de bens de consumo (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., p. 190), além de padrões de consumo, estilos de vida, valores, crenças e instituições correntes. Sem reflexão, a inércia será provavelmente mantida, e as consequências, conforme as evidências apresentadas pela ciência, serão bastante duras para as próximas gerações.
Em terceiro lugar, é essencial entender que o Antropoceno é resultado de escolhas que foram feitas pela humanidade. Escolhas são sempre políticas, e dão origem a grupos de interesse e de privilégios. Mudar as escolhas significa, sim, mudar o status quo socioeconômico e político e posicionar de forma diversa diferentes grupos. Uma parte importante dos grupos privilegiados pelo atual sistema resistirão a mudanças; se eles detêm grande poder e há mecanismos inerciais para impedir o aumento de poder de outros grupos, as barreiras para mudanças serão maiores. Não se pode ignorar essa realidade: compreender e modificar a política de poder é a diferença entre a adoção de medidas que efetivamente mitiguem a ultrapassagem das fronteiras planetárias e medidas que tratam o problema como marginal ou acessório (Dalby, 2013DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192., p. 190; Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393., p. 387).
Interesse nacional no Antropoceno
As bases vestfalianas da configuração do Estado como uma entidade unitária formada por território, população e governo soberano precisa ser – e tem sido – revista. Em um mundo complexo como o da sociedade da informação/conhecimento, pensar o Estado como ator unitário é irreal. A globalização tem forças centrípetas e centrífugas; promove, ao mesmo tempo, o aumento da interdependência econômica e dos intercâmbios de informação e co- nhecimento entre diversas partes do mundo, e a fragmentação – por meio da identificação entre grupos que dividem interesses e crenças, ainda que tenham diferentes nacionalidades; ou da articulação de interesses entre governos subnacionais e entidades extranacionais, mesmo que isso possa entrar em contradição com os interesses gerais do Estado nação (Keohane e Nye, 2001KEOHANE, Robert & NYE, Joseph. (2001), Power and interdependence. 2 ed. Cambridge, Cambridge University Press,; Nye, 2011NYE, Joseph. (2011), The future of power. Cambridge, Cambridge University Press.; Held et al., 1999HELD, David et al. (1999), Global Transformations. Redwood City, Stanford University Press.; Biermann, 2015BIERMANN, Frank. (2015), Earth system governance: world politics in the Anthropocene. Cambridge, The MIT Press.). É o fenômeno definido como Rosenau (2003)ROSENAU, James N. (2003), “Globalization and governance: bleak prospects for sustainability”. International Politics and Society (IPG), 3. Disponível em: http://www.fes.de/ipg/IPG3_2003/ARTROSENAU.HTM. Acesso em: 10 nov. 2014.
http://www.fes.de/ipg/IPG3_2003/ARTROSEN...
por “fragmegration” (palavra construída pelo autor, combinando fragmentation – fragmentação – e integration – integração).
O Estado, no século XXI, é plural: conjunto de governo, empresas, comunidade científica e sociedade civil (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo, Annablume.), unidos ou não por um território, com interesses comuns, mas também interesses conflitantes, ou seja, comunidades plurais, heterogêneas, por vezes desagregadas nas tomadas de decisão (Scholte, 2008SCHOLTE, Jan Aart. (2008), “Reconstructing contemporary democracy”. Indiana Journal of Global Legal Studies, 15 (1): 305-350., p. 306; Koenig-Archibugi, 2010KOENIG-ARCHIBUGI, Mathias. (2010), “Understanding the global dimensions of policy”. Global Policy Journal, 1 (1): 16-28., p. 21). Neste sentido, como integrar em uma única definição de interesse nacional grupos heterogêneos, que podem ser muito diferentes entre si? Quando se trata dos interesses envolvidos em questões de bens comuns globais, como a mitigação da mudança do clima, a dificuldade torna-se evidente, vez que grupos com a mesma nacionalidade têm vulnerabilidade diversa à mudança do clima, interesses diversos em relação à mudança da matriz energética e à adoção de novos padrões de consumo. O interesse nacional será, portanto, um amálgama dos interesses de diferentes grupos, e delineado fundamentalmente pelos dos que detêm as maiores fatias de poder político – portanto, variável no tempo e no espaço.
Na mitigação da ultrapassagem das fronteiras planetárias, é importante observar as peculiaridades que envolvem os incentivos e a distribuição de poder político, que tornam a definição do interesse nacional nessas questões um problema triplamente desafiador.
Em primeiro lugar, pesquisas comprovam que seres humanos valorizam mais benefícios presentes do que futuros e dedicam mais atenção ao tratamento de questões imediatas em relação a questões futuras (Death, 2013DEATH, Carl (org.). (2013), Critical Environmental Politics. Londres/Nova York, Routledge.; Diamond, 2011DIAMOND, Jarrel. (2011), Collapse: how societies choose to fail or succeed. Revised edition. Nova York, Penguin Books.; Dahl, 1972DAHL, Robert. (1972), Polyarchy: participation and opposition. New Haven, Yale University Press.). Trocar um uso presente – por exemplo, usufruir dos sistemas energéticos e dos padrões de consumo – por um benefício futuro – a mitigação da mudança do clima –, que será, inclusive, em proveito de outras gerações, é encarado como um sacrifício gigantesco e resistido por grandes parcelas da população, que precisam receber incentivos para adotar novas práticas. Além disso, é preciso lidar com a realidade de que a mitigação da mudança do clima exige disciplina, persistência e adaptação ao longo do tempo: será preciso resistir, inúmeras vezes, a benefícios individuais de curto prazo para atingir os benefícios coletivos de longo prazo. Por fim, não se pode desconsiderar o fato de que a ausência dos beneficiados pelas políticas de mitigação da tomada de decisão – vez que são futuras gerações, ou, muitas vezes, futuras gerações descendentes das que vivem em outros países – é um terceiro e importante complicador (Underdal, 2010UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393., pp. 387-388).
Importante salientar que o Estado não perde sua importância na política internacional deste início de século. O resultado da ausência de concertação internacional para obter bens comuns globais, como a mitigação da mudança do clima, será um emaranhado de ações isoladas de natureza diversa, com objetivos que podem ser até conflitantes, e cujos resultados ficarão aquém dos necessários para mitigar verdadeiramente o problema (Hardin, 1968HARDIN, Garrett. (1968), “The tragedy of commons”. Science, 162 (3859): 1243-1248.; Ostrom, 1990OSTROM, Elinor. (1990), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge, Cambridge University Press.; Karlsson, 2013KARLSSON, Rasmus. (2013), “Ambivalence, irony, and democracy in the Anthropocene”. Futures, 46: 1-9., p. 5). Isso não significa, no entanto, que a concertação precisa seguir o modelo existente, ineficiente para lidar com o problema.
Aprofundamento da governança global
A governança global deve ser considerada no marco da transição de uma ordem internacional para uma ordem global (Kacowicz, 2012KACOWICZ, Arie M. (2012), “Global governance, international order and world order”, in David Levi-Faur (ed.), The Oxford handbook of governance, Oxford, Oxford University Press. pp. 686-688). Ela pode ser definida como a soma dos modos como indivíduos e instituições, públicas e privadas, direcionam seus problemas comuns; é um processo contínuo por meio do qual interesses diversos e/ou conflitantes podem ser acomodados e a cooperação pode ser estabelecida (Nações Unidas, 1995NAÇÕES UNIDAS. (1995), “Our global neighbourhood. Report of the Commission on Global Governance”. Disponível em: http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm. Acesso em: 28 jun. 2014.
http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbo...
).
Se a fragmegration é reconhecida e o Estado não é mais percebido como ente unitário, então a definição de soberania em bases vestfalianas deve ser modificada. A soberania passa a limitar parcialmente a maximização do interesse nacional convencional em função de alinhá-lo com o interesse geral da humanidade. Ou seja: os Estados, em sua atuação no sistema internacional, passam a reconhecer os interesses dos diferentes grupos que os compõem, além de identificar interesses comuns a toda a humanidade, e contrabalançá-los com interesse nacional strictu senso. Essa é uma postura racional, não utópica: trata-se de adaptação a uma realidade de maior incerteza e complexidade, e não de redistribuição do poder global ou à questão de equidade e justiça planetárias.8 8 Para as correntes que defendem a redistribuição de poder, o aprofundamento da governança global e a mitigação do conceito de soberania vestfaliana são oportunidades de mudar a balança de poder no mundo, alcançando uma sociedade internacional mais igualitária e mais justa, conforme inspiração da doutrina kantiana. Essa postura, ainda que incorporada por parcelas da população mundial, é utópica em escala global. Para que essa realidade se altere, é necessária uma mudança significativa da matriz cognitiva humana para aceitar reduzir benefícios próprios em favor de outros. Oxalá esta mudança se concretize nas próximas décadas. É fruto de um cálculo de benefício de longo prazo em favor de si mesmo – ainda que o benefício, por estar relacionado com bens comuns globais, se estenda também a outros atores. Encontra fundamento na matriz racionalista (particularmente a liberal-institucionalista) das relações internacionais, mas um racionalismo atua- lizado para o século XXI: uma vez que as noções de ameaça, de segurança e de interesse nacional são diversas no Antropoceno, assim, o posicionamento para lidar com elas precisa ser também atualizado.
O aprofundamento da governança global nesses moldes e sua aplicação à questão da mudança do clima poderia obter resultados mais efetivos de redução de emissões de GEE.
Dos muitos países do mundo, os que contribuem de maneira significativa para a mudança climática são poucos. São eles as potências climáticas: países que contam com uma combinação de poder militar, poder econômico e poder climático – baseado na proporção de suas emissões no total global das emissões de GEE, além de capital tecnológico e humano para promover a descarbonização –, que os tornam capazes de influenciar os rumos do sistema internacional em relação à questão do clima (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo, Annablume.); ver Tabelas 1 e 2. Há duas categorias de potências, conforme sua capacidade para influenciar a questão climática: as grandes potências – União Europeia, Estados Unidos, China e Índia – e as potências médias – Japão, Coreia do Sul, Brasil, Rússia, Indonésia, México, Canadá, Austrália, Turquia, Arábia Saudita, Irã, Nigéria e África do Sul.
De acordo com a preponderância das forças sociopolíticas que influenciam o mindset e a posição das potências no ciclo global do carbono, seus posicionamentos em relação ao problema climático podem ser: (i) a favor de mudanças que verdadeiramente contribuam para mitigar o problema, reformando o regime corrente, ou (ii) contra tais mudanças, mantendo o regime atual.9 9 Importante ressaltar que se trata de uma classificação geral; sempre haverá, dentro das sociedades que formam as potências climáticas, nuances que distinguem os diversos posicionamentos em pontos específicos. Adotando essa classificação, as potências podem ser divididas em cinco tipos: reformistas, reformistas moderadas, conservadoras moderadas, conservadoras e extremamente conservadoras.
Aplicando a classificação aos posicionamentos das potências climáticas na evolução do regime internacional sobre o clima, observa-se a predominância das potências conservadoras. A única potência reformista é a União Europeia: desde o início do regime do clima, ela tem defendido o desenvolvimento de baixo carbono e o tem promovido dentro de suas fronteiras – ainda que com imensas divergências e diferenças entre seus membros, além de importantes variações de ação e resultado em períodos. A União Europeia é seguida por Japão, que pode ser considerado moderadamente reformista, se focada sua trajetória no regime do clima, mas têm retrocedido na direção do conservadorismo (Viola, Franchini e Ribeiro, 2013VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática. São Paulo, Annablume.). Sua INDC (Contribuição Nacionalmente Determinada), em particular, ficou muito aquém de suas responsabilidades: o Japão estabeleceu o ano de 2013 como referência para sua redução de emissões, após compromissos prévios utilizarem o ano de 1990.
São potências moderadamente conservadoras os Estados Unidos, a China, o Brasil, a Coreia do Sul, o México, a África do Sul e a Indonésia. Entre esses, extremamente relevante é a trajetória de Estados Unidos e China, que juntos respondem por mais de 40% do total global de emissões.10 10 A saber: 41,84% em 2012 e 43,79% em 2013, de acordo com dados da IEA (2014; 2015), que excluem mudanças de uso da terra. Os dois países mantiveram-se conservadores ao longo da trajetória do regime climático, mas têm migrado para um conservadorismo moderado, impulsionado, inclusive, por iniciativa conjunta: assinaram, em 2014, um acordo bilateral para redução de emissões. A importância da iniciativa bilateral não deve ser minorada, em razão da interdependência entre as economias estadunidense e chinesa: são grandes competidores nos mercados internacionais, mas têm grandes parcerias produtivas; por isso, avanços bilaterais na redução de emissões podem significar maior possibilidade de cooperação de ambos no regime internacional. A Coreia do Sul era conservadora até 2005, avançou para reformista moderada na segunda metade da década e retrocedeu para conservadora moderada a partir de 2013. A trajetória brasileira é complexa: foi conservadora até 2009, quando teve um avanço para o conservadorismo moderado; a partir de 2011, retrocedeu para o conservadorismo, pois voltou a defender posições, como o argumento das responsabilidades históricas, que havia abandonado em 2009 (Viola e Basso, 2015VIOLA, Eduardo & BASSO, Larissa. (2015), “Brazilian energy-climate policy and politics towards low carbon development”. Global Society, 29 (3): 427-446.); em 2015, poderia ser considerado novamente conservador moderado, vez que sua INDC estabelece, pela primeira vez, um ano base para cálculo da redução de emissões, ainda que as metas apresentadas não sejam ambiciosas.
As potências conservadoras são Índia, Canadá, Austrália e Nigéria, e as extremamente conservadoras são Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Irã. Apesar de sua vulnerabilidade extrema à mudança do clima, a Índia é uma das mais ferrenhas defensoras do argumento da responsabilidade histórica, e o clima tem perdido prioridade na sua agenda doméstica. O Canadá era reformista até meados da década de 2000, mas retrocedeu com os governos conservadores entre 2006 e 2015. Com a derrota dos conservadores nas eleições de outubro de 2015, o Canadá tende a passar gradualmente ao campo reformista moderado. A Austrália passou de conservadora para con- servadora moderada em 2007 e voltou para o conservadorismo em 2013. A Rússia é uma das potências menos engajadas nas negociações: tinha um nível alto de emissões em 1990 quando ainda era parte da União das Repúblicas Socialistas Sovié- ticas e se beneficia, na contabilidade de emissões, da redução que ocorreu em razão da desintegração e da redução do desenvolvimento econômico desde então. Não apresenta compromissos ambiciosos e condiciona seus pleitos à concessão de ajuda internacional, algo inacreditável para um país de renda per capita média/alta e responsável por gigantescas emissões históricas entre 1910 e 1990.
O aprofundamento da governança global entre as potências climáticas pode encaminhar resultados mais efetivos do que os obtidos pelo regime do clima. Não se trata de descredenciar os demais atores de participar da solução do problema, mas de verificar que, feliz ou infelizmente, por conta da distribuição desigual de poder climático, a solução do problema está nas mãos de poucos atores. O regime internacional sobre mudanças climáticas assegura a participação de muitos atores com base em sua igualdade normativa, mas seu padrão de negociações segue o mínimo denominador comum: todos precisam concordar com as medidas adotadas e, por isso, os resultados acabam diluídos. Se as potências climáticas avançarem na direção do reformismo, por intermédio da adoção concertada de práticas em favor da descarbonização, os resultados para a mitigação da mudança do clima podem ser muito mais relevantes. Esse avanço poderia ser dado tanto em bases multilaterais – uma concertação climática de mais densidade, que se assemelhe ao Tratado de Não Proliferação Nuclear ou aos tratados de regulação do crescimento de arsenais nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética – ou em base plurilateral.11 11 A literatura tem explorado a opção de clubes de descarbonização, fóruns que reúnam os principais emissores de gases de efeito estufa, como estratégia para aumentar a ambição dos compromissos internacionais no tema. O G-20, por exemplo, já foi estudado (Van den Graff e Westphal, 2011). A eficácia de clubes em prover a concertação climática é defendida por permitir a barganha entre os membros em torno de bens providos pelo grupo, que poderiam estar vinculados a compromissos de redução de emissões, incentivando-os a adotar medidas de mitigação da mudança do clima (Victor, 2015; Hovi et al., 2015). Central é o avanço das práticas das potências na direção do reformismo, ou seja, em favor de mais ampla descarbonização de suas economias.
Conclusão
O fim do século XX e início do século XXI são palco de uma transformação sem precedente na história: inaugurou-se o Antropoceno, nova época geológica e humana em que o meio ambiente deixa de ser estável, mero pano de fundo dos dramas humanos, para tornar-se instável, questão central nas preocupações humanas, especialmente em relação à sobrevivência no longo prazo. Mitigar a instabilidade ambiental é bem comum global; requer concertação internacional com cessão parcial da soberania dos Estados em prol de uma governança global mais efetiva.
Com o advento da revolução digital e a configuração da sociedade da informação/conhecimento, conceitos tradicionais das relações internacionais foram atualizados. O Estado deixou de ser a ficção de um ator unitário para ser visto como pluralidade, conjunto de governo, empresas, comunidade científica e sociedade civil, que têm interesses comuns, mas também interesses conflitantes. Interesse nacional deixou de ser a resultante natural de interesses do ator unitário para ser compreendido como resultado da luta política entre diversos grupos, que detêm diferentes fatias de poder, e, por isso, variável no tempo e no espaço. No Antropoceno, também o conceito de ameaça à segurança é modificado: não apenas as guerras simétricas entre potências – atualmente bastante improváveis, vez que o prejuízo mútuo seria enorme – colocariam o sistema internacional em risco, mas também os efeitos da instabilidade ambiental. A diferença é que a instabilidade ambiental já é realidade, e poderá agravar-se ainda mais caso não sejam tomadas efetivas medidas para sua mitigação.
Mitigar a ultrapassagem de um dos limites planetários, a mudança do clima, preveniria que às atuais alterações incrementais do sistema climático – eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes – sejam somados: aumento do potencial de destruição de produção agrícola; aprofundamento da escassez de água doce; extremos climáticos mais intensos; aumento da turbulência do mar e ondas anormais que invadem temporariamente as regiões costeiras; aumento significativo do nível do mar; aceleração do derretimento do gelo na Groenlândia. Prevenindo-se a mudança climática perigosa, evita-se a mudança climática catastrófica.
Para que a mitigação seja factível, é crucial que as potências climáticas – países com capacidade real de influenciar a mudança do clima, dado o montante de suas emissões de carbono e seu potencial humano e tecnológico para promover a descarbonização – adotem posturas reformistas em relação ao atual regime do clima. Ou seja: que se comprometam efetivamente com medidas que façam avançar a descarbonização de suas economias.
Atualmente, há maiorias reformistas na União Europeia e importantes minorias em quase todos os países-chave para a governança global do clima – Japão, Estados Unidos, China, Índia, Coreia do Sul, Indonésia, Brasil, México, África do Sul, Austrália e Canadá. Porém, forças conservadoras ainda são majoritárias. Como a principal ferramenta desenvolvida para lidar com o problema climático, o regime internacional sobre mudança do clima, adota o princípio da igualdade normativa entre os países, as medidas adotadas requerem consenso universal. Dada a hegemonia conservadora, esse mínimo denominador comum é insuficiente para mitigar a mudança do clima. Um bom exemplo é o acordo obtido na Conferência de Paris, em dezembro de 2015. Em nível diplomático, o acordo foi um sucesso, pois une em consenso interesses nacionais e setoriais diferentes e muitas vezes antagônicos. Também foi bem sucedido em estabelecer o nível máximo de aumento da temperatura global em 1,5 grau centígrado, e não 2 graus centígrados. No entanto, o conteúdo do compromisso afirmado é insuficiente para promover profunda descarbonização global: países apresentaram metas meramente voluntárias, e não obrigatórias, de redução de emissões, que, se totalmente implementadas, conduziriam o aumento da temperatura global a 2,7 graus centígrados no longo prazo; o sistema de monitoramento da implementação das metas é fraco, portanto não há garantia de implementação; a revisão das metas, a ser feita a cada cinco anos, não obriga os países a aprofundarem seus compromissos; o conceito de descarbonização foi eliminado do acordo, e também inexiste referência ao fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, condição necessária para que a descarbonização global seja efetiva; o acordo fala em transferência de recursos de países desenvolvidos aos pobres – economias emergentes, com exceção da China, negaram-se –, mas o montante é pequeno e o acordo não esclarece que parcela teria fontes públicas (os únicas que poderiam ser cobradas). Maior densidade na concertação entre esses países seria obtida se negociado um tratado nos moldes mais rigorosos do multilateral do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) ou dos quatro tratados bilaterais americanos/soviéticos/russos para a regulação do crescimento de arsenais nucleares (SALT 1, de 1969 e SALT 2, de 1979) e para a redução dos arsenais nucleares (START 1, de 1991 e START 2, de 1993) ou se os países engajarem-se em negociações plurilaterais que toquem os temas acima. Certamente são alternativas mais eficazes para mitigar a mudança climática.
Vive-se, atualmente, uma janela de oportunidade: decisões que forem tomadas nas próximas duas décadas darão origem a consequências que serão experimentadas na segunda metade do século XXI e nos próximos séculos. Assegurar a estabilidade do planeta é pensar além da segurança energética ou das consequências de espaços não governados: é refletir honesta e abertamente sobre sistemas energéticos e materiais usados na produção de bens de consumo, além de padrões de consumo, estilos de vida, valores, crenças e instituições correntes. O fator decisivo para essa transformação está no crescimento de forças reformistas nas potências climáticas e uma concertação mais estreita entre elas, em que a soberania seja cedida parcialmente em prol de tratados plurilaterais fortes, nos quais o compromisso com a descarbonização seja obrigatoriamente implementado. Essa mudança não é fácil: na verdade, é muito mais desafiadora do que a concertação dos mais de duzentos atores partes do regime internacional do clima. Porém, se ocorrer, será evidência de que está sendo atualizada a matriz cognitiva de interpretação da realidade em que se vive, provando que a espécie humana é capaz de adaptar estruturas institucionais e políticas para assegurar sua sobrevivência no mundo do século XXI.
BIBLIOGRAFIA
- BIERMANN, Frank et al. (2012), “Planetary boundaries and earth system governance: exploring the links”. Ecological Economics, 81: 4-9.
- BIERMANN, Frank. (2015), Earth system governance: world politics in the Anthropocene Cambridge, The MIT Press.
- CLIMATE ACTION TRACKER. (2015), “Climate Action Tracker Update: 2.7°C is not enough – we can get lower”. Disponível em: http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT_Temp_Update_COP21.pdf Acesso em: 12 fev. 2016.
» http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT_Temp_Update_COP21.pdf - CRUTZEN, Paul & STOERMER, Eugene. (2000), “The Anthropocene”. Global Change Newsletter, 41: 17-18.
- DAHL, Robert. (1972), Polyarchy: participation and opposition New Haven, Yale University Press.
- DALBY, Simon. (2013), “Biopolitics and climate security in the Anthropocene”. Geoforum, 49: 184-192.
- DALBY, Simon. (2014), “Rethinking geopolitics: climate security in the Anthropocene. Global Policy Journal, 5 (1): 1-9.
- DEATH, Carl (org.). (2013), Critical Environmental Politics. Londres/Nova York, Routledge.
- DIAMOND, Jarrel. (2011), Collapse: how societies choose to fail or succeed Revised edition. Nova York, Penguin Books.
- DIESENDORF, Mark. (2011), “Redesigning energy systems”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press.
- DUBASH, Navroz. (2010), “Copenhagen: climate of distrust”. Economic and Political Weekly, 44 (52): 8-11.
- GUPTA, Joyeeta. (2010), “A history of international climate change policy”. WIREs Climate Change, 1: 636-653.
- HALLDING, Karl et al. (2011), Together alone: basic countries and the climate change conundrum. Copenhagen, Nordic Council of Ministers.
- HARDIN, Garrett. (1968), “The tragedy of commons”. Science, 162 (3859): 1243-1248.
- HELD, David et al. (1999), Global Transformations Redwood City, Stanford University Press.
- HOGE, James F. (2010), “The world ahead”. Foreign Affairs, 89 (6): i-ii.
- HOVI, Jon et al. (2015), “The club approach: a gateway to effective climate cooperation?”. Paper presented at a Second Environment and Sustainability Forum, University of Bath, 9-11 Apr. 2015. Disponível em: http://www.bath.ac.uk/ipr/pdf/events/climate-change/Hovi.pdf Acesso em: 12 fev. 2016.
» http://www.bath.ac.uk/ipr/pdf/events/climate-change/Hovi.pdf - IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2007), “Key World Energy Statistics 2007”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/ Acesso em: 15 dez. 2013.
» http://www.iea.org/publications/ - IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2010), “Key World Energy Statistics 2010”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/ Acesso em 15 dez. 2013.
» http://www.iea.org/publications/ - IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2013), “Key World Energy Statistics 2013”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/ Acesso em: 20 jul. 2014.
» http://www.iea.org/publications/ - IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2014), “Key World Energy Statistics 2014”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/ Acesso em: 10 nov. 2015.
» http://www.iea.org/publications/ - IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2015), “Key World Energy Statistics 2010”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/ Acesso em: 20 jan. 2016.
» http://www.iea.org/publications/ - JAMIESON, Dale. (2011), “The nature of the problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press.
- KACOWICZ, Arie M. (2012), “Global governance, international order and world order”, in David Levi-Faur (ed.), The Oxford handbook of governance, Oxford, Oxford University Press.
- KARLSSON, Rasmus. (2013), “Ambivalence, irony, and democracy in the Anthropocene”. Futures, 46: 1-9.
- KEOHANE, Robert & NYE, Joseph. (2001), Power and interdependence 2 ed. Cambridge, Cambridge University Press,
- KOENIG-ARCHIBUGI, Mathias. (2010), “Understanding the global dimensions of policy”. Global Policy Journal, 1 (1): 16-28.
- NAIM, Moises. (2013), The end of power. Philadelphia, Perseus Group.
- NAÇÕES UNIDAS. (1995), “Our global neighbourhood. Report of the Commission on Global Governance”. Disponível em: http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm Acesso em: 28 jun. 2014.
» http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm - NYE, Joseph. (2011), The future of power Cambridge, Cambridge University Press.
- OSTROM, Elinor. (1990), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action Cambridge, Cambridge University Press.
- PARSONS, Edward & ERNST, Lia. (2014), “International governance of climate engineering”. Theoretical Inquiries in Law, 14: 307-338.
- ROCKSTROM, Johan et al. (2009), “A safe operating space for humanity”. Nature, 461: 472-475.
- ROSENAU, James N. (2003), “Globalization and governance: bleak prospects for sustainability”. International Politics and Society (IPG), 3. Disponível em: http://www.fes.de/ipg/IPG3_2003/ARTROSENAU.HTM Acesso em: 10 nov. 2014.
» http://www.fes.de/ipg/IPG3_2003/ARTROSENAU.HTM - SCHOLTE, Jan Aart. (2008), “Reconstructing contemporary democracy”. Indiana Journal of Global Legal Studies, 15 (1): 305-350.
- STEFFEN, Will. (2011), “A truly complex and diabolical policy problem”, in John S. Dryzek; Richard B. Norgaard e David Schlosberg (eds.), The Oxford handbook of climate change and society, Oxford, Oxford University Press.
- STEFFEN, Will et al. (2011), “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of The Royal Society, 369: 842-867.
- STEFFEN, Will et al. (2015), “Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet”. Science, 347 (6223): 1-16.
- THE ROYAL SOCIETY. (2012), “People and the planet report”. Londred, The Royal Society.
- UNDERDAL, Arild. (2010), “Complexity and challenges of long-term environmental governance”. Global Environmental Change, 20: 386-393.
- VAN DEN GRAAF, Thijs & Westphal, Kirsten. (2011), “G-8 and G-20 as steering committees for energy”. Global Policy Journal, 2 (special issue): 19-30.
- VEIGA, José Eli da. (2013), A desgovernança mundial da sustentabilidade São Paulo, Editora 34.
- VICTOR, David. (2015), The case for climate clubs. Report of the E15 Initiative – strengthening the global trade and investment system for sustainable development Genebra, ICTSD.
- VIOLA, Eduardo. (2002), “O regime internacional de mudança climática e o Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17 (50): 25-46.
- VIOLA, Eduardo & BASSO, Larissa. (2015), “Brazilian energy-climate policy and politics towards low carbon development”. Global Society, 29 (3): 427-446.
- VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2012), “Climate governance in an international system under conservative hegemony: the role of major powers”. Revista Brasileira de Política Internacional, 55 (special edition): 9-29.
- VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias & RIBEIRO, Thais Lemos. (2013), Sistema internacional de hegemonia conservadora: governança global e democracia na era da crise climática São Paulo, Annablume.
-
1
Antes dos combustíveis fósseis, as fontes de energia eram a luz e o calor sol, o movimento do vento e das águas, e a biomassa, especialmente a lenha, que dependiam de serem encontradas na natureza e não podiam ser deslocadas por longas distâncias.
-
2
Se levadas em consideração as emissões de 2008, início do prazo do compromisso de redução de emissões, a parcela chegava a 27,41% das emissões globais. Caso os Estados Unidos tivessem ratificado o Protocolo, a porcentagem teria subido para 51,34%, em números de 2005, e 46,46% em números de 2008. Todos cálculos próprios com base em IEA (2007IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2007), “Key World Energy Statistics 2007”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 15 dez. 2013.
http://www.iea.org/publications/... ; 2010IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2010), “Key World Energy Statistics 2010”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em 15 dez. 2013.
http://www.iea.org/publications/... ). Não foram encontrados dados para Liechtenstein e Mônaco. -
3
Vide relação da US Climate Network, disponível em: http://www.usclimatenetwork.org/policy/copenhagen-accord-commitments; acesso em: 15 fev. 2016.
-
4Até 11 de fevereiro de 2016, 60 países haviam ratificado a Emenda de Doha, número insuficiente para sua entrada em vigor, Informações disponíveis em: http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php; acesso em: 11 fev. 2016.
-
5
Cálculos próprios com base nas publicações citadas.
-
6
A Aliança dos Pequenos Estados Ilhas, por exemplo, é muito atuante no regime do clima e pressiona por compromissos mais ambiciosos, visto que representa países que tendem a submergir em razão da elevação do nível do mar. Tem pouca influência no regime, porém.
-
7
Cálculo feito para as INDCs apresentadas até 8 de dezembro de 2015.
-
8
Para as correntes que defendem a redistribuição de poder, o aprofundamento da governança global e a mitigação do conceito de soberania vestfaliana são oportunidades de mudar a balança de poder no mundo, alcançando uma sociedade internacional mais igualitária e mais justa, conforme inspiração da doutrina kantiana. Essa postura, ainda que incorporada por parcelas da população mundial, é utópica em escala global. Para que essa realidade se altere, é necessária uma mudança significativa da matriz cognitiva humana para aceitar reduzir benefícios próprios em favor de outros. Oxalá esta mudança se concretize nas próximas décadas.
-
9
Importante ressaltar que se trata de uma classificação geral; sempre haverá, dentro das sociedades que formam as potências climáticas, nuances que distinguem os diversos posicionamentos em pontos específicos.
-
10
A saber: 41,84% em 2012 e 43,79% em 2013, de acordo com dados da IEA (2014IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2014), “Key World Energy Statistics 2014”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 10 nov. 2015.
http://www.iea.org/publications/... ; 2015IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. (2015), “Key World Energy Statistics 2010”. Disponível em: http://www.iea.org/publications/. Acesso em: 20 jan. 2016.
http://www.iea.org/publications/... ), que excluem mudanças de uso da terra. -
11
A literatura tem explorado a opção de clubes de descarbonização, fóruns que reúnam os principais emissores de gases de efeito estufa, como estratégia para aumentar a ambição dos compromissos internacionais no tema. O G-20, por exemplo, já foi estudado (Van den Graff e Westphal, 2011VAN DEN GRAAF, Thijs & Westphal, Kirsten. (2011), “G-8 and G-20 as steering committees for energy”. Global Policy Journal, 2 (special issue): 19-30.). A eficácia de clubes em prover a concertação climática é defendida por permitir a barganha entre os membros em torno de bens providos pelo grupo, que poderiam estar vinculados a compromissos de redução de emissões, incentivando-os a adotar medidas de mitigação da mudança do clima (Victor, 2015VICTOR, David. (2015), The case for climate clubs. Report of the E15 Initiative – strengthening the global trade and investment system for sustainable development. Genebra, ICTSD.; Hovi et al., 2015HOVI, Jon et al. (2015), “The club approach: a gateway to effective climate cooperation?”. Paper presented at a Second Environment and Sustainability Forum, University of Bath, 9-11 Apr. 2015. Disponível em: http://www.bath.ac.uk/ipr/pdf/events/climate-change/Hovi.pdf. Acesso em: 12 fev. 2016.
http://www.bath.ac.uk/ipr/pdf/events/cli... ).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
2016
Histórico
-
Recebido
11 Fev 2015 -
Aceito
29 Abr 2016