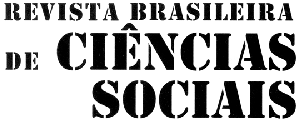Resumos
A era industrial efetivou a maquinaria entre os humanos, mas as Ciências Sociais do início do século XX pouco se ocuparam das máquinas, alocando-as com frequência como corolário do desenvolvimento das sociedades humanas. Não são as máquinas produtoras objetivas das condições materiais da vida coletiva de inúmeras sociedades? Não poderiam assim as máquinas ocuparem um ponto de distinção na história das Ciências Sociais? A aposta de Jaques Lafitte, na primeira metade do século XX, foi de que uma ciência social das máquinas não só seria possível como imprescindível à história futura de viabilidade das Ciências Sociais. Lafitte formulava, nessa lacuna, a mecanologia: um esforço de ciência social em torno das máquinas. Sua mecanologia avançava em direção à Sociologia francesa e radicalizava uma de suas expressões: se a Sociologia é capaz de fundar sua tecnologia , é preciso que esta seja devidamente tratada como uma incursão social no reino dos seres mecânicos.
Mecanologia; Ciências Sociais; Maquinaria; Tecnologia
The industrial era settled the machinery among humans, but the Social Sciences of the early twentieth century did little to deal with the machinery, often allocating itas a corollary of the development of human societies. But are not machines objective producers of material conditions for the collective life of countless societies? Could not machines thus occupy a point of distinction in the history of Social Sciences? The bet of Jaques Lafitte, in the first half of the twentieth century, was that a social science of machines was not just possible, but was indeed needed for thefuture history of Social Sciences viability. In this gap,mechanology was formulated: an effort in the direction of a social science of machines. Lafitte’s mechanology advanced on French sociology and radicalized one of its expressions: if Sociology is able to found its Technology, it must be properly treated as a social incursion into the realm of mechanical beings.
Mechanology; Social Sciences; Machinery; Technology
L’ère industrielle a rendue effective la présence des machines parmi les humains, mais les Sciences Sociales du début du XXe siècle se sont peu occupé des machines, les reléguant fréquemment à un corollaire du développement des sociétés humaines. Mais les machines ne sont-elles pas des productrices objectives des conditions matérielles de la vie collective d’innombrables sociétés? Ne pourraient-elles pas, ainsi, occuper une place d’honneur dans l’histoire des Sciences Sociales? Le pari de Jaques Lafitte, au cours de la première moitié du XXe siècle, était qu’une science sociale des machines n’était non seulement possible, mais indispensable à l’histoire future de la viabilité des Sciences Sociales. Lafitte formulait, par cette lacune, la Science des Machines : un effort des Sciences Sociales par rapport aux machines. Sa Science des Machines a avancé vers la sociologie française et a renforcé l’une de ses expressions: si la sociologie est capable fonder satechnologie , il est nécessaire que celle-ci soit correctement traité comme une incursion sociale dans le royaume des êtres mécaniques.
Science des machines; Sciences sociales; Machinerie; Technologie
Uma objeção sociológica
Se remorados os escritos de Marcel Mauss – sobretudo aqueles em torno dos quais se erigiu a notável escola atrelada à revista Techniques & Culture –, 1 1 O periódico fundado em 1977 é resultado da reunião de pesquisadores inspirados pelo legado de Marcel Mauss e seus ilustres alunos: André Leroi-Gourhan, André-Georges Haudricourt e François Sigaut. Em torno do periódico, alguns nomes fundamentais da então etnologia das técnicas, como Aliette Geistdoerfer, Robert Cresswell, Hélène Balfet, Christian Pelras, Pierre Lemonnier e Christian Bromberger, puderam constituir, aperfeiçoar e publicizar diversas pesquisas acerca das técnicas. é interessante o fato de que comportam tais escritos um programa de pesquisa e concepção da nova Sociologia francesa fundamentado na técnica – considerando os sucessores imediatos de Auguste Comte como autores de uma Sociologia já conhecida.
Como apresentado em seu Manual de etnografia , Mauss (2002dMAUSS, Marcel. ([1947] 2002d), Manuel d’ethnographie . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales). , p. 22) 2 2 As referências bibliográficas deste texto são, em sua maioria, reedições de textos há muito publicados. Para evitar a profusão de datas e causar alguma confusão entre referências opto por manter as citações diretas atrealadas ao ano das edições consultadas. As datas originais dos artigos e obras, traduzidos ou não, estão indicadas entre colchetes ou constam no título das obras na seção de referências bibliográficas. parecia propor uma nova Sociologia cuja instauração incluísse a tecnologia como rubrica e tópico genuíno dos estudos dos fatos sociais . Uma rubrica para incursões detalhadas na produção material e corporal humana, que procedesse investigações dos modos pelos quais um corpo fisiológico poderia estabelecer eficácia e sugerir repetições coletivas organizadas e memorizáveis em torno de um ato. É no âmbito dessa rubrica que Mauss define técnica – nem sempre acompanhada de artigo definido – como um “ato tradicional eficaz” ( Mauss, 2002cMAUSS, Marcel. ([1934] 2002c), Les techniques du corps . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales). , p. 9). 3 3 Todas as citações deste texto, quando não originalmente em português, são traduções livres minhas. As técnicas, como espécie de articulação objetiva da vida coletiva, tornavam-se com Mauss um mote de investigação legítima nos domínios da ciência dos fatos sociais. Provocado pelos cursos de Alfred Espinas (1844-1922), importante figura para os sociólogos do L’Année Sociologique , Mauss tomava “consciência da importância sociológica da tecnologia” ( Bert, 2009BERT, Jean-François. (2009), “De Marcel Mauss à A. G. Haudricourt: retour sur la <technologie>”. Revue d’Histoire des Sciences Humaines , 20 (1): 163-181. , p. 170) e demonstrava o quão possível e inevitável seria promover uma Tecnologia maiúscula , um estudo sistemático e geral das técnicas, no exercício da Sociologia.
Embora essa clássica definição de Mauss, em contraste com os trabalhos de André-Georges Haudricourt (1987)HAUDRICOURT, André-Georges. (1987), La technologie science humaine . Paris, Maison des Sciences de l’Homme. e André Leroi-Gourhan (1993aLEROI-GOURHAN, André. ([1943] 1993a), L’homme et la matière. Paris, Albin Michel. , 1993bLEROI-GOURHAN, André. ([1945] 1993b), Millieu et techniques . Paris, Albin Michel. ), possa ser considerada genérica às pesquisas mais recentes sobre as técnicas – haja vista o avanço tipológico e analítico desenvolvido pelos alunos de Mauss e gerações posteriores –, seu rendimento teórico se tornou quase infatigável. Mesmo que a inserção da Tecnologia como tópico de investigação e de interesse próprio à Sociologia não tenha imediatamente impactado tanto os pensadores sociais – pelo menos não tanto quanto àquele da dádiva ou da noção de pessoa –, tal inserção pôde sustentar décadas de desenvolvimento de uma etnologia das técnicas. O problema da Tecnologia da Sociologia continuou, entre visitas e revisitações à obra de Mauss, sendo uma variação em torno da eficácia com que um corpo só, ou amparado por objetos, poderia operar em ato e além. É inevitável se deparar com o vigor da assertiva de Mauss; exemplos contemporâneos como os escritos de Sautchuk (2007)SAUTCHUK, Carlos. (2007), O arpão e o anzol: técnica e pessoa no estuário do Amazonas . Tese de doutorado. Brasília, UnB. acerca do arpão e o anzol e a revisitação de Schlanger (2006)SCHLANGER, Nathan. (2006), “Technological commitments: Marcel Mauss and the study of techniques in the French Social Sciences”, in N. Schlanger, Techniques, technology and civilization , Oxford, Bergham Books. são finas demonstrações dessa reverberação. Conquanto não tenha sido imediata tal reverberação, seu efeito tardio foi amplo nos ambientes intelectuais europeus – como vemos no fôlego demonstrado na coletânea organizada por Appadurai (1988)APPADURAI, Arjun. (1988), The social life of things . Cambridge, Cambridge University Press. e nas inúmeras pesquisas atreladas à Techniques & Culture .
A definição de Mauss perpetuou como um aforismo de Francis Bacon (2003BACON, Francis. (2003), Novum organum ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza . Pará de Minas, Virtual Books Online. , Livro I) onde, no “trabalho da natureza, o homem não pode mais que unir e apartar os corpos”, repetindo-se assim por décadas, nas Ciências Sociais, que tenham se aproximado da questão das técnicas. A emergência da Antropologia Social como regime disciplinar transnacionalizado parece ter dificultado possíveis oposições ao aforismo de Mauss, provavelmente devido à sua centralidade na disciplina como autor fundamental às epistemologias acionadas pela disciplina antropológica. Creio, contudo, ser possível abrir um caminho alternativo à instauração de Mauss, em relação à Tecnologia , sem destituir sua importância histórico-metodológica nas Ciências Sociais. Esse caminho é o de uma objeção revisionista: e se a Tecnologia inaugurada por Mauss não fosse a única proposta tecnológica nas Ciências Sociais possível de rememorar – e acionar?
Eis a tarefa deste texto: explorar uma objeção à Tecnologia de Mauss. Objeção que, por diversos motivos, não está listada na memória histórico-bibliográfica canônica das Ciências Sociais. Refiro-me à mecanologia de Jaques Lafitte, conterrâneo e contemporâneo das primeiras gerações do L’Année Sociologique . A mecanologia parece ter soado antiquada às Ciências Sociais de seu tempo por dois motivos: por trazer na descrição de seu programa uma crítica indireta à Tecnologia da Sociologia francesa clássica e por sugerir, como meio de exercício de uma ciência social, a investigação dos seres mecânicos, as máquinas. Com essas impressões, este texto explora frações histórico-bibliográficas de um procedimento démodé de uma ciência inteiramente social, diria Lafitte, sobre o reino e a ordenação das máquinas, bem como, indiretamente, aborda a esquiva que parte das Ciências Sociais do século XX, a Sociologia francesa sobretudo, performou em relação às máquinas para restringir teórico metodologicamente o socius .
Se a Sociologia francesa descreveu o socius como um domínio muito mais previsível, antropocêntrico e redundante do que anunciavam suas promessas fundacionais, a mecanologia não a condenou por isso. Conquanto essa Sociologia, responsável pela alcunha da Tecnologia como um aporte legítimo de estudos dos fatos sociais, não estivesse disposta a arriscar os limites do que entenderia – em seus termos de Tecnologia – como social, Lafitte vinha ao seu encontro, consciente de que mecanologia e Sociologia tratava-se de um exercício comum de Ciências Sociais, antes diferenciados pela intensidade e direção de seus experimentos do que pela natureza de suas questões. A Sociologia, como ciência social, não seria experimental o bastante com seus conceitos há pouco formulados na virada do século XX, atendo-se, quase sempre invariavelmente, à mesma direção: às representações; estas embebidas em um romantismo conceitual distante das indústrias e de seus fenômenos de produção objetiva do mundo. A mecanologia viria encontrar o socius por outra via, pelo reino dos seres que sustentam materialmente essa produção objetiva da era das indústrias: as máquinas que transformam e produzem os materiais que nutrem as representações das sociedades industriais. E não só, a mecanologia atentar-se-ia ao fato de que as máquinas, ao transformarem e produzirem, funcionam. E, ao funcionarem, regimentam, interna e externamente, um socius próprio às suas delimitações.
Ao engendrar aqui a revisão de uma ciência social tornada démodé , sepultada, a utilidade analítica deste texto pode ser mais bem compreendida em sua provocação histórico-bibliográfica acerca da originalidade da mecanologia como projeto e demonstração de uma ciência social possível. O caminho que persigo, portanto, é distinto do pavimentado por Mauss e pela Tecnologia da Sociologia francesa clássica, caminho este repleto de incitações pretéritas, capaz de conduzir àquilo que a Tecnologia canônica das Ciências Sociais do século XX, na alcunha de Mauss, evitou: o caminho que levasse às máquinas.
No futuro mecânico do pretérito
E como uma ciência social poderia ter enfrentado as máquinas? Como elas tornar-se-iam o problema objetivo de uma ciência social? Embora se tenha notícia do quão presentes e numerosos se tornaram os estudos em torno dos objetos técnicos nas Ciências Sociais na virada do século XXI, esses estudos 3 3 Todas as citações deste texto, quando não originalmente em português, são traduções livres minhas. parecem ter se comprometido antes com os modos disciplinares que lhes fossem mais convenientes do que com os objetos sobre os quais se debruçaram. Uma ciência social das máquinas, tendo-as por objeto-fim, parece pouco razoável às Ciências Sociais contemporâneas por muitos motivos. Talvez devido às respostas sem consenso à pergunta “o que é uma máquina?”; ou talvez à simples ausência de memória disciplinar de uma “ciência social das máquinas”. Não há, afinal, trajetos confiáveis e conhecidos nas Ciências Sociais que tenham tomado as máquinas como objeto de investigação. Quais problemas socioantropológicos se estabilizaram efetivamente sobre “as máquinas” no decorrer das Ciências Sociais? Os exemplos são raros e aqueles que podem ser enunciados estão no alcance da reverberação de Mauss. O problema final, de importância, tornou-se as técnicas e os atos: tradicionais e eficazes.
Mas houve exceção: a ciência social das máquinas evocada por Jacques Lafitte na primeira metade do século XX. Essa ciência social sem discípulos, sem leitores que não curiosos e interessados, que mantiveram alguma distância das Ciências Sociais, e mesmo certa objeção à Tecnologia da Sociologia – uma contraposição ao exclusivismo do socius aos atos humanos. Fomentada e publicizada no mesmo período em que Mauss era constantemente acionado a responder por sua Tecnologia, a ciência social das máquinas de Lafitte se endereçava à Sociologia francesa. Com ares pouco definidos e bastante experimentais, a mecanologia se mostrava ambiguamente anacrônica e realista.
Por confuso que seja o anacronismo do impulso do engenheiro Jacques Lafitte (1844-1966) 5 5 Cito datas de nascimento e morte para situar autores não centrais neste texto. em constituir sua ciência das máquinas e sugeri-la à Sociologia de seus dias, exibia um programa extraordinariamente viável, com tantas contravenções quanto distinções. Nascia publicamente, em 1932, a mecanologia. Não é possível saber com precisão a que Sociologia Lafitte oferecia e demandava sua mecanologia. Mas as datas de publicação dos escritos de Mauss direta (2002c, 2002d) e indiretamente (2002a, 2002b) relacionados ao mote da técnica sugerem que Lafitte pode ter tomado ciência do interesse e de esboços de Mauss sobre a Tecnologia da Sociologia. É, pois, nesse mesmo tom que Lafitte enuncia a mecanologia como uma ciência social plena, mas das máquinas. As pistas dadas por Nathan Schlanger (2006SCHLANGER, Nathan. (2006), “Technological commitments: Marcel Mauss and the study of techniques in the French Social Sciences”, in N. Schlanger, Techniques, technology and civilization , Oxford, Bergham Books. , p. 15) de que Mauss estaria “indubitavelmente ciente da [importância sociológica] das técnicas e da tecnologia desde de muito cedo” é preciosa na tentativa de aclarar de quem Lafitte talvez esperasse uma corroboração da mecanologia. Mauss escreveu resenhas, na primeira década do século XX, envolvendo o mote da Tecnologia no L’Anneé Sociologique – periódico que, por sua vez, incluía a rubrica technologie –, mesmo sem ter publicado algo sobre o tema. Lafitte provavelmente sabia desse precoce interesse de Mauss; mas sabia Mauss de Lafitte? Creio ser improvável. Mas é igualmente duvidoso que os escritos de Charles Frémont (1913FRÉMONT, Charles. (1913), Origine et évolution des outils . Paris, Société d’Encouragememt pour l’Industrie Nationale. , 1928FRÉMONT, Charles. (1928), Les outils, leur origine, leur évolution . Paris, Tardy. ) sobre a evolução das ferramentas tenham sido os únicos aportes tecnológicos conhecidos por Marcel Mauss e Henri Hubert. Afinal, tiveram ciência dos escritos de Lafitte nomes como Julien Pacotte, 6 6 Não há informações sobre as datas de nascimento e morte de Julien Pacotte, contemporâneo dos demais autores. Louis Weber (1866-1949), Henri Lefebvre (1901-1991), Raymond Ruyer (1902-1987) e Pierre Ducassè (1905-1983); por que não os teriam conhecido os sociólogos do L’Année Sociologique ?
O programa de uma Tecnologia axiomatizada pela Sociologia esteve presente na Sociologia francesa antes mesmo da oficialização instrucional do projeto de Sociologia comparada de Mauss – claramente exibida no Manual de etnografia, resultado de compilações de anotações suas de aulas entre 1926 a 1939. Mesmo como ficção, o endereçamento da mecanologia à Sociologia francesa é importante pelo menos como uma pista de fins retóricos. Por quê? Porque o silêncio entre esses escritos é, no mínimo, estranho. Em um momento de tão intensa produção de resenhas entre as Ciências Sociais emergentes – sobretudo entre as socioantropologias francesas, alemãs, inglesas e norte-americanas –, por que a mecanologia teria passado despercebida? As datas próximas entre as publicações de Lafitte e Mauss e os interesses comuns em teoria social e técnica sugerem ao menos como possível um diálogo crítico entre a mecanologia e o programa da Tecnologia da Sociologia francesa. 7 7 Curiosamente André-Georges Haudricourt, ilustre aluno de Marcel Mauss, estava ciente de Lafitte. Em sua obra sobre tecnologia, dedicada a Mauss, escreve no prefácio: “[para compreender] as máquinas, é preciso que as consideremos enquanto fatos sociais” (Haudricourt, 1987, p. 30). Afinal, a mecanologia não convocava a Sociologia apenas para um debate pró-forma. O interesse disciplinar de Lafitte era o de tornar a mecanologia uma ciência social fiável. Precisava, para isso, de um rigoroso modelo capaz de demonstrar um programa experimental e transformá-lo em um modelo de experimentação; não era a Sociologia a ciência mais próxima disso? 8 8 Quando se fala em Sociologia francesa, principalmente daquela atrelada à emergência de Émile Durkheim, não se fala de uma disciplina e sim de um “corpus do conjunto das ciências sociais, a ciência social por excelência que englobaria [todas as outras]; [a sociologia é] acima de tudo um método […]. Não seria preciso ser sociólogo para fazer sociologia” ( Peixoto, 1991 , p. 48).
Afinal, qual ciência poderia fornecer estruturas de análise, descrição e normatização de um funcionamento humano articulado de uma só vez? A Sociologia seria mais do que um molde para mecanologia; em uma ciência das máquinas, “[sem dúvida] a via sociológica [deve ser a] dominante” ( Lafitte, 1933LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158. , p. 145) . Incutida de esmero e capacidade de complexificação na descrição de leis, a Sociologia almejada por Lafitte parecia mais revolucionária do que aquela produzida pelos sociólogos de seu tempo. Não houve, exceto as já citadas produções de Mauss, interesse por parte dos sociólogos na mecânica industrial, tampouco na descrição e na normatização das máquinas presentes no cotidiano público e privado das populações industriais. Para a Sociologia contemporânea de Lafitte, o problema industrial estava atrelado aos extensos problemas do trabalho (Durkheim, 2008) e da economia ( Weber, 2002WEBER, Max. ([1905] 2002), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales). ), ficando o maquinário distribuído a alguns comentários complementares, como se fossem as máquinas casos passivos de manutenção e aprimoramento social. Mesmo os apontamentos de Werner Sombart (2005)SOMBART, Werner. ([1911] 2005), “Technology and culture”, in C. Adair-Toteff, Sociological Beginnings , Liverpool, Liverpool University Press. , que localizavam as máquinas em um tecido infrassociológico, concluíam-se em uma equação similar onde maquinaria e Economia estariam permanentemente em conflito pela determinação soberana de seus efeitos. 8 8 Quando se fala em Sociologia francesa, principalmente daquela atrelada à emergência de Émile Durkheim, não se fala de uma disciplina e sim de um “corpus do conjunto das ciências sociais, a ciência social por excelência que englobaria [todas as outras]; [a sociologia é] acima de tudo um método […]. Não seria preciso ser sociólogo para fazer sociologia” ( Peixoto, 1991 , p. 48).
Com um livro publicado em 1932 pela Vrin e um artigo, no ano seguinte, na Revue de Synthèse (1933) – ambos empenhados na enunciação da mecanologia –, não há rastros de citações ou resenhas dos escritos de Lafitte (1933LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158. , 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. ) por parte dos intelectuais direta ou indiretamente ligados à Sociologia francesa nos anos seguintes. A retomada da mecanologia de Jacques Lafitte ocorreria apenas na década de 1950 por Gilbert Simondon (2008SIMONDON, Gilbert. ([1958] 2008), Du mode d’existence des objets techniques . Paris, Aubier. , p. 48) como oportunidade de um estudo focal e minucioso do objeto técnico. Embora tenha Simondon levado o vocativo da mecanologia adiante, negligenciou o fato de a mecanologia, originariamente, ser um caso de ciência social, mais especificamente de uma Sociologia das máquinas. Não é raro, por isso, que Jacques Lafitte seja lembrado por meio de Simondon como uma espécie de precursor, como um esquecido tecnólogo das humanidades, responsável pela inspiração maior dos esforços intelectuais de Simondon. Conquanto seja factual a presença de referências diretas à mecanologia nos escritos de Simondon, é importante notar que Lafitte não fora precisamente citado por Simondon. Referências diretas de Simondon a Lafitte aconteceram assistematicamente em alguns cursos como matéria estritamente informativa ( Simondon, 2005SIMONDON, Gilbert. ([1968] 2005), L’invention et les développement des techniques . Paris, Seuil. , 2014SIMONDON, Gilbert. (2014), Sur la technique (1953-1983). Paris, PUF. ). A forte combinação teórico-epistemológica entre Simondon e Lafitte foi, de fato, constituída por comentadores e entusiastas da obra de Simondon (2008SIMONDON, Gilbert. ([1958] 2008), Du mode d’existence des objets techniques . Paris, Aubier. , prefácio; Mitcham, 1994MITCHAM, Carl. (1994), Thinking through technology . Chicago, Chicago University Press. , p. 34) e não propriamente pelo autor. 9 9 Note-se que Karl Marx em seus escritos e esboços para a composição de O capital fora exceção, tendo realizado estudos de maquinários. Se considerados canônicos, tais estudos sugerem que a maquinaria no escopo de Marx não se tornou central antes por uma incompletude de sua obra do que por franco desprezo.
Insisto no fato de que uma rememoração ajustada da mecanologia – e de Jacques Lafitte – como flexão histórico-bibliográfica culmina em um exercício de ciência social pretérita. Explico: não se trata de clamar por uma ciência social no “futuro do pretérito”, mas sim reclamar analiticamente questões histórico-bibliográficas relevantes para a crítica e a experimentação nas Ciências Sociais. Pois, apesar de ter sido, a mecanologia, um ensaio de Sociologia – nos termos de uma ciência social –, rigoroso em sua circunstância epistemológica, foi dissidente quanto ao objeto de seu exercício. A mecanologia tem menos o que disputar por seu status de procedimento sociológico e mais a oferecer como uma ciência social experimental, materialmente demarcada. Por que não seriam, as máquinas, sociais?
A mecanologia não vinha como retífica da Sociologia, vinha como um esforço objetivo simpático ao mote da disciplina acompanhado da renúncia de seu objeto humano. O gênero do objeto da mecanologia fora distinto o suficiente para que da Sociologia pudesse ela mesma se apartar em alguma medida. Afinal, a humanidade não é objetivamente uma maquinaria stricto sensu . Mas a mecanologia seria suficientemente sociológica, como epistemologia, para que um sociólogo que estudasse as máquinas se tornasse, durante e ao fim de sua investigação, um mecanólogo. Afinal, como poderia uma Sociologia da virada do século XX, feita com as máquinas, não se tornar um conhecimento objetivo das máquinas submetidas à investigação? Toda Sociologia das máquinas seria necessariamente uma apreciação da mecanologia. A mecanologia seria uma contra -Sociologia na acepção latina do termo: mantinha a Sociologia em seu horizonte para não a perder de vista.
A “mecanologia é uma ciência social. Ciência dos corpos organizados construídos [pela humanidade], [e como tal] parte extremamente importante da sociologia” ( Lafitte, 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. , p. 109). Em 1932, era impresso Réflexions sur la science des machines pelo periódico Cahiers de la Nouvelle Journée , ligado ao Partido Democrático Popular francês, tendo como suplemento o texto “Les idées et les livres”, assinado por René Aigrain (1886-1957), Paul Archambault (1883-1950), Jean Soulairol (1892-1959) e Gaston Rabeau (1877-1949). Embora não performe um manifesto, nascia a mecanologia em um periódico de importante circulação, suplementada por um texto repleto de corroborações do pragmatismo de Maurice Blondel (1861-1949). Um texto como o de Lafitte, de proposições bastante específicas, não teria sido aleatoriamente publicado por Paul Archambault, então diretor do periódico. Havia algo de incomum nos escritos de Lafitte que o tornava um tipo raro de tecnólogo e escritor. Seu interesse como cientista social não fora o de levar um grande paradigma teórico além, tal como fizera a Sociologia canônica de seu tempo, mas sim de emplacar um propósito: a descrição e a concepção analítica das máquinas, um propósito similar àquele da fundação da cinemática, elaborada por Franz Reuleaux (1829-1905). Poder-se-ia dizer, sem grandes ressalvas, que Lafitte formulou a mecanologia mais próximo ao problema alemão da Technikphilosophie , de Reuleaux – onde o funcionamento do mecanismo é a importância – do que àquele da technologie , de Alfred Espinas (1897)ESPINAS, Alfred. (1897), Les origines de la technologie . Paris, Félix Alcan. , precursora da questão de Mauss – onde o contexto do mecanismo é a questão. Lafitte, dessa perspectiva, sugeriria problemas objetivos que pouco poderiam contribuir com o paradigma teórico da Sociologia francesa. Sua contribuição se concentrou na elucidação de outro reino, do reino das máquinas, cuja existência poderia ser descrita sem a direta supremacia social do reino dos humanos.
Mas a Ciência Social das máquinas pretendia ser mais do que uma coincidência de investigação entre reinos. Se a ambiguidade da mecanologia como Sociologia talvez pudesse parecer incômoda aos teóricos sociais contemporâneos de Lafitte, a distinção do exercício mecanológico seria, por sua vez, exemplar aos tecnólogos alemães do século XIX: não caberia à mecanologia outra tarefa senão aquela do detalhamento cauteloso do reino dos mecanismos. Eis sua limitação: incapaz de abordar a fisiologia humana “verdadeiramente sociológica” ( Comte, 2002COMTE, Auguste. (2002), Système de politique positive: extraits des tomes II et III du système de politique positive publié entre 1851 et 1854 . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales). , p. 27), a mecanologia não oferecia uma história geral das máquinas ou sequer uma assertividade sobre seus estatutos existenciais. O que ela oferecia eram extrações descritivas de partes suficientes de certa série histórica das máquinas, a fim de alocá-las, paralelas às variações sociológicas humanas, como demonstrações dos encadeamentos materiais objetivos pelos quais a humanidade marca seus períodos de vida coletiva.
Ao não refletir sobre essa fisiologia humana – da sociedade –, a mecanologia sugeria um conhecimento de seres que, embora fisiologicamente distantes da humanidade, eram organologicamente responsáveis pela repetição multiescalar de tarefas das quais os corpos humanos puderam se ausentar. Não foi a indústria, a nova maquinaria em vias de automação, a substituta mecânica efetiva de diversos esforços da humanidade? Algo foi delegado à maquinaria: tocar, moldar, escoar a matéria bruta em quantidades e qualidades das mais diversas. Tornou-se a maquinaria progressivamente tão apta a ocupar funções a ponto de que mesmo um sensato engenheiro pudesse se esquecer de funções outrora adequadas à humanidade, delegando-as imediata e naturalmente às máquinas. Se a maquinaria progride como substituta e ampliadora da função material da vida humana, não progrediria também como fundamento de sociedade? Conhecer as máquinas é rastrear a produção material das sociedades. As máquinas não são a humanidade, mas é a humanidade alguma coisa sem as máquinas? A preocupação metodológica de Durkheim parece admitir facilmente a paráfrase sociológica de Lafitte.
Um povo [ou máquina] que substitui outro[a] não é um simples prolongamento do[a] anterior com o acréscimo de alguns caracteres novos; é diferente, ora tem propriedades a mais, ora a menos; constitui uma nova individualidade e todas estas individualidades distintas não podem se fundir numa mesma série contínua, nem sobretudo numa série única (Durkheim, 1977, p. 18).
Se as máquinas são partes excorporadas da humanidade, por que deveriam ser compreendidas como acontecimentos lineares e homogêneos? Se, afinal, “todo acréscimo no volume e na densidade dinâmica das sociedades […] modifica profundamente as condições fundamentais da existência coletiva” (Durkheim, 1977, p. 100). Lafitte sabia da imprecisão de Durkheim ao tratar das condições materiais objetivas como fatos sociais. Se Durkheim apostou na ênfase intelectualista acerca da matéria produtiva humana – embora objetivista diante dos fenômenos da divisão social do trabalho e da morfologia social –, Lafitte cuidadosamente inseria a mecanologia como um aproveitamento de episteme e método em outros termos: é preciso considerar as máquinas, a infraestrutura mecânica articulada, como coisa e não como conceito ou fenômeno genérico. A Sociologia francesa emergente, dessa perspectiva, traía parte de seu método: como poderia tratar os objetos fundamentais da indústria e da vida material produtiva humana como corolários indiferenciados da existência coletiva? Por que os tratava como um apanhado de efeitos colaterais da regimentação da vida coletiva – haja vista a questão da divisão do trabalho social ? Lafitte é assertivo: a Sociologia abordava assim esses fenômenos técnicos porque não era ainda capaz de ver a maquinaria como coisa , estando ela para essa ciência quase sempre condicionada a ideias e conceitos apartados de descrições da “realidade dos fenômenos que as exprimem” (Durkheim, 1977, p. 24). A Sociologia ignorava, portanto, sua lição fundamental: que a existência coletiva é uma hipérbole da morfologia social – ver o diálogo entre L’Année Sociologique e as obras do geógrafo alemão Friedrich Ratzel. 10 10 A lista de autores responsáveis por tal conjunção é extensa e crescente; nomes como Xavier Guchet, Vincent Bontems, Jean-Hugues Barthélémy, Pascal Chabot, Gilbert Hottois e Bernard Stiegler ilustram bem a referida questão. Para um panorama sobre os enlaces entre Lafitte e Simondon, ver o periódico francês Cahiers Simondon . Se são as máquinas mecanismos de compactação, manutenção e alteração da morfologia social, deveriam ser assim compreendidas e sociologicamente observadas em suas constituições sui generis .
A mecanologia configurava, assim, um estudo de constituição das espécies das máquinas; se não há humanidade sem maquinaria, haveria mecanologia não sociológica? Um “encaminhamento em direção à parte verdadeiramente explicativa da ciência” (Durkheim, 1977, p. 78) deveria ser a descrição morfológica e funcional das máquinas, tal como se apresentam na densidade de suas existências materiais. São elas mecanismos de estabilização e modificação inevitáveis à morfologia social humana.
Os modos da mecanologia
“Mais educados para construir do que para conhecer” ( Lafitte, 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. , p. 18), os imprescindíveis técnicos modernos fariam avançar o progresso logístico e industrial mesmo sem implicar teórico e analiticamente suas atividades. Lafitte enfatizava: elaborar uma pragmática de certa atividade não é integrá-la no curso de sua realização. Isto é: o engajamento pragmático de uma atividade técnica, seja ela majoritariamente realizada por um corpo humano ou não, não é conhecimento semântico da atividade técnica. A marca teórico-analítica de Lafitte insistia no fato de que a atividade técnica excederia a semântica do conhecimento técnico. Ou seja, que uma Sociologia da engenharia – ou vice-versa – estaria ainda muito longe do entendimento sociológico das máquinas. Dito isso, aonde queria chegar Lafitte? Ao aporte de um modo social mecânico de operação no mundo: ao desempenho da atividade técnica como instante e âmbito de gênese social.
E por que a engenharia não poderia fazê-lo? Não seria a engenharia, como conhecimento lecionável, capaz de habilitar um trabalhador no desempenho de uma atividade técnica com o intuito de mantê-la e reproduzi-la em suas devidas circunstâncias? Certamente. Mas seria ela capaz de tornar a atividade técnica em si uma questão sociológica a respeito dos seres que promovem e possibilitam as atividades técnicas? Lafitte é cético, porque, para uma acepção sociológica da atividade técnica, seria necessário alcançar os seres técnicos de modo a compreendê-los objetivamente da forma mais condensada possível, para que se estivesse diante de uma existência radical e inevitavelmente outra. Esse condensado objetivo, o ser técnico, a máquina, é o âmbito onde um momento social singular pode ser observado: quando toda estrutura precisa ser também função.
Martin Heidegger proferiria sua célebre conferência sobre “a técnica” em 1953 e emplacaria o vocativo de que a “técnica seria um meio para fins” ( Heidegger, 2007HEIDEGGER, Martin. (2007), “A questão da técnica”. Scientiae Studia , 5 (3): 375-398. ). Com amplo rendimento e como uma consideração relativamente canônica sobre “a técnica”, Heidegger encaminharia o debate para a metafísica e se afastaria de uma objetividade radical, que pudesse ser evocada como “a técnica”. Lafitte, décadas antes, longe da metafísica e da Filosofia, buscava enfrentar e legitimar objetivamente as máquinas como seres radicalmente e inerentemente técnicos. Que existência estranha e inescapável é essa da atividade técnica quando à luz das máquinas? Elas funcionam e fabricam pedaço a pedaço o mundo contemporâneo e determinam – mesmo que subordinadas ao cronograma produtivo da humanidade – o arranjo mecânico dos modos de vida dos humanos na era da indústria. As máquinas são, no fundo, um absurdo: tão absolutamente integradas ao ambiente de vida humano que mal conseguem ser percebidas em suas diferenças existenciais. A humanidade não é maquinaria e vice-versa . Por que então tratar a maquinaria com tamanha indiferença, a ponto de lhe conceber observações puramente burocráticas da perspectiva das tarefas demandadas pelo desejo humano? Eis a incapacidade da engenharia e mesmo das apreciações teóricas sobre as máquinas: não transbordam a semântica de que as máquinas obedecem a um propósito, e, quando o fazem, fazem para fora da matéria, dispersando a indagação. Mas quando é possível adensar tal semântica e enfrentar a pragmática desses seres que habitam, viabilizam e modulam objetivamente os modos de vida dos povos, estar-se-ia à beira de uma oportunidade científica: um estudo de numerosos grupos marginais, determinantes à vida humana e, portanto, fatos sociais de nossa era.
Como poderia uma Sociologia verdadeiramente científica ignorar a densidade e a gravidade do fato de que as máquinas são fundamentais à norma em uma era industrial? Como seria possível não realizar, portanto, uma ciência social das máquinas? Como não emplacar franca observação à máquina como notável condensado objetivo da era industrial?
Em 1932, Lafitte apontava em seu Réflexions sur la science des machines diversas implicações sobre as máquinas que não envolviam apenas apreciações científicas de suas funções, quer fossem específicas ou genéricas, e tampouco de uma anotação humanística em torno da subordinação dos seres mecânicos – o que apontaria Simondon (2008SIMONDON, Gilbert. ([1958] 2008), Du mode d’existence des objets techniques . Paris, Aubier. , p. 119) décadas mais tarde. A mecanologia então exibia seu programa de investigação social dos seres mecânicos.
[A] mecanologia não se propõe à descrição das máquinas e nem o estabelecimento de uma história. Ela se propõe, exclusivamente, à extração de cada parte suficientemente elaborada de certa história, do conhecimento geral das leis e das causas que determinam a existência das máquinas. Ela se propõe à explicação de diferenças que se observam entre as máquinas, colocando assim o problema de sua existência ( Lafitte, 1933LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158. , p. 146).
A mecanologia seria um esforço efetivamente sociológico de compreensão e descrição analítica da existência coletiva das máquinas: como espécie, as máquinas em sucessões de articulações e regimes oferecem ao analista quadros de coesão observáveis. Mas antes de prosseguir, sigo o caminho de Lafitte e apresento um corpo de tentativas anteriores que, segundo o autor, anunciavam indiretamente a necessidade da mecanologia enquanto ciência social. Julgadas importantes e esclarecedoras na compreensão da mecanologia, Lafitte comenta alguns esforços precedentes como ensaios introdutórios sobre a complexidade dos seres mecânicos, classificando tais esforços em dois blocos: a (i) arte de construir máquinas e a (ii) mecanografia.
A arte de construir máquinas, também nomeada por Lafitte como artes mecânicas, seria aparentemente a mesma atividade pré-científica que despertou a atenção de historiadores da técnica e da tecnologia, constituindo uma narrativa de história da técnica e da tecnologia complexa e de extensa literatura ( Gille, 1978GILLE, Bertrand. (1978), Histoire des techniques . Paris, Gallimard. ). Apesar de Lafitte reconhecer a importância das atividades imaginativas da concepção das máquinas, acompanhada de sua realização material, para uma real ciência das máquinas, as artes dos arquitetos, engenheiros, artesãos e dos inventores não determinariam efetivamente a existência das máquinas. A invenção não trata, reiterava Lafitte, do funcionamento objetivo: em sua maioria, as artes mecânicas promovem suas máquinas como produtos estéticos de aperfeiçoamento formal. Apesar de fundamentais ao desenvolvimento das máquinas, as artes mecânicas parecem mais dependentes de suas concepções do que de suas normas funcionais. Por exemplo: um arquiteto moderno parece continuar muito próximo de um arquiteto empreendedor do século XVII em busca da disseminação de um estilo e sua forma – não é esse o exemplo de Le Corbusier? E não passam as máquinas pelo estilo e pela forma? Absolutamente. Mas seriam a arquitetura e os arquitetos os produtores objetivos das máquinas? Não. É, contudo, por intermédio de suas artes que a harmonia do edifício – e os debates sobre seus critérios – e a forma como componente abstrato de uma obra edificada emergem enquanto passo aplicado da invenção (Lafitte, 1972, p. 36). É preciso lembrar: ainda se está, nas artes mecânicas, mais perto da paixão e da busca teórica sobre a forma do que da viabilidade objetiva das máquinas. Se as artes mecânicas foram os primeiros esforços ocidentais de entendimento das máquinas, foram – e assim continuam – sobretudo esforços pontuais de imaginação intimamente ligados à arte de conceber e à arte de realizar materialmente. Todos, porém, dependem mais da adequação estilística da forma imaginada do que do funcionamento objetivo da invenção.
Algo distinto teria sido feito por aquilo que nomeou Lafitte de mecanografia. Elencam-se com neste bloco: (i) pesquisas históricas sobre as máquinas; (ii) pesquisas descritivas sobre elaboração e emprego de técnicas diversas; (iii) pesquisas classificatórias das funções das máquinas e seus mecanismos. Embora reúna as três, Lafitte reforça que são pesquisas até então apartadas, sem vínculos claros entre si: Félix Cardellach (1875-1919), importante arquiteto e engenheiro catalão do início do século XX, não conhecera, por exemplo, os trabalhos descritivos de técnicas elaborados pela etnografia alemã do fim do século XIX, como os de Franz Boas (1858-1942). Mas Cardellach teria contemplado e complementado as intuições de descrição das técnicas sugerida pela etnografia alemã com seu Filosofía de las estructuras , publicado em 1914. Lafitte arrisca tais conexões querendo demonstrar que uma ciência das máquinas parecia rondar diversas ciências sem obter a forma adequada para se instaurar como tal. Mas a mecanografia fora útil para o reconhecimento das máquinas e para uma compreensão extensiva das técnicas. A prova disso teria sido a amplitude de trabalhos consideráveis como mecanográficos: da cinemática de maquinários de Franz Reuleaux (1925-1904) e Gabriel Koenigs (1858-1931) até investigações sobre técnicas manuais e civilização como as de Augustus Pitt Rivers (1827-1900), Friedrich Ratzel (1844-1904) e Otis Tufton Mason (1838-1908). Não foi, porém, a mecanografia uma ciência: tratou-se de um encontro relativamente concentrado do interesse de ciências emergentes em torno da atividade material industrial e pré-industrial da humanidade; careceria de método unificado e de consenso sobre seu objeto. Os estudos mecanográficos não conseguiram promover uma ciência das máquinas: surgem elas em tais pesquisas como suplementos analíticos para ressaltar uma importância maior atrelada aos grandes motes da variação humana e suas indústrias.
A mecanologia seria a superação das incompletudes desses esforços precursores. Lafitte não se alonga: um programa científico dos corpos organizados construídos pela humanidade (Lafitte, 1972, p. 54), que não se tornasse apenas um instrumento de criação, classificação e aperfeiçoamento desses corpos. A mecanologia seria uma ciência apartada, capaz de identificar a norma coletiva desses seres e nisso estabelecer sua objetividade. Uma ciência orientada por um programa capaz de investigar: (i) diferenças formais, (ii) diferenças estruturais, (iii) diferenças funcionais, (iv) diferenças na organização e (v) explicação da gênese dos tipos mecânicos. Direções de investigação que, se feitas separada ou conjuntamente, concretizariam o mote maior dessa ciência: um estudo da existência coletiva das máquinas. Eis a “ciência normativa e efetiva das máquinas” ( Lafitte, 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. , p. 34), responsável por reconhecer sinteticamente os corpos plásticos que possibilitam ao mundo produtivo humano diferentes escalas de velocidade e precisão sobre a matéria trabalhável. 11 11 Ver edição de 1898-1899 do periódico, seção Morphologie sociale .
E, para conhecer tais corpos, é preciso cindi-los em categorias para melhor apreender suas funcionalidades. Lafitte expõe divisões para o exercício analítico da mecanologia em seu artigo de 1933 – buscando, provavelmente, defender-se de críticas aos seus escritos de 1932 e refinar sua exposição sobre a mecanologia. A divisão demonstrada por Lafitte em 1933LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158. é a mesma exposta nos escritos de 1932, exceto pela ausência de longos paralelos sociológicos presentes em 1932. Declarava: as máquinas podem ser classificadas em três grandes massas primárias da perspectiva de seus funcionamentos, grosso modo: (i) máquinas reflexivas, (ii) máquinas ativas e (iii) máquinas passivas.
As máquinas reflexivas são aquelas dotadas de um processamento elaborado. São corpos organizados refletores de estímulos: recebem, processam e geram equivalentes parametrizados para estímulos incidentes; máquinas, portanto, capazes de resposta. São máquinas capazes de garantir a unicidade de seu funcionamento pelo acionamento cíclico de uma função compatível com a manutenção da integridade física e/ou energética da máquina. Possuem graus de diferenciação interna que, sob um princípio unificador, delineiam e estabelecem margens de movimento para o ciclo funcional. São fundamentalmente máquinas transformadoras, que comportam diferenças seguras entre o regime funcional, a alimentação (energia) externa e meios sensíveis de orientação parcial de seu ciclo (momento e/ou espaço de operação). Possuem autonomia em relação ao funcionamento interno, pois são máquinas de reação própria e específica, mas permitem, como todas as máquinas, que haja um operador humano na orientação espaço-temporal de seu funcionamento externo. Um exemplo de máquina reflexiva é o motor regulável: funciona segundo um regime interno e se resolve com excesso ou falta de combustível junto à sua temperatura atual. Toda a sua constituição se baseia, majoritariamente, na organização de sensibilidades e, portanto, de uma adaptação determinada: quanto de combustível deve ser consumido e qual a proporção de aumento do ciclo em cada taxa de injeção. O operador humano pode, perante o funcionamento de um motor, alterar a intensidade da injeção, mas não o princípio ou a direção funcional interna da máquina. Pois são fundamentais ao ciclo funcional as diversas partes de relativa unidade em prol do funcionamento: uma máquina reflexiva é uma organização maior de composições interdependentes que possuem contida margem de respostas autônomas adaptáveis ao seu ambiente de funcionamento.
As máquinas ativas são aquelas dotadas de um processamento simples. São corpos organizados, transmissores de estímulos: recebem um estímulo incidente que pode se incorporar ao estímulo de saída também como fonte de energia. Trata-se de máquinas compostas por partes diferenciadas que possuem encadeamentos lógicos irreversíveis: o estímulo incidente possui uma progressão direcionalmente irretratável. Máquinas ativas têm um sistema central de transmissão de fluxo e seu ritmo funcional depende integralmente da intensidade do fluxo, variável somente em intensidade. A autonomia de seu funcionamento é grande, mas a variação e a margem de direcionamento deste pode comprometer o ciclo funcional. Uma máquina ativa não é um corpo suficientemente organizado como unidade sólida: depende da constância externa para que sua função esteja assegurada, misturando, ao longo do ciclo, fonte de energia e estímulo incidente. Dependem do operador não só como orientador espaço temporal, dependem do operador como ativador e alimentador para que atinjam funcionamento pleno e uniforme. São as máquinas-ferramenta bons exemplos de máquinas ativas. Um torno mecânico, por exemplo, funciona na rotação que o arranjo de energia lhe condiciona; não há regulação interna que promova margem de utilização diferenciada. É sobre a rotação ótima que o operador direciona ferramentas ou objetos, não é a partir do funcionamento adaptável da máquina que o operador realiza seu trabalho. A máquina engendra seu funcionamento de modo constante e exclusivamente interno; estímulos externos que possam frenar ou acelerar seu ritmo de funcionamento não são processados como variáveis para adaptação do ciclo funcional, mas sim como obstáculos e fatores de resistência nocivos ao ótimo funcionamento: à constância interna.
As máquinas passivas são dotadas majoritariamente de resistência, constituindo-se como suporte e condutoras de estímulos. São corpos incapazes de processar fluxos de energia externos: não possuem ciclo funcional ou ritmo de organização interna. Cada máquina passiva pode ser uma massa monolítica que ampare outras máquinas, não configurando, contudo, um corpo organizado com partes criticamente interdependentes. São máquinas difusas, sem coesão articulada ou unidade fundamental. Não podem modificar seus regimes de funcionamento, porque assíncronos, e tampouco pode um operador humano alterá-lo significativamente. Alterar o funcionamento de uma máquina passiva significa remodelar sua massa para que indiretamente a forma remodelada possa oferecer outra funcionalidade estática. Cabe ao operador orientar seu uso em relação ao ambiente em que se encontra a máquina passiva, estando o interior da máquina fora do alcance dessa orientação. As máquinas passivas não são máquinas compostas, dependem da ação ambiental para que se tornem suporte de estímulos e, assim, conquistem funcionalidade. Uma casa, por exemplo, é uma máquina passiva: oferece, assente em sua massa objetiva, a possibilidade de interromper o fluxo da chuva, da irradiação solar, proporcionando abrigo. Sua funcionalidade está em ser sólida, imóvel, resistente e preenchível. Seu interior funcional nada mais é do que sua densa constituição geométrica. Para alterar a funcionalidade de uma máquina passiva é necessário alterar a forma do corpo que lhe constitui, de modo que a relação desse corpo com os estímulos externos incidentes sejam enfrentados (ou absorvidos) de certa maneira. São máquinas estáticas e possuem como funcionamento a reação de estímulos ambientais incidentes sob suas propriedades materiais e geométricas.
Há uma tendência entre essas três divisões no programa da mecanologia: organizam-se das mais coesas para as menos coesas. Lafitte talvez tenha, nesse ponto, cravado seu trunfo: as máquinas regimentam internamente a coesão que o uso externo lhes demanda. Dito de outro modo, as máquinas produzem, em si, uma ressonância da coesão de uma sociedade que lhe permite existir individual e coletivamente. Logo, explorar a existência das máquinas é explorar um degradê de complexidades entre coletivos mecânicos e orgânicos.
Volto às máquinas: as máquinas reflexivas são aquelas dotadas de interior autorregulável, enquanto as máquinas ativas não se garantem como sólidas unidades funcionais e as máquinas passivas não oferecem ressonância interna como princípio funcional. As máquinas reflexivas comportam uma independência e demonstram isso: não são funcionalmente determinadas por um operador ou estímulo externo, mas à adaptação articulada de seu ritmo interno. Na passagem das máquinas reflexivas para as máquinas ativas e, então, para máquinas passivas, além de um decréscimo de solidez unitária em relação ao funcionamento, é notável que o critério de classificação de Lafitte seja aquele do controle de velocidade que cada máquina consegue reger entre seus componentes para estabelecer um funcionamento destacável.
Lafitte (1933LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158. , p. 152) não avança muito na classificação porque insiste que a série mecanológica “não é linear e tampouco igualmente nuançada”, devendo receber ao longo da expansão e do refinamento do exercício da mecanologia severas modificações que a observação dos modos produtivos e existenciais das máquinas imponham a essa ciência social. Pois não são elas, as máquinas, um complexo problema de evolução? Os modelos classificatórios da mecanologia não seriam muito mais do que a exposição da necessidade de observação direta e cotidiana dos tipos e funcionamentos das máquinas de certo momento evolutivo. Descrever momentos técnicos específicos é classificar pontualmente um momento social desses seres. Cada classificação serve como entendimento da evolução dos seres mecânicos enquanto quadro socialmente significante sobre o suporte de vida dos seres humanos e o uso modular do ambiente em que dispuseram suas máquinas. Portanto, um quadro mecanológico – sempre historicamente específico – não é um modelo aplicável a toda nova apreciação mecanológica: a utilidade das descrições mecanológicas está em oferecer diretrizes limitadas a um diagnóstico de curto alcance sobre a coesão da maquinaria de determinada sociedade.
Note-se que, apesar de provisórias essas divisões primárias, elas se tornaram atalhos para que Lafitte demonstrasse a mecanologia como um modo descritivo da complexidade entre função e unidade das máquinas da perspectiva não de seus cálculos de engenharia constitutiva, mas da perspectiva das distâncias estabelecidas na série mecanológica – formais e funcionais –, que garantem ao uso humano das máquinas viabilidade e variabilidade. Se não haveria entre os humanos uma analogia universal entre suas máquinas, haveria por outro lado um condicionamento geral de todos os humanos às suas máquinas. Ao contrário do que desejaram fazer Leroi-Gourhan (1965)LEROI-GOURHAN, André. (1965), Le geste et la parole II: la mémoire et les rythme . Paris, Albin Michel. , Charles Parain (1979)PARAIN, Charles. (1979), Outils, ethnies et developpement historique . Paris, Terrains. e Lewis Mumford (1934)MUMFORD, Lewis. (1934), Technics and civilization. Nova York-Harcourt, Brace and Company. , Lafitte não esteve interessado na produção de panoramas de linhagens técnicas acerca do desenvolvimento material humano. O interesse de Lafitte era mecanológico porque sociológico: ansiava um modo de descrição de fenômenos singulares sintetizadores do estado atual do funcionamento objetivo de “nossas cidades, nossas fábricas e nossos agrupamentos mecânicos” (Lafitte, 1933, p. 152). Se a sociedade é “um tipo de matéria indefinidamente maleável e plástica” ( Durkheim, 2002DURKHEIM, Émile. ([1905] 2002), Sociologie et sciences sociales . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales). , p. 7), necessária para a composição da existência coletiva, o que faz a mecano- logia senão organizar analiticamente uma massa plástica capaz de alterar o regime produtivo material da vida coletiva mecânica e, consequentemente, humana? As máquinas são uma massa plástica, uma sociedade inorgânica que exprime coesão e oferece elementos de análise sobretudo morfológica, tal como um tecido social orgânico.
A mecanologia poderia ser engendrada de diversas maneiras, em variadas escalas. Mas sua especificidade como ciência social parece limitar – impor um propósito a – todas as suas possíveis variações. A mecanologia não deveria ser mais ou menos do que uma analítica da coesão das máquinas. É latente sua univocidade: as máquinas se mostraram tão aptas a suplantar em escala e extensão as atividades produtivas humanas a ponto de se tornarem em algumas sociedades – como no caso das sociedades da era industrial – um estrato fundamental do regime produtivo material humano. Uma máquina, adverte a mecanologia, jamais seria apenas uma máquina: seu interior e seu exterior configuram o vínculo de produção irrevogável para a existência de uma era, de um modo de existência coletiva orgânica e inorgânica. Como podem esses seres mecânicos conduzir tão visceralmente suportes da vida coletiva humana? Lafitte, evocando constantemente o teor de ciência social da mecanologia, reiterava: porque as máquinas são associações, conjunções, aglomerados que precisam manter a norma e não existem senão diante da função de equalização de disparidades objetivas e materiais no tecido coletivo que habitam. Na medida em que as máquinas, entre si, estabelecem complexas ordens coletivas, modelam e equalizam as imperfeições materiais que as sociedades humanas apreenderam a desejar como viável. O que é aliás o funcionamento de uma máquina senão a expressão processual de sua norma e a exibição do que oferece como coesão a outras máquinas e à vida coletiva humana enquanto mecanismo útil? A vida coletiva de uma sociedade humana está na ordem coletiva de suas máquinas – e vice-versa .
A ordem de coesão das máquinas é tão densa e complexa que suas constituições são casos exemplares de coesão: o que é um indivíduo máquina senão uma coletividade de elementos máquina? Por exemplo: (i) uma máquina reflexiva articula um sistema de transformação energética e um sistema de sensibilidades diferenciais em seu interior, criando uma margem de variação de seu funcionamento responsiva ao ambiente de funcionamento, mas autônoma em relação à intervenção funcional humana; (ii) uma máquina ativa não possui sistema de sensibilidade diferencial, sendo o seu funcionamento resultado direto da ação de seu sistema de transformação energética – face única de relação com estímulos externos. Na máquina ativa, coincidem margem de operação e fluxo de alimentação – o espaço de direcionamento funcional é aquele onde é possível a interferência humana no fluxo de energia como utilização da máquina; (iii) uma máquina passiva não possui sistema transformador ou sistema de sensibilidades, submetendo-se aos estímulos e oferecendo resistência geométrica, podendo-os redirecionar ou refratar.
A coesão das máquinas está em cada desempenho de seus mecanismos, revelando a cada funcionamento um tecido diacrônico do que é preciso fazer para se manter em ordem . Os seres mecânicos demonstram que, em suas existências, função é coesão . Um importante passo era aqui dado pela mecanologia; um passo rumo à visibilidade do que oferecem, objetivamente, os seres mecânicos à vida coletiva. As máquinas podem, em certo espaço e em tempo aplicado muito menor do que aquele demandado pela vida coletiva humana, preencher o estrato produtivo material das sociedades com uma intensidade que coletivos humanos não seriam capazes de produzir. É devido a tal incapacidade de produção apenas “humana” de tão densa coesão objetiva que as sociedades humanas se condicionam às máquinas, delegando a elas enormes parcelas de suas atividades produtivas.
Uma ciência social das máquinas não teria sido outra coisa senão uma incursão analítica a respeito do estado coletivo das conexões produtivas que as máquinas sustentam como velozes, potentes substitutas e prolongadoras das atividades produtivas materiais humanas. Lafitte apresentava com a mecanologia uma ciência da coisa social objetiva da era da indústria: da maquinaria que a instaura e mantém.
Ao reino humano, as máquinas
A era da indústria parece irretratável como atividade material humana entre os povos. Que humanidade produtiva seria então possível pensar em torno dos nossos dias sem a maquinaria? Embora, contemporaneamente, tenhamos propostas, provocações e ensaios sobre um destino alternativo, onde pudéssemos desconfiar e controlar um pouco mais os mecanismos de nossa era industrial, notemos que, mesmo esses escritos, precisaram, de um modo ou de outro, enfrentar um perigo: o sumiço das máquinas. A presença de grandes e extensas maquinarias que sufocam os povos causam tanto temor quanto a ideia de que perderiam os povos suas máquinas em uma regressão de seus modos de reprodução legítimos. 12 12 A mecanologia possui, inegavelmente, profícuas ligações com o mote do trabalho. A célebre imagem reflexiva entre modo de produção e forma social confirma essa ligação ( Marx, 2017 ).
As máquinas não são mais uma opção no horizonte histórico da humanidade. São fatos e ficções da vida coletiva humana; a vida coletiva humana sem o desenvolvimento de corpos mecânicos na intenção de otimização de atividades não é factível. Com certo tom de absurdo e ironia, a era da humanidade nada mais poderia ser senão uma era das máquinas. Não se pode mais conceber, na prática, um mundo sem o exercício da indústria e, consequentemente, das máquinas. E sabia disso, há muito, a mecanologia. Lafitte abria uma lacuna retórica um tanto cruel: teriam os povos força e vontade para impedir a evolução produtiva dos meios que lhes fornecem apropriações úteis e eficientes? Por que impediriam os povos o aumento qualitativo e quantitativo de módulos objetivos que lhes permitem expandir e organizar seus modos de existência material? Que sociedade humana não desejaria aprimorar seus corpos produtivos mecânicos?
As sociedades têm consciência dos limites da fisiologia da espécie humana e mostram inúmeros esforços para evitar que a coesão da vida coletiva por elas desejadas sejam inviabilizadas por tais limites. A criação desses corpos técnicos, os seres mecânicos, as máquinas, projetam às sociedades um ganho de possibilidades que as circunstâncias orgânicas às quais os seres humanos estão submetidos jamais poderiam suportar. A natureza das máquinas é outra coisa senão a artificialidade viável das sociedades humanas? As máquinas se tornaram adequadas, ajustadas e legítimas às funções que desempenham e a humanidade se empenhou nisso. A humanidade se acomodou à indústria. Conquistaram as máquinas autonomias extraordinárias, tornaram-se função e produção, em pequenas, médias e grandes escalas da vida coletiva humana. Que humano desejaria competir qualitativa e quantitativamente com uma máquina para fins ordinários? Nenhum. Mas não porque haja apenas um desnível de capacidade técnica articulada entre orgânicos e mecânicos, mas pelo absurdo dessa proposição: não é lógico, razoável ou importante tomar o lugar das máquinas – trabalhar por elas. É natural que as máquinas o façam: seu propósito coletivo é funcionar. E nunca funcionam sozinhas; nunca trabalham sem se comunicar; nunca existem por si só, pois sempre em uma série de parentelas técnicas que condicionam inúmeros outros modos de funcionar. Uma máquina é uma coletividade inumerável: em si, entre semelhantes, entre outras máquinas compatíveis, como tegumento social daqueles seres orgânicos que as mantêm em condições de ordem para continuar funcionando. Repito a afirmação de Lafitte: a vida coletiva entre humanos sem as máquinas é apenas uma má ficção.
Corroboram-se maquinaria e indústria como uma espécie de enorme fato social; as máquinas determinam o grau de ampliação com que as colaborações coletivas entre os humanos podem ocorrer. Comportam-se como suporte, meio e fim no exercício de tarefas objetivas sobre a matéria. São seres, em suma, inevitáveis: variações “mais ou menos lentas da atividade humana […] cuja causa e determinação […] são [a] ordem social” ( Lafitte, 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. , p. 109).
Apesar de as considerações de Lafitte conterem um tom profético e generalizador, permanecem originais como assertivas do elo entre sociedade e maquinaria nas Ciências Sociais do século XX. Ao se afirmar que não há desenvolvimento de maquinaria que não seja visceralmente social (como lembrara Sigaut, s.d.SIGAUT, François. (s.d.), Homo faber: documents d’un débat oublié, 1907-1941. Disponível em: <http://www.francois-sigaut.com/index.php/inedits/53-ouvrages-inedits/527-homo-faber-documents>.
http://www.francois-sigaut.com/index.php...
, p. 27), uma confusão entre formas técnicas e sociedade é demarcada. Mas tal confusão parece ter permanecido adormecida, ou demasiadamente parafraseada, a ponto de o tom de Lafitte ter-se esmaecido quando considerado por alguns cientistas sociais do fim do século XX — sobretudo no âmbito da etnologia francófona ligada à Techniques & Culture ou no âmbito da cibernética. 13
13
As obras de Albert e Kopenawa (2015) , Albert e Ramos (2002) , Danowski e Viveiros de Castro (2014) são ótimos exemplos desse impasse.
Soando radical e ingênuo, o programa da mecanologia lançava à frente um ato de esperança: promover uma ciência de futuro para uma humanidade que talvez pudesse se libertar da escravidão técnica. Lafitte concluía o apelo da mecanologia com uma utopia; à espera de uma humanidade porvir que compreendesse o teor e a complexidade da existência de cada e de todos os seres mecânicos na vida coletiva. Não haveria futuro para a humanidade, escrevia Lafitte, que não fosse com as máquinas. Seria preciso uma ética sociológica entre os seres mecânicos e os povos que, junto deles, produzem e se reproduzem. Seria preciso cumplicidade entre maquinaria e humanidade. O efeito do exercício da mecanologia, ansiava Lafitte, talvez fosse este: da extinção da obsolescência entre humanidade e maquinaria. Não deveriam se enganar, ocultarem-se uma da outra, substituírem-se como solução de crises e impasses – na ficção ou na não ficção. As máquinas “prolongam a humanidade, integram-se a ela, prolongam as estruturas sociais e [assim] se integram” (Lafitte, 1972, p. 119) irreversível e necessariamente.
Estruturas mecânicas e estruturas sociais se misturam todo e há muito tempo: não é mesmo em torno da analítica comparada entre meios técnicos e sociedade que afloraram os textos de Edward Tylor (1832-1917), Lewis Morgan (1812-1881), James Frazer (1854-1941) e tantos outros revolucionários cientistas sociais? Embora tenham eles, em maioria, assumido uma subordinação quantitativa entre determinados meios técnicos e sua representatividade evolutiva das sociedades, precisaram, enquanto parâmetro, a produção material objetiva humana como linear da pedra lascada à era das indústrias. Lafitte, por sua vez, frisava que a determinação entre diferentes sociedades e suas estruturas produtivas não poderia ser quantitativamente comparável. E não o seria por um simples motivo: porque não há evolução social que não esteja atrelada a modos objetivos de produção mecânica. Se as linhagens técnicas não devem ser casos classificatórios de subordinação funcional – do que funciona melhor em absoluto – em uma progressão temporal, por que deveriam ser suas contrapartidas orgânicas – as sociedades humanas – assim classificadas? Embora seja a maquinaria “tradução [plástica] de nossas atividades sociais” ( Lafitte, 1972LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin. , p. 121), seu modo de existência não é uma questão simplesmente orgânica, natural. Seu modo de existência, sui generis , é uma realidade objetiva envolvente, capaz de criar condições fundamentais e suplementares aos seres humanos, modelando formalmente a vida material de uma sociedade.
O que aflora na humanidade desde há muito tempo senão o desejo pela infraestrutura, pelo suporte otimizado para a realização de suas tarefas? As sociedades contemporâneas não cessam em clamar pela mobilidade urbana, pelo conforto térmico, pela ergonomia nos postos de trabalho, pela eficiência logística da indústria, do comércio e do lazer. Talvez grande parte dos desejos e dos esforços de uma sociedade se concentre em aperfeiçoar o movimento de seus seres técnicos para deles obter progressos. Melhores máquinas significam mais conforto e maior distância possível do trabalho direto sobre a matéria; mais coisas com a matéria é possível fazer; menos limitações a fisiologia humana imputa às capacidades dos seres mecânicos; melhor podem funcionar os seres que sabem exatamente o que fazer – e o fazem repetida e precisamente. Julien Pacotte (1933PACOTTE, Julien. (1933), “Esprit et technique”. Revue de Synthèse, 6 (2): 129-142. , p. 133), acompanhando o entusiasmo de Jacques Lafitte ainda na década de publicização da mecanologia, corroborava o prognóstico da mecanologia: a maquinaria “como apropriação da Terra, nos eleva a uma perspectiva adequada no domínio da ação material”. A maquinaria, apropriando-se da Terra, diz respeito ao nó de atividades coletivas do espírito humano em relação à matéria que tarimbam a progressão das sociedades humanas. A relação humanidade-maquinaria se resume à dinâmica de alteração das formas objetivas de infraestrutura de uma sociedade; formas capazes de sustentar todo desenvolvimento da vida social sem deixar claras evidências de sua imprescindibilidade. A mecanologia talvez dissesse, de modo ainda mais radical, o que alguns estudos contemporâneos nas Ciências Sociais têm dito: problemas de tecnologia nunca são puramente tecnológicos, são também sociais; problemas sociais nunca são puramente sociais, são também tecnológicos ( Law e Bijker, 1992LAW, John & BIJKER, Wiebe E. (1992), “Postscript: technology, stability and social theory”, in J. Law e W. E. Bijker, Shaping technology, building society: studies in sociotechnical , Massachusetts, MIT Press. , p. 305).
As sociedades industriais parecem ter sido desatentas quanto à apreciação de suas infraestruturas objetivas. Algo em torno delas emana e evita que sejam percebidos nos seres técnicos modos de existência fundamentalmente outros. Lafitte elabora esparsamente o que Simondon viria a nomear como um efeito de halo: um ser técnico em geral é, socialmente, antes conhecido pela representação valorativa de suas funções do que pela coesão funcional que lhe constitui. Uma máquina, apesar de objetivamente impreterível a certa sociedade, tende a ser antes compreendida como uma oportunidade de participação ampliada nas representações coletivas do que por “sua realidade própria”. Simondon (2014SIMONDON, Gilbert. (2014), Sur la technique (1953-1983). Paris, PUF. , p. 283) continua: “à luz das representações coletivas, [o ser técnico] se torna maior que si próprio; não cabendo mais inteiramente nos seus limites objetivos, materiais, utilitários ou ainda econômicos”. Se o diagnóstico de Simondon bem ilustra o argumento de Lafitte – de que as máquinas não seriam majoritariamente percebidas objetiva e funcionalmente –, não o faz apenas em relação aos fenômenos sociais das sociedades em geral, mas sim também em relação às Ciências Sociais dessas sociedades. Há algo de social nas máquinas que tem escapado sistematicamente às Ciências Sociais. Lafitte e Simondon arrematam o argumento: há algo de social nas máquinas, notável apenas na densidade de seus funcionamentos, densidade que as Ciências Sociais acabaram por se desviar.
Há tanta sociedade no interior, na coesão interna da maquinaria quanto ao seu redor. Se as representações coletivas das infraestruturas humanas bastassem a uma ciência social direcionada à maquinaria, não seriam representações suficientes para realizar uma efetiva ciência social das máquinas. Por que fenômenos sociais seriam apenas matéria das ideias, das representações dos seres humanos se estes dependem, absolutamente, de formas objetivas de produção material? A matéria plástica da sociedade é, da perspectiva de seu engendramento, de sua mudança, a maquinaria. Uma ciência social das máquinas seria uma ciência social da infraestrutura, uma apreciação peculiar dos mecanismos que garantem durabilidade à constituição plástica das sociedades. A mecanologia de Lafitte mostra que uma atenção sobre o reino das máquinas não terminaria por ser uma anedota sobre os efeitos materiais da humanidade, mas uma analítica sobre o teor plástico das sociedades e de quão inevitáveis são as máquinas ao exercício da vida coletiva.
Talvez o teor contra – no sentido latino do termo – sociológico da mecanologia tenha deflagrado o seu sepultamento. Ao manter a Sociologia de seu tempo à vista e por perto – evocando-a constantemente como molde de ciência social –, a mecanologia tenha talvez superestimado a plasticidade do socius engendrado pelas ciências ditas sociais. Parece que, ao estender o socius ao reino das máquinas, a mecanologia transformou o social em um exercício mais sociomórfico do que antropocêntrico, o inverso do que buscavam as ciências ditas sociais.
BIBLIOGRAFIA
- AKRICH, Madeleine; CALLON, Michel & LATOUR, Bruno. (orgs.) (2006), Sociologie de la traduction: textes fondateurs . Paris, Presses des Mines.
- ALBERT, Bruce & KOPENAWA, David. (2015), A queda do céu: palavras de um xamã yanomami . São Paulo, Cia. das Letras.
- ALBERT, Bruce & RAMOS, Alcida Rita. (2002), Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-amazônico . São Paulo, Editora da Unesp.
- APPADURAI, Arjun. (1988), The social life of things . Cambridge, Cambridge University Press.
- BACON, Francis. (2003), Novum organum ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza . Pará de Minas, Virtual Books Online.
- BERT, Jean-François. (2009), “De Marcel Mauss à A. G. Haudricourt: retour sur la <technologie>”. Revue d’Histoire des Sciences Humaines , 20 (1): 163-181.
- BOWKER, Geoffrey; STAR, Susan & TURNER, William (orgs.). (1997), Social science, technical systems, and cooperative work: beyond the great divide . Nova York, Psychology Press.
- COMTE, Auguste. (2002), Système de politique positive: extraits des tomes II et III du système de politique positive publié entre 1851 et 1854 . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- DANOWSKI, Déborah & VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. (2014), Há mundo por vir? Ensaio sobre o medo e os fins . Florianópolis, Instituto Socioambiental.
- DURKHEIM, Émile. ([1895] 1997), As regras do método sociológico . São Paulo, Nacional.
- DURKHEIM, Émile. ([1905] 2002), Sociologie et sciences sociales . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- DURKHEIM, Émile. ([1893] 2002), De la division du travail social . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- ESPINAS, Alfred. (1897), Les origines de la technologie . Paris, Félix Alcan.
- FRÉMONT, Charles. (1913), Origine et évolution des outils . Paris, Société d’Encouragememt pour l’Industrie Nationale.
- FRÉMONT, Charles. (1928), Les outils, leur origine, leur évolution . Paris, Tardy.
- GILLE, Bertrand. (1978), Histoire des techniques . Paris, Gallimard.
- HAUDRICOURT, André-Georges. (1987), La technologie science humaine . Paris, Maison des Sciences de l’Homme.
- HEIDEGGER, Martin. (2007), “A questão da técnica”. Scientiae Studia , 5 (3): 375-398.
- HENARE, Amiria; HOLBRAAD, Martin & WASTELL, Sari (orgs.). (2007), Thinking through things: theorising artefacts ethnographically . Londres, Routledge.
- ILIADIS, Andrew. (2015), “Mechanology: machine typologies and the birth of philosophy of technology in France (1932-1958)”. Systema: connecting matter, life, culture and technology , 3 (1): 131-144.
- LAFITTE, Jacques. (1933), “Sur la science des machines”. Revue de Synthèse, 6 (2): 143-158.
- LAFITTE, Jacques. ([1932] 1972), Réflexions sur la science des machines . Paris, Vrin.
- LAW, John & BIJKER, Wiebe E. (1992), “Postscript: technology, stability and social theory”, in J. Law e W. E. Bijker, Shaping technology, building society: studies in sociotechnical , Massachusetts, MIT Press.
- LE ROUX, Ronan. (2009), “L’impossible constitution d’une théorie générale des machines?”. Revue de Synthèse , 130 (1): 5-36.
- LEROI-GOURHAN, André. (1965), Le geste et la parole II: la mémoire et les rythme . Paris, Albin Michel.
- LEROI-GOURHAN, André. ([1943] 1993a), L’homme et la matière. Paris, Albin Michel.
- LEROI-GOURHAN, André. ([1945] 1993b), Millieu et techniques . Paris, Albin Michel.
- MARX, Karl. ([1847] 2017), Miséria da filosofia . São Paulo, Boitempo.
- MAUSS, Marcel. ([1927] 2002a), Divisions et proportions des divisions de la sociologie . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- MAUSS, Marcel. ([1934] 2002b), Fragment d’un plan de sociologie général descriptive. Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- MAUSS, Marcel. ([1934] 2002c), Les techniques du corps . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- MAUSS, Marcel. ([1947] 2002d), Manuel d’ethnographie . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
- MITCHAM, Carl. (1994), Thinking through technology . Chicago, Chicago University Press.
- MUMFORD, Lewis. (1934), Technics and civilization. Nova York-Harcourt, Brace and Company.
- PACOTTE, Julien. (1933), “Esprit et technique”. Revue de Synthèse, 6 (2): 129-142.
- PARAIN, Charles. (1979), Outils, ethnies et developpement historique . Paris, Terrains.
- PEIXOTO, Fernanda. (1991), Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de São Paulo . Dissertação de mestrado. Campinas, Unicamp.
- SAUTCHUK, Carlos. (2007), O arpão e o anzol: técnica e pessoa no estuário do Amazonas . Tese de doutorado. Brasília, UnB.
- SCHLANGER, Nathan. (2006), “Technological commitments: Marcel Mauss and the study of techniques in the French Social Sciences”, in N. Schlanger, Techniques, technology and civilization , Oxford, Bergham Books.
- SIGAUT, François. (s.d.), Homo faber: documents d’un débat oublié, 1907-1941. Disponível em: <http://www.francois-sigaut.com/index.php/inedits/53-ouvrages-inedits/527-homo-faber-documents>
» http://www.francois-sigaut.com/index.php/inedits/53-ouvrages-inedits/527-homo-faber-documents> - SIMONDON, Gilbert. ([1968] 2005), L’invention et les développement des techniques . Paris, Seuil.
- SIMONDON, Gilbert. ([1958] 2008), Du mode d’existence des objets techniques . Paris, Aubier.
- SIMONDON, Gilbert. (2014), Sur la technique (1953-1983). Paris, PUF.
- SOMBART, Werner. ([1911] 2005), “Technology and culture”, in C. Adair-Toteff, Sociological Beginnings , Liverpool, Liverpool University Press.
- WEBER, Max. ([1905] 2002), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme . Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi (Les Classiques des Sciences Sociales).
-
1
O periódico fundado em 1977 é resultado da reunião de pesquisadores inspirados pelo legado de Marcel Mauss e seus ilustres alunos: André Leroi-Gourhan, André-Georges Haudricourt e François Sigaut. Em torno do periódico, alguns nomes fundamentais da então etnologia das técnicas, como Aliette Geistdoerfer, Robert Cresswell, Hélène Balfet, Christian Pelras, Pierre Lemonnier e Christian Bromberger, puderam constituir, aperfeiçoar e publicizar diversas pesquisas acerca das técnicas.
-
2
As referências bibliográficas deste texto são, em sua maioria, reedições de textos há muito publicados. Para evitar a profusão de datas e causar alguma confusão entre referências opto por manter as citações diretas atrealadas ao ano das edições consultadas. As datas originais dos artigos e obras, traduzidos ou não, estão indicadas entre colchetes ou constam no título das obras na seção de referências bibliográficas.
-
3
Todas as citações deste texto, quando não originalmente em português, são traduções livres minhas.
-
4
Refiro-me, sobretudo, aos escritos dos Sciences Studies de Madeleine Akrich, Michel Callon e Bruno Latour ( Akrich, Callon e Latour, 2006AKRICH, Madeleine; CALLON, Michel & LATOUR, Bruno. (orgs.) (2006), Sociologie de la traduction: textes fondateurs . Paris, Presses des Mines. ), bem como aos escritos anglófonos sobre Alfred Gell, Donna Haraway, Marilyn Strathern, Gregory Bateson e Tim Ingold. Para um panorama sobre as reverberações anglófonas, ver Bowker, Star e Turner (1997)BOWKER, Geoffrey; STAR, Susan & TURNER, William (orgs.). (1997), Social science, technical systems, and cooperative work: beyond the great divide . Nova York, Psychology Press. , Schiffer (2001), Henare, Holbraad e Wastell (2007)HENARE, Amiria; HOLBRAAD, Martin & WASTELL, Sari (orgs.). (2007), Thinking through things: theorising artefacts ethnographically . Londres, Routledge. .
-
5
Cito datas de nascimento e morte para situar autores não centrais neste texto.
-
6
Não há informações sobre as datas de nascimento e morte de Julien Pacotte, contemporâneo dos demais autores.
-
7
Curiosamente André-Georges Haudricourt, ilustre aluno de Marcel Mauss, estava ciente de Lafitte. Em sua obra sobre tecnologia, dedicada a Mauss, escreve no prefácio: “[para compreender] as máquinas, é preciso que as consideremos enquanto fatos sociais” (Haudricourt, 1987, p. 30).
-
8
Quando se fala em Sociologia francesa, principalmente daquela atrelada à emergência de Émile Durkheim, não se fala de uma disciplina e sim de um “corpus do conjunto das ciências sociais, a ciência social por excelência que englobaria [todas as outras]; [a sociologia é] acima de tudo um método […]. Não seria preciso ser sociólogo para fazer sociologia” ( Peixoto, 1991PEIXOTO, Fernanda. (1991), Estrangeiros no Brasil: a missão francesa na Universidade de São Paulo . Dissertação de mestrado. Campinas, Unicamp. , p. 48).
-
9
Note-se que Karl Marx em seus escritos e esboços para a composição de O capital fora exceção, tendo realizado estudos de maquinários. Se considerados canônicos, tais estudos sugerem que a maquinaria no escopo de Marx não se tornou central antes por uma incompletude de sua obra do que por franco desprezo.
-
10
A lista de autores responsáveis por tal conjunção é extensa e crescente; nomes como Xavier Guchet, Vincent Bontems, Jean-Hugues Barthélémy, Pascal Chabot, Gilbert Hottois e Bernard Stiegler ilustram bem a referida questão. Para um panorama sobre os enlaces entre Lafitte e Simondon, ver o periódico francês Cahiers Simondon .
-
11
Ver edição de 1898-1899 do periódico, seção Morphologie sociale .
-
12
A mecanologia possui, inegavelmente, profícuas ligações com o mote do trabalho. A célebre imagem reflexiva entre modo de produção e forma social confirma essa ligação ( Marx, 2017MARX, Karl. ([1847] 2017), Miséria da filosofia . São Paulo, Boitempo. ).
-
13
As obras de Albert e Kopenawa (2015)ALBERT, Bruce & KOPENAWA, David. (2015), A queda do céu: palavras de um xamã yanomami . São Paulo, Cia. das Letras. , Albert e Ramos (2002)ALBERT, Bruce & RAMOS, Alcida Rita. (2002), Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-amazônico . São Paulo, Editora da Unesp. , Danowski e Viveiros de Castro (2014)DANOWSKI, Déborah & VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. (2014), Há mundo por vir? Ensaio sobre o medo e os fins . Florianópolis, Instituto Socioambiental. são ótimos exemplos desse impasse.
-
14
A teoria geral das mensagens, a cibernética, visitou com alguma frequência os escritos de Lafitte e o fez para buscar em seus escritos um “precursor indireto”. Contudo, o teor de ciência social da mecanologia continuou amplamente negligenciado. Ver as sínteses de Le Roux (2009)LE ROUX, Ronan. (2009), “L’impossible constitution d’une théorie générale des machines?”. Revue de Synthèse , 130 (1): 5-36. e Iliadis (2015)ILIADIS, Andrew. (2015), “Mechanology: machine typologies and the birth of philosophy of technology in France (1932-1958)”. Systema: connecting matter, life, culture and technology , 3 (1): 131-144. .
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
15 Abr 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
08 Maio 2017 -
Aceito
21 Ago 2018