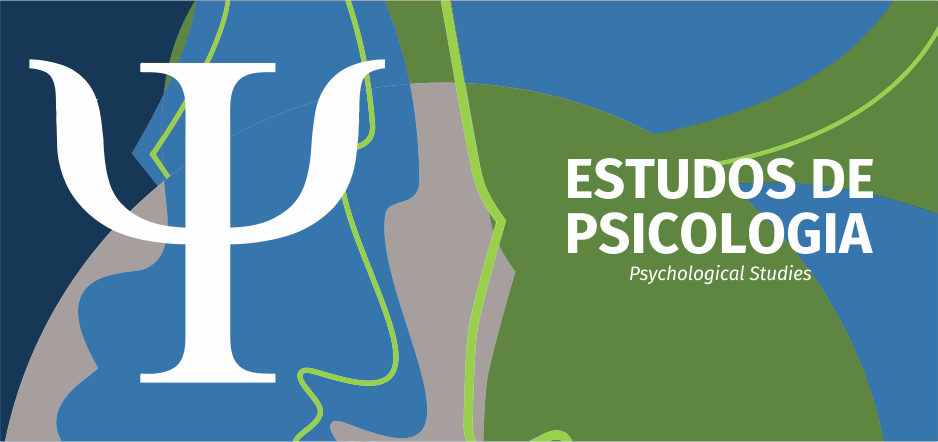Resumos
Este trabalho admite, de início, a ausência de um tratamento da alteridade radical na Abordagem Centrada na Pessoa - como proposta originalmente por Carl Rogers - para propor, ao fim, uma releitura da tendência atualizante e das atitudes facilitadoras - aceitação positiva incondicional, empatia e autenticidade - como lugares possíveis para o encontro com o outro em sua radicalidade. Aponta, assim, para uma perspectiva descentrada ou excêntrica da pessoa.
Abordagem centrada na pessoa; Corrente humanista; Nova visão
This study assumes , at the beginning, the absence of the radical alterity treatment on the Person-Centered Approach - as proposed originally by Carl Rogers - to consider, at the end, a re-reading of the realization tendency and the facilitative attitudes - unconditional positive regard, empathy and genuineness - as possible places to others meeting radically . It points out, thus, an non-centered or eccentric perspective of the person.
Client-centered therapy; Humanistic theory; New vision
ARTIGOS
Alteridade e psicologia humanista: uma leitura ética da abordagem centrada na pessoa
Alterity and humanistic psychology: an ethical reading of the person-centered approach
Emanuel Meireles VieiraI,III; José Célio FreireII,IV
IMestrando, à época da pesquisa bolsista (PIBIC-CNPq). Fortaleza, CE, Brasil
IIProfessor Doutor, Curso de Psicologia de Mestrado em Psicologia, Centro Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará. Av. da Universidade, 2762, Campus do Benfica, 60020-180, Fortaleza, CE, Brasil. Correspondência para/ Correspondence to: J.C. FREIRE. E-mail: <jcfreire@ufc.br>
IIIMembro do Núcleo de Psicologia Comunitária e do Laboratório de Psicologia em Subjetividade e Sociedade. Fortaleza, CE, Brasil
IVCoordenador, Laboratório de Psicologia em Subjetividade e Sociedade. Fortaleza, CE, Brasil
RESUMO
Este trabalho admite, de início, a ausência de um tratamento da alteridade radical na Abordagem Centrada na Pessoa - como proposta originalmente por Carl Rogers - para propor, ao fim, uma releitura da tendência atualizante e das atitudes facilitadoras - aceitação positiva incondicional, empatia e autenticidade - como lugares possíveis para o encontro com o outro em sua radicalidade. Aponta, assim, para uma perspectiva descentrada ou excêntrica da pessoa.
Palavras-chave:abordagem centrada na pessoa;corrente humanista;nova visão.
ABSTRACT
This study assumes , at the beginning, the absence of the radical alterity treatment on the Person-Centered Approach - as proposed originally by Carl Rogers - to consider, at the end, a re-reading of the realization tendency and the facilitative attitudes - unconditional positive regard, empathy and genuineness - as possible places to others meeting radically . It points out, thus, an non-centered or eccentric perspective of the person.
Key word:client-centered therapy; humanistic theory; new vision.
Este trabalho parte da constatação realizada por Freire (2000) de que a perspectiva da alteridade radical, proposta por Emmanuel Lévinas, não existe na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) - abordagem psicológica criada pelo norte-americano Carl Rogers.
Diante de tal problema, colocamo-nos o desafio de pensar um lugar para o que Lévinas (1978) chama de "outramente que ser", aquilo que não pode ser totalizado por qualquer conceituação. Nossas perguntas de partida, então, são: Qual é a pertinência de um lugar para o Outro radical, para o estranho, na ACP? De que maneira podemos pensar esta abordagem psicológica de forma a não totalizar o que Rogers chama de pessoa? Ou será que, para tanto, torna-se imperativo - como nos propõe Moreira (2001) -, buscar algo para além da pessoa? Mesmo que assim o seja, como fazê-lo sem que isto perca as características do que ainda se possa definir como ACP?
Sendo, portanto, a ACP uma teoria que lida com o ser-si-mesmo e não com o estranhamento, com o imprevisível, pensamos ser de suma importância propor uma aplicação desta como uma alternativa ao que se assemelha, muitas vezes, a um tipo de prática ortopédica, que se mostra indiferente ao estranhamento, ao imprevisível e não 'totalizável'. Trata-se, então, de propor, para este importante modelo de Psicologia, a consciência de um si para outrem e a consciência de um outro que si (Freire, 2002), para além do que Rogers aponta como congruência (muito mais voltada ao império de si para consigo).
Utilizaremos nesse esforço a hermenêutica filosófica (Gadamer, 1997) a partir da fusão de horizontes de compreensão distintos - nossas leituras de Emmanuel Lévinas e de Carl Rogers - produzindo um novo horizonte, dentre muitos possíveis, para a averiguação da pertinência de um lugar para o Outro radical na ACP.
Da abordagem centrada na pessoa como teoria
Vários são os intérpretes e muitas as perspectivas de análise das bases epistemológicas da ACP. Reconhecidas por Carl Rogers, poucas são as influências encontradas para a construção de sua abordagem psicológica; além disso, estas são de natureza mista, uma vez que podem ser identificadas fontes no pragmatismo de William James, mas também em filósofos existencialistas, tais como Martin Buber e Sören Kierkegaard. Além do que o próprio Carl Rogers (Rogers & Rosenberg, 1977) atribui a causa dessas convergências teóricas a uma serendipidade, ou seja, à coincidência de seu pensamento com o daqueles autores.
Fonseca (2004) lembra de Otto Rank, em especial no que diz respeito a seu modo de fazer psicoterapia, como uma das influências. A Psicologia da Gestalt se constitui como uma outra influência que Rogers (1992) indicava ter recebido para o desenvolvimento de sua teoria, especialmente de Kurt Lewin, que ele cita como precursor do seu trabalho com grupos. Leitão (1986) nos indica ainda uma perspectiva biológica na obra de Carl Rogers, facilmente percebida em conceitos tais como organismo, auto-regulação organísmica e tendência atualizante.
Há controvérsias, no entanto. Figueiredo (1996) não identifica as perspectivas de pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard e Buber na obra desenvolvida pelos autores de uma "matriz vitalista e naturista", onde se inclui a ACP, ou seja, não inclui a Psicologia Humanista de Rogers e outros na matriz fenomenológico-existencial do pensamento psicológico - como o faz Fonseca (1998). Moreira (2001), por sua vez, não vê a fenomenologia como raiz da ACP, mas reconhece em Rogers uma certa intuição que o levou a passar de um perspectiva da ciência tradicional norte-americana a uma psicoterapia experiencial.
Da alteridade radical
Lévinas (2000) vem se opor à idéia de totalização da realidade. Para ele, não se trata da questão do ser, mas de pôr o ser em questão e trazer para o debate filosófico o "outramente que ser", o não poder-ser-de-outra-forma que não ser pelo e para o Outro.
Pivatto (2000, p.79) enumera, entre as muitas contingências para que se possa melhor compreender o pensamento de Lévinas, "a perseguição nazista aos judeus que fez milhões de vítimas e a própria experiência de Lévinas como oficial judeu prisioneiro de guerra ... . O pensamento levinasiano se ocupa, portanto, em pensar a alteridade a partir de uma experiência de, na nudez e miséria do outro (Lévinas, 2000), observar a tentativa de sua totalização e assassínio.
Lévinas (2000) traz à tona o tema da metafísica que significa, para ele, a relação com o Outro. O sentido de sua metafísica é a verdade como respeito do ser e não a sua apropriação a partir de algo idêntico a si mesmo, como quer todo saber. Enquanto Heidegger, segundo Freire (2002), afirma ser o Dasein um ser-para-a-morte (portanto, finito), Lévinas traz a posição do ser-para-além-da-minha-morte. A finitude traria implícita a idéia de totalidade e, também, a da possibilidade da morte do outro (embora na filosofia levinasiana a alteridade do Outro não possa ser destruída). Segundo Pivatto (2000, p.81), as teses afirmadas por Lévinas são: a singularidade irredutível de cada homem, com seu valor único que precede sua universalização no saber e na política; a ética instaura-se na relação inter-humana ...; a ética é o sentido profundo do humano e precede a ontologia.
O Outro levinasiano fala-me de uma altura infinita e se revela como Rosto. A relação com ele, portanto, é assimétrica e sou responsável por ele, pois, segundo Lévinas, recordando Dostoievski, "somos todos culpados de tudo e de todos perante todos, e eu mais do que os outros" (apud Lévinas, 1988, p.90). Por se tratar de uma relação assimétrica, não formo com Outrem uma totalidade, pois, caso assim o fosse, continuaríamos na lógica do império do mesmo. Por isto, Lévinas (1988) fala-nos da incondição da subjetividade como refém.
A relação com o Outro, caracterizada pela multiplicidade, traz-nos a idéia de Infinito, que muito mais que um saber, é um desejo. O desejo, diferentemente da necessidade, não é falta que pode ser saciada, mas um desejo de mais desejo, sede que não se sacia, fome que se alimenta da própria fome (Lévinas, 1988), e que é excesso.
A subjetividade, para Lévinas, estrutura-se na exterioridade e não num centro do sujeito, que é, na verdade, sujeitado e, a partir da revelação de outrem, tem sua saciedade (necessidade) colocada em xeque pela idéia de Infinito (desejo) (Freire, 2002). O Outro me chama a uma responsabilidade intransponível e me chega como um estrangeiro, o que não pode ser entendido, visto, morto ou desvelado. Freire (2002, p.61) afirma que o sujeito " ... nasce então da passividade, da vulnerabilidade ao outro, da intimação absoluta que ele faz, da fraternidade ... . Para Lévinas, o psiquismo já nasce psicose, apesar de mim ... . Psicose porque dividido não é dono de si mesmo, não é um eu ..." .
Portanto, as reflexões levinasianas nos levam à conclusão de que um eu idêntico a si mesmo, centrado e autêntico, ainda se mantém no nível da fruição e saciedade, império do mesmo, pois assimilação da experiência. O eu autêntico, postulado pela ACP, conforme exporemos mais adiante, muitas vezes parece não atentar para a dimensão do desejo, mantendo-se na vontade e saciedade de um eu centrado.
Estar aberto à visitação deste estranho não se trata, portanto, de uma escolha, pois é este estranho que vai se instaurar como estruturante da subjetividade, que, antes de ser liberdade, é vulnerabilidade a Outrem, sensibilidade que não descobre, mas que, a partir da epifania do Outro, se sensibiliza pela revelação da alteridade. Além disto, o Outro sempre ultrapassa qualquer tipo de conceituação explicativa ou compreensiva que dele se possa fazer. Todavia, embora o Outro me fale de uma Altura infinita, posso manter com ele uma relação de proximidade, mas que é uma relação assimétrica e de não reciprocidade. Esta proximidade pode ser descrita a partir da minha responsabilidade intransponível em relação a outrem, pois "na proximidade, a minha diferença com relação ao Outro se transforma em não-indiferença pelo outro" (Freire 2002, p.56 - grifos do autor). A proximidade para Lévinas, segundo Freire (2002), é estar em contato com a alteridade do Outro, sem anulá-la. Uma proximidade que, de fato, é exterioridade.
Para Freire (2002, p.50), a pluralidade e proximidade fraternas "resultam numa 'afectividade' desinteressada pelo Outro" (p.50, grifo do autor), ou, dizendo de outra forma, resulta de uma afetação pela alteridade do outro-que-si, do outro-de-si e do outro-do-outro.
De acordo com Pivatto (2000, p.90), trata-se do acolhimento e não da identificação: "Na identificação o eu é pólo de referência em torno do qual tudo gira. No acolhimento, o outro é referido na sua alteridade, o eu o acolhe no seu em-si. A consciência não compreende o infinito, porém o afirma, acolhendo-o".
A comunicação, como nos expõe Freire (2002), transforma-se numa aventura do impreciso que não pode ser identificado. As psicoterapias, portanto, tendo a linguagem como um meio de acesso ao que chamam psiquismo, aventurariam-se na imprecisão da linguagem e não teriam como ter acesso à "psicose" que caracteriza o psiquismo, uma vez que, com o Outro, estabeleço uma relação diacrônica. Por isso, Lévinas (2000, p.271) afirma que "o facto de Outrem se colocar mais alto do que Eu significaria um erro puro e simples, se o acolhimento que eu lhe faço consistisse em 'perceber' uma natureza. A sociologia, a psicologia, a fisiologia são assim surdas à exterioridade" .
Lancemos, então, o seguinte questionamento: como podemos pensar uma psicologia que possa buscar o outro que si, criando condições para que essa relação de proximidade (e distância) nos revele a escuta do Dizer? É possível, para além das especulações, pensar uma prática nesta direção?
Do lugar do outro na ACP
Para Freire (2000) o Outro levinasiano não estaria presente na ACP. Além de identificá-la, a partir de Figueiredo (1996), como enquadrada em uma matriz romântica e não fenomenológico-existencial - ao contrário de Fonseca (1998) - Freire afirma que a sua aproximação com a filosofia dialógica de Martin Buber a leva de encontro à diacronia entre mim e o Outro postulada pela ética da alteridade radical. Afinal, na ética levinasiana o Outro me fala de uma Altura infinita e intransponível, e nos torna reféns, exige-nos nossa intransferível responsabilidade, pondo em xeque a autonomia e liberdade do eu, enquanto que, para Rogers, a temática da liberdade é bastante presente, o que Freire (2000) chama de liberalismo.
A simetria e, portanto, possível reversibilidade, entre o eu e o Outro, estaria presente na ACP a partir do conceito de autenticidade, onde o Outro pode me aparecer como igual e sendo ele mesmo, diferentemente da perspectiva levinasiana em que, segundo Freire (2000) "o Outro não me aparece como igual a mim, ou como uma pessoa, nem mesmo como um outro empírico. É o Próximo em sua distância; o Estrangeiro que se hospeda no melhor cômodo; quem exige a passividade pré-reflexiva que traz o Infinito e Deus à idéia" (p.246-7, grifos do autor).
Freire prossegue afirmando que, mesmo quando Rogers trata de uma abertura à diferença o faz de uma maneira imanente, numa tentativa de, a partir da interioridade, compreender o mundo do outro, tentar se colocar no seu lugar, contudo, "... não se pode estar no lugar do Outro, pois, quando eu chego, ele já não está, e encontro apenas os vestígios de sua passagem" (Freire, 2000, p.247).
Mesmo que Rogers relate sua "pessoa do futuro" como se dedicando e se preocupando com os outros, esta perspectiva não se insere num "cuidar de ser heideggeriano ou do cuidar do ser do outro-que-si--mesmo levinasiano" (Freire, 2000, p.248, grifos do autor), pois, para Rogers, faz-se necessário um acordo interno por parte do terapeuta (Rogers & Kinget, 1977), para que este possa se abrir para o encontro com o outro.
Segundo Freire (2000, p.249), "para Rogers, o eu autêntico habilita-se para o diálogo com o outro. Para Lévinas, o Outro me constitui e eu sou, para ele e por ele, mais que todos os demais". Diante disto, Freire afirma não ser possível pensar o si-mesmo como um outro na ACP.
Freire (2000) conclui seu texto, afirmando que Rogers se aproximaria, com sua perspectiva, do Tu buberiano, tratando de um humanismo que não o humanismo do outro homem, o outramente que ser de que nos fala Emmanuel Lévinas.
Mesmo levando em conta que o Outro levinasiano é de uma ordem metafísica, enquanto que o outro da psicologia centrada na pessoa é empírico, é possível fazermos uma leitura da alteridade na ACP, tendo o pensamento levinasiano como marco teórico. Uma vez que Rogers postula a colocação do terapeuta como "pessoa", traz-nos a idéia de que terapeuta e cliente formam uma totalidade, são pessoas, seres humanos, juntos numa relação de síntese, enquanto que, para Lévinas (1988, p.69), "o não-sintetizável por excelência é, certamente, a relação entre os homens". Rogers, por sua vez, insiste numa totalidade, como podemos perceber na seguinte passagem: "Naquele momento [da terapia], pelo menos, o receptor se percebe como membro da raça humana ..." a experiência é vivida mais ou menos da seguinte forma: "Eu faço sentido para outro ser humano. Portanto, estou em contato com os outros e até mesmo em relação com eles, não sou mais um pária" (Rogers & Rosenberg, 1977, p.80).
Em Lévinas o Outro diz respeito ao dizer (que antecede e excede qualquer conceito que dele se possa fazer) e não ao dito, forma já cristalizada e morta (pois conceitualizada) do dizer. O dizer trata do que nos estrutura, da condição primeira para que se possa produzir a linguagem, mesmo que dela prescinda. Trata-se de dizer, não a partir da consciência, de uma congruência quase transparente que, em muitos momentos, pode ser compreendida na abordagem rogeriana, mas de uma "má-consciência de...", sensibilidade e vulnerabilidade ao que não pode ser totalizado (Freire, 2002). A ACP em muitos momentos parece nos trazer uma idéia de escuta de um dito, um discurso necrológico, algo que, a partir da empatia, por exemplo, pode nos parecer uma tentativa de totalização.
Uma outra crítica que pode ser feita à ACP diz respeito a uma tentativa de normalização dos sujeitos, a partir do que Rogers (1994b, p.69) chama de "pessoa em funcionamento pleno". Essa pessoa seria quase que a imagem e semelhança do terapeuta, pois se caracteriza por uma maior abertura a sua experiência (maior congruência por parte do cliente), viveria de maneira existencial (com cada momento sendo vivido como novo, num fluxo criativo do vivido) e sentiria seu organismo como sendo digno de confiança (uma certa consideração positiva incondicional de sua experiência) (Rogers, 1994b).
Diante destas descrições do processo psicoterapêutico, questionamos se tornar-se pessoa (ver Moreira, 2001), significa tornar-se um ideal de pessoa. Caso esta resposta seja positiva (e pensamos que Rogers dá margem a este tipo de interpretação), a abertura à diferença, tão presente e marcante no que se refere à teoria rogeriana, seria uma técnica ortopédica de transformação do outro numa réplica daquele que se "abre" a sua diferença (em nosso caso, o terapeuta).
O des-centramento da ACP
Partindo da tese de Freire (2000), de que o Outro levinasiano não existe na ACP, entendemos nossa compreensão muito mais como um modo outro de pensar a ACP, do que uma busca por uma Abordagem Centrada levinasiana que, de fato, não existe. Tomemos a atitude denominada por Rogers e Kinget (1977, p.175) de consideração positiva incondicional e definida por eles da seguinte forma: "se as experiências de uma outra pessoa, relativas a ela própria, me afetam (todas elas) como igualmente dignas de consideração positiva... dizemos que experimento com relação a esta pessoa, uma atitude de consideração positiva incondicional".
Partindo da hipótese de que a consideração positiva incondicional poderia vir a ser uma via de abertura para a exterioridade, através de uma escuta da alteridade absoluta trazida pelo cliente, façamos algumas observações. Na verdade, a consideração positiva incondicional não diz respeito somente ao terapeuta com relação ao cliente, mas do psicoterapeuta consigo mesmo, assim como do cliente consigo mesmo. Este "consigo mesmo" aqui destacado não significa algo totalizado, perfeitamente identificado e essencialista, mas uma abertura para o que de imprevisível possa surgir. Mesmo quando se trata de um conteúdo já trabalhado na psicoterapia, este, como que ganhando vida própria, revela um inédito sentido e surpreende os sujeitos envolvidos na psicoterapia. Rogers (1987, p.18) descreve tal situação como sendo um "momento de movimento".
Aliás, este estranhamento com relação ao que outrora parecia tão familiar vai de encontro ao self do cliente e, portanto, causa-lhe surpresa. Por parte do terapeuta talvez possamos pensar, a partir da consideração positiva incondicional, que a surpresa se dá no sentido de ele não saber de antemão o que se passará e como se dará o desenrolar do processo psicoterapêutico. Por outro lado, não há surpresa no sentido de ter acontecido algo diferente do que o terapeuta havia programado, pois ele espera que a produção do que possa vir a acontecer seja efetuada pelo processo terapêutico, não estabelecendo objetivos e metas a priori. O processo terapêutico é, por excelência, então, rompimento, plasticidade.
Em outro momento, Rogers (1976, p.211) ainda define a consideração positiva incondicional como um "amor não-possessivo" o que poderíamos entender, também, como um certo desinteressamento, uma tentativa de não tomar o outro como coisa, além de não enxergá-lo como meio ção que nos traria uma idéia de posse, portanto violência, em relação ao Outro - mas sim como fim, pois é na função de um cuidado com o outro que se encontra a figura do psicoterapeuta.
Se uma das teses levinasianas é a "singularidade irredutível de cada homem, com seu valor único que precede a sua universalização no saber e na política" (Pivatto, 2000, p.81), é interessante percebermos que a consideração positiva incondicional pode ser compreendida como a escuta de uma singularidade trazida pelo cliente e uma diferença que não pode ser violentada por qualquer saber anterior à relação terapêutica.
No que se refere à autenticidade, esta não nos parece uma atitude cognitiva, onde o cliente e o terapeuta totalizariam suas respectivas experiências sensíveis. De fato, tratar-se-ia de uma vulnerabilidade ao excesso que ultrapassa a palavra pronunciada por qualquer um destes, afetação pelo que não pode nem deve ser explicado. Quando Amatuzzi (2001, p.24) trata da questão da fala e do silêncio no âmbito da psicoterapia, afirma que a "fala autêntica decide e desencadeia algo. Ela não apenas traduz, mas cumpre, dá andamento a uma intenção, tornando-a, de certa forma, passado como mera intenção, e dando origem a novas intenções no interior de um movimento".
É interessante destacar que não se trata de um espelho refletindo de forma clara algo já pronto, mas que apenas não havia se transformado em palavras antes. Como percebemos na passagem anterior, a fala autêntica desencadeia novas intenções, o que nos indica inclusive um caráter de exterioridade desta, afastando-a de uma perspectiva de essencialidade, trazendo-nos a noção de que o discurso passa a ganhar uma espécie de vida própria, como se ele reconfigurasse as intenções do sujeito, e não o contrário.
Podemos, inclusive, afirmar que o movimento a que nos leva esta perspectiva vai em direção a uma fala excêntrica, pois ela não mantém uma estrutura fixa de identidade, descentrando o sujeito que a pronuncia, como que um discurso pela primeira vez pronunciado e, a partir de então, criador de outras possibilidades. Talvez por não ter visualizado este tipo de perspectiva, Rogers (1987, p.15) afirmasse que "uma vez que essa experiência [de mudança de personalidade no processo psicoterapêutico] ocorreu, ela tem uma qualidade quase irreversível, mesmo que leve algum tempo para que o cliente possa assimilar completamente o que ocorreu".
Ora, por que a necessidade de um entendimento completo? O "momento de movimento", a que se refere Rogers, ocorre num instante de desentendimento e para que ocorra não existe a necessidade de explicação. Postulamos, portanto, uma autenticidade excêntrica, muito mais próxima da idéia de movimento do que o de uma autenticidade idêntica e quase transparente, pois, como Rogers (1987, p.16-17) mesmo coloca, este momento não diz respeito a uma "compreensão intelectual", uma vez que se trata de "... um sentimento que é novo". Uma experiência não ortopédica seria, então, a desintegração, a constante 'reconfiguração' e vulnerabilidade do que pode ser compreendido como "eu".
Mesmo em relação à empatia, há uma possibilidade de compreendê-la para além de um discurso necrológico (Freire, 2002), como fala autêntica, ou fala síntese, mas como uma psicoterapia experiencial, onde não importa apreender a totalidade racional da experiência do outro (explicação), mas tentar compreender o sentido (compreensão) do que é trazido à tona na psicoterapia.
Quando Rogers (1994a, p.165) se refere à empatia afirmando que esta diz respeito ao modo de "sentir o mundo privado do cliente como se ele fosse o seu, mas sem perder a qualidade 'como se' ", parece-nos trazer algo que pode ser entendido como uma abertura à visitação do estranho, daquilo que não é reconhecido como seu, o que em Freire (2002) se mostra como uma casa com portas e janelas à visita do estrangeiro, já que Lévinas não nega a interioridade, pois coloca a separação (e a interioridade que daí advém) como um movimento necessário para a constituição da subjetividade.
Compreendida desta forma, a empatia seria, então, deixar-se impactar pela diferença trazida pelo outro, deslocando-se de um lugar fixo. Como nos esclarece Fonseca (1998, p.53): "a empatia cria e recria o si mesmo do terapeuta, ao mesmo tempo em que torna possível a criação e recriação do cliente" (grifos do autor).
Quando, em relação ao processo psicotera-pêutico, Rogers (2001) enfatiza o "ser o que realmente se é", podemos concluir que a ACP é inábil no que concerne ao desejo no sentido de desejo do excesso do Outro. Ou seja, já que se é o que realmente se é, este ser estaria saciado, fechado em sua interioridade, satisfeito. Contudo, se levarmos em conta a dimensão da tendência atualizante, podemos percebê-la como uma insaciabilidade dos seres, um constante poder ser que "pode, evidentemente, ser frustrada ou desvirtuada, mas não pode ser destruída sem que se destrua também o organismo"(Rogers,1983, p.40). Esta tendência traria uma constante renovação de padrões, uma alteridade muito longe de um estado de equilíbrio em que não raras vezes é pensada a ACP. Para Rogers (1983, p.43), a tendência atualizante iria "... em direção à ampliação das diferenças, à criação de novas informações e de novos padrões. Certamente, a redução de tensão ou a ausência de estimulação estão longe de ser o estado desejado pelo organismo...".
Propomos, então, uma compreensão da tendência atualizante como um processo que se alimenta da diferença, que sempre impacta o sujeito centrado e lhe traz uma novidade para aquilo que ele pensa ser sua própria imagem (self). O processo terapêutico, facilitador da liberação desta "tendência", muito mais do que um conhecer-se a si mesmo, diria respeito a uma desconstrução da imagem rígida de si, estranhamento e vulnerabilidade.
O sujeito centrado, a que nos referimos antes, seria um sujeito neurótico, mantido no império do mesmo, longe da afetação pela diferença radical que nos revela o Outro. Não é muito raro, na clínica, ouvirmos dos clientes em processos psicoterapêuticos considerados exitosos frases do tipo: "Passei por uma situação em que me desconheci, fiquei surpreso!". Rogers (1992, p.577), inclusive, embora não tenha uma preocupação específica com uma classificação "psicopatológica", define a neurose da seguinte forma: "na neurose típica, o organismo satisfaz uma necessidade não reconhecida pela consciência através de meios comportamentais coerentes com o conceito de self e que, portanto, podem ser conscientemente aceitos" (grifo nosso).
Rogers, contudo, não parece reconhecer esta possibilidade de compreensão de sua psicologia, quando afirma, acerca da vulnerabilidade: "emprega-se esta [a vulnerabilidade] quando se deseja ressaltar o perigo de desorganização psíquica a que este estado é suscetível de conduzir"(Rogers & Kinget, 1977, p.169). Nossa interpretação, por outro lado, conduz-nos em direção a uma constante revelação de um outro-de-si, que, no âmbito da fruição de um eu fechado em si, não se apresenta como possível, pois este não reconhece a excentricidade. Portanto, descartamos, aqui, uma condição apontada por Rogers (1994a, p.157) como primordial para que se desenvolva a relação terapêutica: o acordo interno por parte do terapeuta. Mesmo que reconheçamos um acordo precário como necessário, postulamos a necessidade de uma abertura e uma desconstrução para o acolhimento de uma diferença, e não um acordo totalizador da vulnerabilidade à estranheza, uma vez que esta noção abole a possibilidade de tensão e ruptura em que pode ser pensado o processo psicoterapêutico.
Mesmo no que diz respeito à formação do que podemos entender como self, faz-se necessária uma exterioridade para que este padrãoconceitual (Rogers, 1992) seja formado. Rogers vai chamar o que aqui nomeamos exterioridade, de "pessoas critério" (Rogers & Kinget, 1977), um tipo de valoração fora do sujeito e essencial para que possa se dar a constituição da imagem que este sujeito tem de si. Segundo Rogers (1992, p.566);
como resultado da interação com o ambiente, e particularmente, como resultado da interação avaliatória com os outros, é formada a estrutura do self - um padrão conceitual organizado, fluido e coerente de percepções de características do eu e do mim, juntamente com valores ligados a este conceito.
A ACP é apontada por muitos de seus teóricos como sendo uma abordagem dialógica de psicologia (Fonseca,1998; Holanda, 1997), aproximando-a de Buber. No que tange a este aspecto, Freire (2000, p.246 ) afirma que:
a "dialogicidade" buberiana que pressupõe uma reciprocidade, uma igualdade e uma eqüidade a toda prova, embora tenha sido reconhecida por Lévinas, vai de encontro à diacronia e à assimetria da alteridade radical, onde há uma "desigualdade ética" que se traduz por uma subordinação a outrem.
Contudo, o fato de o outro estar próximo (no sentido físico do termo) não implica que este não possa me remeter à idéia de Infinito. De fato, a distância ética não se dá no espaço que nos convém no pensamento usual. O cliente que está diante do terapeuta pode, mesmo estando face-a-face, muito bem ser um Outro, desde que a perspectiva adotada com relação a este não seja a de uma descoberta a seu respeito, mas uma revelação (portanto, constante mistério, devir) daquilo que lhe constitui como subjetividade.
Considerações Finais
Ao apontarmos maneiras outras de se pensar a ACP e seus principais conceitos, trazemos elementos novos, ao mesmo tempo em que temos, em Rogers e em Lévinas, as inspirações e aberturas possíveis para que se possa realizar tal produção.
Isso se refletiu, em nossa investigação, a partir do momento em que pudemos encontrar nas obras de Rogers uma perspectiva totalizadora da subjetividade do cliente, a partir da noção de acordo interno (violência ao estranhamento revelado pelo Outro), por exemplo, ao mesmo tempo em que o mesmo autor realiza uma prática definida por ele mesmo como amor não-possessivo, ou abertura ao outro. Daí porque, quando postulamos uma autenticidade ex-cêntrica, mantivemos o termo autenticidade, uma vez que, sem as possibilidades apontadas no discurso rogeriano, não poderíamos chegar a tal conclusão.
Evidentemente, não se trata, como já advertimos neste escrito, de argumentar a afirmação da existência de uma ACP "levinasiana", mas de reflexões que podem atentar, na prática clínica e facilitação de processos humanos em geral, para a escuta de um Dizer que não pode ser totalizado por qualquer técnica ou conceituação. Trata-se, conforme nos sugere Bezerra (2003), de uma desleitura e uma produção assumida de verdades.
A direção que tentamos dar à ACP, parece-nos muito mais a de uma Psicologia do absurdo e do desmedido, do que a de uma investigação técnico-científica como a empreendida por Rogers durante boa parte de seu trabalho. Como nos sugere Freire (2002), trata-se de uma ótica (escuta) da alteridade, uma busca do que não se pode ver, mas que nos toma como reféns e nos surpreende.
Para tal, faz-se necessária uma postura por parte do psicoterapeuta que não resista ao "inefável, ao invisível, ao efêmero e ao imponderável da existência" (Freire, 2000, p.281), conforme a nova interpretação que tentamos dar aqui à psicologia centrada na pessoa. Nossa proposição, então, é a de uma Abordagem Excêntrica da Pessoa, vulnerável ao excesso radical que nos constitui como humanidade.
Referências
Amatuzzi, M. M. (2001). Por uma psicologia humana. Campinas: Alínea.
Bezerra, H. A. (2003). Gestalterapia: ensaio de superação ética de sua violenta condição de psicoterapia do eu. Monografia de conclusão de curso em Psicologia não-publicada, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
Figueiredo, L. C. M. (1996).Matrizes do pensamento psicológico.Petrópolis: Vozes.
Fonseca, A. H. L. (1998). Trabalhando o legado de Rogers: sobre os fundamentos fenomenológico existenciais. Maceió: Pedang.
Fonseca, A. H. L. (junho, 2004). Apontamentos para uma história da psicologia e psicoterapia fenomenológica existencial: dita humanista. Acessado em junho 1, 2004, disponível em www.rogeriana.com
Freire, J. C. (2000). As psicologias na modernidade tardia: o lugar vacante do outro.Tese de doutorado não-publicada, Universidade de São Paulo.
Freire, J. C. (2002). O lugar do outro na modernidade tardia. São Paulo: Annablume.
Gadamer, H. G. (1997). Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes.
Holanda, A. F. (1997). Diálogo e psicoterapia: correlações entre Carl Rogers e Martin Buber. São Paulo: Lemos Editorial.
Leitão, V. M. (1986). Da teoria não-diretiva à abordagem centrada na pessoa: breve histórico. Revista de Psicologia, 4 (1), 65-87.
Lévinas, E. (1978). Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Paris: Kluwer Academic.
Lévinas, E. (1988). Ética e infinito. Lisboa: Edições 70.
Lévinas, E. (2000).Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70.
Moreira, V. (2001). Mas allá de la persona: hacia una psicoterapia fenomenológica mundana. Santiago: Editora Universidad de Santiago.
Pivatto, S. (2000). Ética da alteridade. In M. Oliveira (Org.), Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes.
Rogers, C. R. (1974). Psicoterapia e consulta psicológica. San tos: Martins Fontes.
Rogers, C. R. (1976). De pessoa para pessoa: o problema de ser humano. São Paulo: Pioneira.
Rogers, C. R., & Kinget, G. M. (1977).Psicoterapia e relações humanas. Belo Horizonte: Interlivros.
Rogers, C. R., & Rosenberg, R. (1977).A pessoa como centro.São Paulo: EPU.
Rogers, C. R. (1983). Um jeito de ser.São Paulo: EPU.
Rogers, C. R. (1987). Momentos de movimento.In C. R. Rogers, A. M. Santos & M. C. V. B. Bowen. Quando fala o coração. Porto Alegre: Artes Médicas.
Rogers, C. R. (1992). Terapia centrada no cliente. São Paulo: Martins Fontes.
Rogers, C. R. (1994a). As condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica de personalidade.In J. K. Wood. Abordagem centrada na pessoa.Vitória: Editora Fundação Ceciliano de Abreu.
Rogers, C. R. (1994b). Conceito de pessoa em pleno funcionamento. In J. K. Wood. Abordagem centrada na pessoa. Vitória: Editora Fundação Ceciliano de Abreu.
Rogers, C. R. (2001). Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes.
Recebido em: 20/10/2005
Versão final reapresentada em: 16/3/2006
Aprovado em: 19/4/2006
- Amatuzzi, M. M. (2001). Por uma psicologia humana. Campinas: Alínea.
- Bezerra, H. A. (2003). Gestalterapia: ensaio de superação ética de sua violenta condição de psicoterapia do eu. Monografia de conclusão de curso em Psicologia não-publicada, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
- Figueiredo, L. C. M. (1996).Matrizes do pensamento psicológicoPetrópolis: Vozes.
- Fonseca, A. H. L. (1998). Trabalhando o legado de Rogers: sobre os fundamentos fenomenológico existenciais. Maceió: Pedang.
- Freire, J. C. (2000). As psicologias na modernidade tardia: o lugar vacante do outro.Tese de doutorado não-publicada, Universidade de São Paulo.
- Freire, J. C. (2002). O lugar do outro na modernidade tardia. São Paulo: Annablume.
- Gadamer, H. G. (1997). Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes.
- Holanda, A. F. (1997). Diálogo e psicoterapia: correlações entre Carl Rogers e Martin Buber. São Paulo: Lemos Editorial.
- Leitão, V. M. (1986). Da teoria não-diretiva à abordagem centrada na pessoa: breve histórico. Revista de Psicologia, 4 (1), 65-87.
- Lévinas, E. (1978). Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Paris: Kluwer Academic.
- Lévinas, E. (1988). Ética e infinito. Lisboa: Edições 70.
- Lévinas, E. (2000).Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70.
- Moreira, V. (2001). Mas allá de la persona: hacia una psicoterapia fenomenológica mundana. Santiago: Editora Universidad de Santiago.
- Pivatto, S. (2000). Ética da alteridade. In M. Oliveira (Org.), Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes.
- Rogers, C. R. (1974). Psicoterapia e consulta psicológica. San tos: Martins Fontes.
- Rogers, C. R. (1976). De pessoa para pessoa: o problema de ser humano São Paulo: Pioneira.
- Rogers, C. R., & Kinget, G. M. (1977).Psicoterapia e relações humanas. Belo Horizonte: Interlivros.
- Rogers, C. R., & Rosenberg, R. (1977).A pessoa como centro.São Paulo: EPU.
- Rogers, C. R. (1983). Um jeito de ser.São Paulo: EPU.
- Rogers, C. R. (1987). Momentos de movimento.In C. R. Rogers, A. M. Santos & M. C. V. B. Bowen. Quando fala o coração. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Rogers, C. R. (1992). Terapia centrada no cliente. São Paulo: Martins Fontes.
- Rogers, C. R. (1994a). As condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica de personalidade.In J. K. Wood. Abordagem centrada na pessoa.Vitória: Editora Fundação Ceciliano de Abreu.
- Rogers, C. R. (1994b). Conceito de pessoa em pleno funcionamento. In J. K. Wood. Abordagem centrada na pessoa. Vitória: Editora Fundação Ceciliano de Abreu.
- Rogers, C. R. (2001). Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Set 2011 -
Data do Fascículo
Dez 2006
Histórico
-
Aceito
19 Abr 2006 -
Revisado
16 Mar 2006 -
Recebido
20 Out 2005