RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar e discutir o filme de horror brasileiro Trilogia de terror (1968)TRILOGIA de terror. Direção de Ozualdo Candeias, Luís Sérgio Person e José Mojica Marins. São Paulo: Produção Nacional de Filmes Ltda. (PNF); Produções Galasy Ltda.; Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira, 1968. 35 mm (101 min), BP. 3 episódios., que reuniu três dos mais destacados diretores paulistas na época: José Mojica Marins, Ozualdo Candeias e Luís Sérgio Person. Para realizarmos nossa análise, articularemos os conceitos de folk horror (Scovel, 2017)MONTEIRO, T. J. L.; CÁNEPA, L. L. Entre a carne e o espírito: relações de gênero nos filmes de horror de Jean Garrett. Literartes, São Paulo, n. 15, 2021. a discussões específicas do cinema brasileiro, particularmente às tensões entre o rural e o urbano (Bernardet, 1980;BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145. Tolentino, 2001TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.), para compreendermos aquilo que consideramos como um tensionamento entre tais instâncias em Trilogia de terror – observando-se a liminaridade dos espaços/gêneros cinematográficos, a mescla de referências religiosas, a alegoria política do Brasil e a passagem da ambientação rural para a urbana nos filmes brasileiros do gênero horror.
PALAVRAS-CHAVE:
Cinema brasileiro; Horror; Urbanização; José Mojica Marins; Ozualdo Candeias; Luis Sérgio Person
ABSTRACT
This article aims to analize the Brazilian horror film Trilogy of Terror (1968)TRILOGIA de terror. Direção de Ozualdo Candeias, Luís Sérgio Person e José Mojica Marins. São Paulo: Produção Nacional de Filmes Ltda. (PNF); Produções Galasy Ltda.; Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira, 1968. 35 mm (101 min), BP. 3 episódios., which brought together three of the most distinguished São Paulo directors at the time: José Mojica Marins, Ozualdo Candeias, and Luís Sérgio Person. To carry out our analysis, we will articulate the concepts of folk horror (Scovel, 2017)SCOVEL, A. Folk Horror: Hours Dreadful and Things Strange. Liverpool: Liverpool University Press, 2017. with discussions specific to Brazilian cinema, particularly to the tensions between rural and urban areas (Bernardet, 1980;BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145. Tolentino, 2001TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.), to understand what we consider to be a tension between such instances in Trilogy of Terror – observing the liminality of cinematographic spaces/genres, the mix of religious references, the political allegory of Brazil and the passage from rural to urban setting in Brazilian horror films.
KEYWORDS:
Brazilian cinema; Horror; Urbanization; José Mojica Marins; Ozualdo Candeias; Luís Sérgio Person
RESUMEN
Esta investigación pretende analizar y debatir la película de horror brasileña Trilogia de terror (1968)TRILOGIA de terror. Direção de Ozualdo Candeias, Luís Sérgio Person e José Mojica Marins. São Paulo: Produção Nacional de Filmes Ltda. (PNF); Produções Galasy Ltda.; Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira, 1968. 35 mm (101 min), BP. 3 episódios., que reunió a tres de los más destacados directores paulistas de la época: José Mojica Marins, Ozualdo Candeias y Luis Sérgio Person. Para realizar el análisis, articularemos los conceptos de folk horror (Scovel, 2018) a debates específicos del cine brasileño, especialmente las tensiones entre lo rural y lo urbano (Bernardet, 1980;BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145. Tolentino, 2001TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.), para entender las tensiones entre estas instancias en Trilogia de Terror –observando los límites de los espacios/géneros cinematográficos, la mezcla de referencias religiosas y la alegoría política de Brasil.
PALABRAS CLAVE:
Cine brasileño; Horror; Urbanización; José Mojica Marins; Ozualdo Candeias; Luis Sérgio Person
INTRODUÇÃO
Trilogia de terror, longa-metragem em episódios, lançado no Brasil em 1968, reuniu três dos mais destacados diretores pau- listas da época – Ozualdo Candeias (1922-2007), Luís Sérgio Person (1936-1976) e José Mojica Marins (1936-2020) – em uma das primeiras produções de Antonio Polo Galante (1934-), bem-sucedido produtor do circuito independente nacional dos anos 1970. Realizado no auge da popularidade de Mojica como artista multimídia vinculado ao gênero horror (como criador e intérprete do personagem Zé do Caixão), o filme também compartilhou outras tendências mercadológicas do cinema brasileiro daquele período: longas-metragens compostos como coletâneas de curtas e filmes derivados de programas televisivos 1 1 Entre as coletâneas de curtas, destacamos as produções de Galante, As Libertinas, (de Carlos Reichenbach, Antônio Lima e João Callegaro, 1968) e de Mojica, O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968). Entre as baseadas em programas de televisão, destaca- mos os filmes que reuniram episódios da série televisiva Águias de Fogo, de Ary Fernandes: Sentinelas do espaço (1969) e Águias em patrulha (1970). .
Trilogia de terror foi inspirado no programa semanal Além, muito além do além, que, desde outubro de 1967, era apresen- tado por Mojica e escrito por Rubens Francisco Luchetti (1930-) na recém-inaugurada TV Bandeirantes, de São Paulo. Sucesso das sextas-feiras à noite, fora produzido por Antonio Seabra (1933-2010) a partir do imenso sucesso de Esta noite encarnarei no teu cadáver (José Mojica Marins, 1967), que vinha arrecadando fortunas nas bilheterias nacionais (Barcinski; Finotti, 1998: 177)BARCINSKI, A.; FINOTTI, I. Maldito: a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998.. Esta noite encarnarei no teu cadáver… também alavancara o interesse midiático por performances populares, às quais Mojica chamava de “testes de atores”, que atraíam centenas de fãs para o seu estúdio instalado em uma sinagoga desativada no bairro do Brás, em São Paulo.
Além, muito além do além apresentava reconstituições de histórias de assombração supostamente relatadas por telespecta- dores (mas, na verdade, criadas por Luchetti). O argumento ‘realista’ do programa seguia os passos do popular Incrível! Fantástico! Extraordinário!, criado em 1947 pelo radialista Almirante (Henrique Foreis Domingues, 1908-1980) na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, depois transformado em fenômeno multimidiático na forma de livros, quadrinhos e filme homônimo de Adolpho Chadler (lançado pouco depois de Trilogia de terror, em 1969).
Os sucessos de Mojica empolgaram Galante e o seu sócio, Renato Grecchi, mas, para viabilizarem Trilogia de terror com financiamento público do recém-criado INC (Instituto Nacional de Cinema), os produtores decidiram reunir Mojica com outros enfant terribles do cinema paulista: Person e Candeias. Na opinião dos produtores, os dois cineastas, então consagrados, respecti- vamente, pelos longas O caso dos irmãos Naves (1967) e A margem (1967), seriam capazes de legitimar o cinema de Mojica junto aos críticos (Barcinski; Finotti, 1998: 205)BARCINSKI, A.; FINOTTI, I. Maldito: a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998.. Juntamente, havia mais do que isso na proposta de reuni-los, pois Person e Candeias já haviam trabalhado com Mojica no começo de suas carreiras no western A sina do aventureiro (1958), do qual Person fora roteirista não creditado, e no melodrama Meu destino em tuas mãos (1962), do qual Candeias fizera a assistência de direção.
Trilogia de terror estreou em 10 de junho de 1968, depois de alguns problemas com a Censura Federal. O longa teve recep- ção razoável entre os críticos, especialmente no caso dos trabalhos de Person e Candeias. Segundo Barcinski e Finotti (1998: 217)BARCINSKI, A.; FINOTTI, I. Maldito: a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998., o jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, publicou um texto com o título Tudo bem, antes de Mojica, que indicava que a estratégia de Galante e Grecchi para compensar a má vontade com Mojica fora fundamental para a aceitação da fita. Um dos únicos entu- siastas da obra inteira foi Salvyano Cavalcante de Paiva, que escreveu, no carioca Correio da Manhã, um de seus libelos ao cinema de entretenimento. Com seu estilo peculiar, Paiva explicitava as potências do filme como um todo ao exacerbar-se contra a censura a Trilogia, interditado: “talvez para não competir com os programas de alcovitagem (Casamento na TV), de caridade hipócrita (D. verdade), ou de estímulo à alienação mental e social (Chacrinha etc.)” (Paiva, 1968: 17)PAIVA, S. C. Trilogia de terror (3). Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 25 abr. 1968.. Ao mesmo tempo, ao descrever os episó- dios, não deixava de diferenciá-los, sugerindo Candeias como o ponto alto e pedindo mais sobriedade a Person. Assim, destacava a violência e o expressionismo presentes no filme de Mojica; “a obstinação poética” e o simbolismo propostos por Candeias; e, por fim, um Person “afastado do clima urbano, a tentar chegar ao mistério rural a partir do realismo crítico” (Paiva, 1968: 17)PAIVA, S. C. Trilogia de terror (3). Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 25 abr. 1968..
A relativa simpatia dos críticos não se refletiu nas bilheterias, transformando o projeto em mau negócio para os produtores. Com isso, quase toda a equipe ficaria longe do cinema de horror nos anos seguintes – à exceção de Mojica e Luchetti. Ainda assim, o filme reuniu aspectos produtivos, ideológicos e estéticos que revelam estratégias experimentadas pela indústria cultural brasileira no período pré-AI-5. Como observado por Reinaldo Cardenuto (2007: 63)CARDENUTO, R. Trilogia de terror. In: PUPPO, E. (org.). José Mojica Marins: 50 anos de carreira. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2007. p. 62., em Trilogia de terror, a partir de enredos diferentes, pôde-se observar uma “tendência comum para a intelectualização de temas originalmente voltados para o consumo popular”. Felipe Guerra e Carlos Gerbase também afirmam que “embora tenha sido concebido como um veículo popular para explorar comer- cialmente a fama de Mojica, acabou se tornando um filme complexo, realizado num período rico em experimentalismo do cinema brasileiro” (2022: 381)GUERRA, F. M.; GERBASE, C. Alegoria de terror: ressignificando Trilogia de terror (1968). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, Belo Horizonte, v. 12, n. 24, 2022..
Dando continuidade às reflexões ainda esparsas, feitas por diferentes autores sobre esse filme, o presente trabalho tem por objetivo analisar e discutir Trilogia de terror, relacionando-o ao conceito de folk horror(Scovel, 2018)SCOVEL, A. Folk Horror: Hours Dreadful and Things Strange. Liverpool: Liverpool University Press, 2017. e a discussões do cinema brasileiro, como a noção de rural(Galvão; Bernardet, 1983;GALVÃO, M. R. E.; BERNARDET, J.-C. Cinema, repercussões em caixa de eco ideológica: as ideias de “nacional” e “popular” no pensamento cinematográfico brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1983. Tolentino, 2001)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001., tomada em suas tensões diante do urbano. A análise buscará demonstrar que os três curtas que compõem o filme se estruturam sobre uma tensão entre o rural e o urbano que reflete um processo generalizado do cinema brasileiro dos anos 1960, mas que também pode ser verificado em um gênero específico – o horror – que ali dava passos decisivos para tornar-se comercialmente relevante no cinema popular brasileiro da década seguinte 2 2 Aqui nos referimos à relevância comercial das pornochanchadas de horror nos anos 1970 no Brasil (Monteiro; Cánepa, 2021). . Desse modo, Trilogia de terror é também uma memória da consolidação do horror como gênero cinematográfico brasileiro a partir de estratégias de narração e realização em pauta no cinema paulista daquele contexto, que serão debatidas ao longo deste trabalho. Em termos metodológicos, examina-se um gênero ou tendência cinematográfica, no contexto da ditadura civil-militar brasileira dos anos 1960-70, com base no cotejo entre análise fílmica e interpretações socioculturais 3 3 Este artigo se desdobra de interseções entre as extensas pesquisas de Laura Cánepa sobre o horror e a Boca do Lixo (Cánepa; Dennison, 2021; Monteiro; Cánepa, 2021) e Fábio Uchôa acerca de Ozualdo Candeias e as vertentes cinematográficas da época (Uchôa, 2019). . Sob esse viés, diversas outras ver- tentes fílmicas foram pesquisadas. O cinema moderno é visto como construção alegórica por Ismail Xavier (2005)XAVIER, I. A alegoria histórica. In: RAMOS, F. (org.). Teoria contemporânea do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2005. v. 1, p. 339-379.. O gênero erótico é estudado por Nuno Cesar Abreu (2006)ABREU, N. C. P. Boca do Lixo: cinema e classes populares. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006. no bojo do ciclo cinematográfico da Boca do Lixo paulistano como leitura da revolução sexual pelas classes populares brasileiras. Há, ainda, a caracterização do cinema marginal através da antinomia curtição/horror, por Fernão Ramos (1987)RAMOS, F. Cinema marginal (1968/1973): a representação em seu limite. São Paulo: Brasiliense, 1987.; ou o próprio cinema rural, tomado como romantização ou crítica à modernização brasileira, por Célia Tolentino (2001)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.. Em investigações mais recentes, novas vertentes e gêneros de filmes são abordados em busca de construções e memórias sobre o mesmo contexto. Este será o caso da noção de um paracinema associado à obra de Rafaelle Rossi na Boca do Lixo (Cánepa; Dennison, 2021)CÁNEPA, L. L.; DENNISON, S. Ed Wood brasileiro?: Raffaele Rossi, Boca do Lixo e uma certa ideia de mau filme no Brasil. Galáxia, São Paulo, n. 46, 2021., ou o cinema marginal na chave de um cinema de perambulação (Uchôa, 2016)UCHÔA, F. R. Traços da perambulação no cinema marginal. Alceu, Rio de Janeiro, v. 16, n. 33, p. 157-174, 2016.. É na senda de tais esforços que esse artigo enfatiza o horror, à luz das relações entre o rural e urbano em Trilogia de terror.
ASSOMBRAÇÕES DO CAMPO E DA CIDADE
O gênero horror sempre teve popularidade nas telas brasileiras em suas versões importadas, mas estreou, oficialmente, em sua versão nacional, em 1964, por iniciativa de Mojica, que realizou e estrelou À meia-noite levarei sua alma. Nesse longa, ele encarnou o personagem Zé do Caixão, vilão que aterroriza o povo pobre de uma cidadezinha rural, em um cenário repleto de ruas de chão batido e de matas inabitadas, dominado por uma mitologia calcada na presença de assombrações da floresta, premonições de bruxas e rituais preventivos relacionados a cemitérios e cadáveres. Zé do Caixão só passaria a assombrar o espaço urbano em 1969-70, no filme Ritual dos sádicos, exercício metalinguístico radical, feito em companhia de Luchetti, Carlos Reichembach, João Callegaro e Ozualdo Candeias.
Em Ritual dos sádicos, via-se um Zé do Caixão preocupado com os temas que depois povoariam o horror brasileiro nos anos 1970: as mulheres sexualmente livres, o uso de drogas, a contracultura, a circulação dos jovens desocupados, a miséria, a censura e o sensacionalismo da imprensa. Ritual dos sádicos seria proibido pela censura, chegando às telas somente dezessete anos depois, com o título de O despertar da Besta, mas, mesmo longe das telas, interromperia violentamente a ligação do horror brasileiro com o ambiente e a cultura do universo rural. Trilogia de terror foi realizado pouco antes dessa virada. Como veremos, os curtas de Candeias, Mojica e Person buscam reconstruir o ambiente dos causos de assombração, mas os choques entre um mundo urbano progressista e um mundo conservador rural ficam explícitos e são problematizados.
Destaca-se que o período em que Trilogia de terror foi produzido coincide com o surgimento, na Inglaterra, do que anos depois se convencionaria chamar de folk horror, termo utilizado como referência a filmes baseados no folclore (originalmente) anglo-saxão e em sociedades tradicionais, quase sempre em situações de choque com aspectos da modernidade. O termo também pode se referir a filmes de horror com características regionais e, não raro isso, se traduz em uma proximidade com a noção de horror rural, como explica Scovel. Para ele, “o folk horror constrói seu senso de horrífico em torno de sociedades e grupos que têm modos de vida isolados e, não por acaso, muitas vezes isso é um fenômeno mais rural do que urbano” (Scovel, 2017: 18)SCOVEL, A. Folk Horror: Hours Dreadful and Things Strange. Liverpool: Liverpool University Press, 2017..
Alguns filmes britânicos voltados à representação de comunidades rurais envolvidas com paganismo e violência costumam ser considerados os principais representantes do folk horror entre o final dos anos 1960 e o começo dos 1970, entre os quais O caçador de bruxas ( Witchfinder General, Michael Reeves, 1968) e O homem de palha ( The Wicker Man, Robin Hardy, 1973). A criação do termo folk horror para a indexação genérica desses filmes surgiu depois. A popularização do termo (que já aparecia antes, eventualmente, em textos críticos de cinema e literatura) costuma ser atribuída ao documentário de Mark Gatiss exibido na TV britânica pelo canal BBC: A History of Horror (2010). Segundo Gattis, o folk horror teria proposto um tipo de articulação para o gênero no Reino Unido que conflitava com as produções góticas da companhia britânica Hammer Films, então consagrada por trazer às telas monstros clássicos como vampiros e múmias.
Nos filmes de folk horror, além da ambientação rural, a ênfase recaía no poder das forças da natureza (mobilizadas em rituais pagãos) e nos aspectos sinistros notados em comunidades isoladas e autossuficientes. Aqui reside uma questão importante, porque quando se fala em folk horror, não se trata propriamente de histórias de horror baseadas em figuras do folclore – visto que, como destaca Johnston (2022: 1)JOHNSTON, D. The Folk of Folk Horror: Folk Horror in the Twenty-First Century Conference. Leeds: Leeds Beckett University, 2022., vampiros e lobisomens, por exemplo, pertencem ao folclore dos países em que surgiram como figuras da ficção – mas de um tipo específico de combinação de paisagem, trama e atmosfera. Scovel (2017: 17-18)SCOVEL, A. Folk Horror: Hours Dreadful and Things Strange. Liverpool: Liverpool University Press, 2017. aponta qua- tro características que singularizam os filmes compreendidos pela noção de folk horror. a primeira delas é a presença exuberante da paisagem, que é geralmente rural, mas pode trazer também uma rusticidade mais selvagem; a segunda é a existência de uma comunidade isolada marcada pelo pouco interesse em estabelecer contato com o mundo exterior; uma terceira característica é a existência, nessas comunidades, de crenças e padrões morais singulares, idiossincráticos ou francamente distorcidos em relação às convenções das sociedades ocidentais liberais; por fim, uma quarta característica é a apresentação de rituais, que incluem invoca- ção de demônios ou outros seres do mundo espiritual; além disso, para Johnston (2022: 1)JOHNSTON, D. The Folk of Folk Horror: Folk Horror in the Twenty-First Century Conference. Leeds: Leeds Beckett University, 2022., o folk horror se concentrará principal- mente em questões de identidade e poder. Para ele, as rupturas representadas nesses filmes estão nos desafios às relações de poder, que deslocam a compreensão do funcionamento real do universo das cidades e das classes educadas para a classe trabalhadora rural (Johnston, 2022: 1)JOHNSTON, D. The Folk of Folk Horror: Folk Horror in the Twenty-First Century Conference. Leeds: Leeds Beckett University, 2022..
Se até agora destacamos o debate em torno de filmes britânicos, Paciorek (2018: 14)PACIOREK, A. Folk Horror: From the Forests, Fields and Furrows: An Introduction. In: MALKIN, Grey et al. (ed.). Folk Horror Revival: Field Studies. 2. ed. Durham: Wyrd Harvest Press, 2018. p. 12-19. alega que filmes de outras épocas e países podem se encaixar no conjunto de características do folk horror. O autor traz como exemplos: Onibaba : a mulher demônio ( Obibaba, Kaneto Shindo, Japão, 1964); Viy : o espírito do mal ( Viy, Konstantin Yershov e Georgi Kropachyov, URSS, 1967) e Valerie e a semana das maravilhas ( Valerie a týden divů, Jaromil Jires, Tchescoslováquia, 1970). No caso dos três curtas-metragens brasileiros examinados neste artigo, ainda que eles não tenham tido inspiração direta na tendência internacional, parecem dialogar com questões que definem o espírito de uma época, tanto dentro quanto fora do Brasil.
CINEMA BRASILEIRO DOS ANOS 1960: UMA GUINADA NAS TENSÕES ENTRE RURAL E URBANO
Para subsidiar o debate do folk horror em suas sintonias com o cinema brasileiro, este tópico traz uma leitura dos escritos de Jean-Claude Bernardet e de Célia Tolentino quanto às tensões entre o rural e o urbano em filmes do período, especialmente na senda de uma possível guinada, marcada pela eclosão, em algumas obras particulares, de uma cidade que massacra os migrantes e de um rural que denuncia as opressões. A hipótese de urbanização do horror brasileiro, identificada na virada dos anos 1960-70, deve ser pensada nesse contexto. Trata-se de um momento no qual se afirma uma imagem “sociologicamente” “negativa da cidade e da urbanização”, à luz da experiência social da migração interna de sertanejos à cidade, intensificada nos anos 1960 (Bernardet, 1980: 148)BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145.. Para Bernardet, as referidas tensões dizem respeito a construções ideológicas e, ao mesmo tempo, a expressões de diferentes fases do capitalismo, no cinema brasileiro, ao longo do século XX.
No final dos anos 1960, a metropolização não era um fenômeno amplamente consolidado entre as cidades brasileiras. Nesse sentido, as diferentes construções do urbano se dariam por meio de olhares jamais dissociados das origens rurais, desdobran- do-se na ideia de filmes que “frequentemente mostrarão as estruturas urbanas nos moldes das rurais”. (Bernardet, 1968a)BERNARDET, J.-C. A cidade no cinema brasileiro. A Gazeta, São Paulo, 4 jun. 1968a.. Trata-se de um fenômeno que acompanha, por exemplo, o cinema paulista desde suas origens, a partir de diferentes figuras fundamentadas em negociações entre o rural e o urbano, incluindo uma guinada muito particular a partir dos anos 1960-70. Nesse período, haveria uma consolidação da cidade que massacra o migrante ou operário (Bernardet, 1980: 148)BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145.. Apesar de atrativa e fascinante, ela se torna sociologicamente opressiva ao sertanejo em busca de trabalho ou ao próprio trabalhador urbano.
Na filmografia dos diretores de Trilogia de terror, é possível encontrar diálogos com a referida cidade massacrante. Em São Paulo S.A. (1965), de Person, nota-se uma cidade torturante, cuja fragmentação acompanha a crise interna do empresário de classe média. Em A margem (1967), de Candeias, o urbano coloca-se como espaço da multidão e do trabalho, que oprime pedintes e tra- balhadores mal remunerados. Em O profeta da fome (Mauricio Capovilla, 1969), a emblemática figura do faquir Ali Khan, vivido por Mojica, utiliza-se da fome como meio de subsistência (o personagem sintetiza um trajeto que parte das figuras circenses, passando pelo messianismo rural e dirigindo-se à metrópole, entre os universos da mercadoria e do lixão). Enquanto essas figuras envolvem deslocamentos espaciais, associando campo e cidade, no caso de Trilogia de terror, os episódios se passam especialmente em regi- ões rurais ou limítrofes, sendo os embates entre o rural e o urbano explicitados a partir das referências culturais, bem como pelas construções das experiências e dos olhares.
Em busca da compreensão das tensões rural-urbano no cinema brasileiro, em torno dos anos 1960 é possível retomar não apenas a ideia de uma “cidade sociologicamente negativa” (Bernardet, 1980)BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145., mas também o argumento sobre uma modificação quanto ao tipo de olhar construído. Para Bernardet, por muito tempo o cinema brasileiro foi realizado por migrantes ou cineastas de origens não-urbanas (Bernardet, 1968a). A partir de filmes como São Paulo S.A., haveria um novo olhar, muito mais citadino e urbanizado, como origem para a construção das tensões entre o urbano e o rural. Tal hipótese se espelha, de certo modo, numa transição realizada pelo Cinema Novo – de um olhar com forte antecedente rural que, ao mesmo tempo, levaria a um renovado interesse pelo urbano 4 4 Esse argumento será explorado tanto por Bernardet em Brasil em temo de cinemaquanto por Alcides Freire Ramos (2005) em “Para um estudo das representações da cidade e do campo no cinema brasileiro (1950-1968)”. .
Cabe retomar os matizes do rural nos anos 1960, identificados por Célia Tolentino (2001)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.. Em termos sociológicos, o rural, segundo ela, “pode representar papéis diversos, dependendo do projeto de nação com o qual dialoga” (Tolentino, 2001: 12)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.. Se durante a primeira parte do século XX o cinema trazia majoritariamente um rural na qualidade de um outro parado no tempo, “como passado sem vigência, como tradição” (Tolentino, 2001: 12)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001., nos anos 1960 isso se inverteria. A hipótese de Tolentino aponta para uma guinada com a afirmação de um cinema político, que problematiza o rural não mais como passado, mas sim como permanência. Em termos sociais, a época é marcada pela transição de um Brasil rural para um país urbano, bem como pela entrada no jogo de classes anteriormente marginalizadas, recolocando a reforma agrária e a necessidade de questionar-se a intocabilidade da propriedade rural. Trata-se de um rural “insurgente”, que será “repensado pelos demais setores da sociedade” (Tolentino, 2001: 13)TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001. a partir de negociações, projetos de nação e identidades sobre o rural.
Se a hipótese sobre Trilogia de terror o coloca como um ponto avançado do horror rural logo antes de um ponto de virada ao horror urbano, no final dos anos 1960, as tensões exacerbadas no filme de 1968 podem ser pensadas à luz dos debates de Bernardet e Tolentino. Quanto à cidade, Bernardet explora a passagem a uma urbanidade “sociologicamente opressiva”, asso- ciada ainda a modificações quanto ao polo de construção do olhar, voltando-se às classes médias em suas interações com classes subalternas. Quanto ao rural, levando em conta as indagações de Tolentino, pode-se falar de uma transição característica aos anos 1960: no pré-1964, importantes filmes brasileiros trazem uma romantização do rural, tomando-o como reserva da cultura ou um Brasil pré-capitalista, com futuro em aberto. Já no pós-1964, acompanhando um processo de autoquestionamento das esquerdas, passa-se a um rural problematizado, não mais dicotômico, mas repleto de conflitos, na senda daquilo que Ismail Xavier (2003: 75)XAVIER, I. Os deuses e os mortos: maldição dos deuses ou maldição da história? Ilha do Desterro, Florianópolis, n. 44, p. 45-76, jul./dez. 2003. denomina de “alegorias do desengano”. Isso inclui o esforço de entender e trabalhar com a decepção pós-golpe, período no qual as tensões rural-urbano incorporariam, cada vez mais, o debate da modernização brasileira, bem como os diferentes disparates entre o arcaico e o moderno. Passando aos 1970, uma ótima síntese do rural como denúncia da modernidade desigual brasileira é O candinho (1976), de Ozualdo Candeias, filme no qual urbano e rural unem-se num cíclico e único inferno.
TRILOGIA DE TERROR
Os diretores reunidos em Trilogia do Terror tiveram liberdade para escolher, entre os roteiros de Luchetti para o programa de TV, as histórias que quisessem (Barcinski e Finotti, 1998: 205)BARCINSKI, A.; FINOTTI, I. Maldito: a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998.. Candeias optou por adaptar Noite negra (cujo título mudou para O acordo), que tratava de um homem que faz um pacto com o demônio em troca da cura para a doença da filha. Person escolheu Procissão dos mortos, sobre um menino que avista fantasmas numa floresta. Mojica decidiu adaptar o episódio Pesadelo maca- bro, inspirado em um ataque de catalepsia que ele presenciara quando criança. Nas adaptações, porém, os interesses pessoais dos diretores ultrapassaram as pretensões de Luchetti, que acabaria não sendo mencionado nos créditos (Luchetti, 2022: 33)LUCHETTI, R. F. Reminiscências: memórias do pai da pulp fiction brasileira. Rio de Janeiro: Corvo, 2022. v. 5.. Em Candeias, a comunidade de uma cidade interiorana vive entre uma guerra com pistoleiros e com a ameaça de demônios hippies. Person substituiu os fantasmas tradicionais por dezenas de cópias de Che Guevara. Mojica acrescentou violência sexual, animais peçonhentos e preconceito religioso à cena de sua infância.
Como ponto de partida extrafílmico, é possível apontar algumas contradições já presentes no material de divulgação de Trilogia de terror. No cartaz (Figura 1), por exemplo, nota-se o destaque à nudez feminina e uma condensação de imagens que não identifica claramente nenhum dos filmes. Nota-se também que, ao pé do cartaz, a ordem de apresentação dos curtas é diferente daquela do próprio filme, iniciando-se pelo curta de Mojica, que encerra o longa. Já nas fotografias de still, nota-se uma estratégia particular para cada episódio. No caso de O acordo, vê-se uma proposta pautada por certa documentação dos espaços e costumes caipiras, à luz do western(Figura 2). Entre as fotografias de Procissão dos mortos, sugerem-se associações com o cinema político, como na foto que traz o corpo putrefato de um guerrilheiro (Figura 3). No caso de Pesadelo macabro, tem-se o erotismo associado ao corpo feminino, com a fila de mulheres organizadas em ritual religioso (Figura 4).
Fotos de divulgação de Trilogia de terror, nesta ordem: (1) still do episódio O acordo; (2) still do episódio Procissão dos mortos; (3) still do episódio Pesadelo macabro.
A trilogia se inicia pelo episódio de Candeias. Aclimatado ao universo caipira paulista, O acordotraz uma mescla de horror e western, precedendo muitas das características daquilo que seria o faroeste caipira de Candeias 5 5 Em 1969 ele lançaria o primeiro de seus faroestes, Meu nome é Tonho, seguido em 1971 por A Herança. Alguns traços dos westernsde candeias seriam: o olhar próximo aos excluídos, no bojo do grande latifúndio; a violência, especialmente corporal, dos homens pela manutenção de tal poder ou das mulheres, tomadas em suas opressões e resistências; o cotidiano dos deserdados da terra; e as potências do silêncio e das vozes, dos efetivos herdeiros daquela ruralidade (Uchôa, 2019). . A intriga central acompanha a vida de uma mãe (Lucy Rangel) que, diante das dificuldades de saúde enfrentadas pela filha adolescente (Regina Céçlia), faz uma promessa ao um grupo de hippiessatânicos – isso, dentro de um constante jogo de opressão física e sexual exercida pelos donos da terra sobre as personagens 6 6 Críticos e estudiosos trazem variações interpretativas: para Gardnier – “Mulher faz acordo com o diabo, no qual, em troca de proteção para a família, ela terá de entregar uma virgem ao demônio” (2002: 54); para Paiva – “O poderoso fazendeiro, a filha dos pobres arrendatários, prometida ao dono da terra, a inquietação sexual da mãe – oferecida aos peões e ao futuro genro, negando suas obrigações conjugais com o marido” (1968: 17). .
O filme se organiza em torno desse acordo, ambientado entre o cotidiano da vila e os momentos insólitos de contatos das personagens com o mundo sobrenatural. Quanto à construção do rural, há uma proximidade com a cultura local e seus costumes, incluindo atenção aos embates de poder, impostos por fazendeiros e seus capangas, pela manutenção de uma ordem fundiária patriarcal. Neste caso, o rural é construído como herança conflituosa, a ser questionada e denunciada. Quanto à construção dos espaços, estes se associam ao não-urbanizado, às choupanas de pau a pique, aos espaços de mata e aos vestígios de olarias – sendo esses últimos áreas limítrofes, espaços rurais conectados à construção do urbano, enquanto fonte de matéria prima. As relações com as entidades rituais ocupam a coluna central de causas e efeitos do filme, acompanhadas em segundo plano pelas tensões corporais impostas pelos latifundiários aos habitantes da região.
Colocado o problema da filha adoentada, após um ritual e uma alucinação, a mulher fecha o acordo em um encontro com jovens de sexualidade fluida, seminus ou vestidos com roupas da moda (Figura 5), levando então a embates com o sobrenatural que culminarão com um novo ritual, estranhamente dispersado pela chegada de um figurante de Cristo que circula pelos ambientes desde o começo do filme, comportando-se como uma espécie de testemunha ou comentador de uma fábula moral (Figura 6). No final, não sabemos se a protagonista sobrevive ou se sua filha é salva da doença.
A conclusão aberta lança luz a uma possível ironia às atuações rituais, sejam elas de um universo considerado perigoso (umbanda mesclada a um ecletismo hippie), sejam elas cristãs. Cabe destacar tais passagens rituais como ironias à ordem patriar- cal rural. Nelas, a mescla de tendências religiosas e culturais desponta como característica urbana. Na primeira passagem ritual (Figura 7), o contato com o caboclo inclui a referência à umbanda, mais urbanizada, em relação ao candomblé, especialmente tra- tando-se de uma religião “universal” em termos de classes e voltada “para as massas” (Prandi, 1991: 21)PRANDI, R. Os candomblés de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1991.. Na segunda passagem ritual, durante a realização do acordo para a salvação da filha, a tratativa é feita com um líder religioso mais urbano, hippie, rodeado por dançarinas iê-iê-iê, em diálogo com vertente do rock brasileiro da época (Figura 8).
Ao longo do filme, com o gradual acúmulo de tensões entre mundos, a coexistência de gêneros audiovisuais, lado a lado com as representações da cultura local, encontram-se entre as principais tônicas narrativas. Sob essa perspectiva, seria possível divi- dir o filme em dois blocos, com diferentes gerenciamentos, quanto à mescla de gêneros e ao registro dos costumes locais: do início ao primeiro ritual, incluindo o acordo feito; posteriormente, o momento compreendido até o final, com a oferenda efetivamente realizada. Ao longo da primeira parte, nota-se um diálogo com o western, colocado pelo conservadorismo e violência nas relações sociais, mas também um certo olhar à cultura caipira. Há uma atenção aos espaços de trabalho, abarcando a olaria e trabalhadores nela envolvidos, os artesãos da madeira ou, então, os encontros frente à igreja, tomada como um dos centros de sociabilidade. Esse tipo de documentação local, por sua vez, já estava presente em passagens de A sina do aventureiro (1958), de Mojica. Nesse sentido, a incorporação do westernem O acordoé acompanhada por uma tentativa de registro dos costumes rurais – não destitu- ídos de ironias, como, por exemplo, a presença de um trio de pistoleiros em tom de comédia do período silencioso (Figuras 9 e 10).
Quanto aos dois momentos rituais, as formas de relação com o fantástico são variáveis. Num primeiro momento, a mediação é feita pelas entidades, com a intimação da personagem pelo Caboclo (Figura 11). Num segundo momento, em sequência ao ritual de umbanda, a personagem suplicará ao além, sendo respondida por um grupo de hippies-satânicos que lhe pedem o corpo de uma donzela como oferenda. Aqui, porém, as relações se aproximam da alucinação, não mais mediadas (Figura 12). O encontro final, para a realização da oferenda, se dará do mesmo modo, com tendência à alucinação, à luz de uma mistura de influências místicas, religiosas e musicais.
Paralelamente àspassagens fantásticas eà fluidez degêneros, Oacordoapresentaaindaumaterceiraformadejogocomaordem patriarcal:trata-sedadenúnciadaopressãofeminina,associadaaumabrechadeconsciência,docorpocomoformadeseduçãoeresistência. Em termos de construção estilística, a violência de certos enquadramentos, os movimentos de câmera, bem como as interações entre os corpos são uma das marcas do cinema rural de Candeias. Em O acordo, isso se explicita na construção das personagens da mãe e da filha, onde a forte opressão convive com possibilidades resistência. Se no início da fita a insistência do noivo em beijar Rosinha a contragosto é opressão física (Figura 11), tal violência é mais pesada em outras situações, como a sequência na qual as personagens são assassinadas ou coagidas pelos capangas, entre os escombros de uma olaria (Figuras 12 e 13). Por outro lado, no caso de personagens femininas enlouquecidas, como uma senhora que circunda a casa de Rosinha, suas gargalhadas parecem unir ironia e vingança diante das imposições patriarcais. Durante os bailes com os homens da cidade ou mesmo em rituais, o corpo da protagonista (mãe) se coloca como moeda de troca, mas, ao mesmo tempo, como resistência, lembrando da potência de certas cafetinas e prostitutas urbanas no cinema de Candeias.
No segmento Procissão dos mortos, de Person, os diálogos com o horror, as tensões rural-urbano e o fantástico se mesclam ao político. A história se ambienta numa pequena cidade, cujos habitantes convivem com aparições de guerrilheiros. Entre as prin- cipais motivações, nota-se a preocupação em desvendar as estranhas aparições, imaginárias e reais, ocorridas entre as regiões de serra e nas cercanias de uma pedreira. Os protagonistas são o menino Quinzinho (Carlos Romano, Figura 14) e seu pai Miguel (Lima Duarte, ao centro Figura 15), com seus diferentes contatos estabelecidos com os visitantes armados, em torno dos quais o enredo traz três movimentos. Inicialmente, o encontro de um guerrilheiro em decomposição, por Quinzinho, em uma de suas expedições à mata para caçar passarinhos. Além do trauma gerado na criança, a vinda da polícia para pegar o corpo (Figura 16) motiva rumores entre os habitantes do vilarejo em torno das estranhas aparições, incluindo o boato de que Quinzinho seria um colaborador da luta armada, levando seu pai a tentar provar o contrário.
Num segundo movimento, querendo questionar a crendice dos demais, Miguel vai à pedreira de madrugada, onde é assassi- nado por uma centena de guerrilheiros parecidos com o Che Guevara (Figura 17), numa emboscada construída como um pesadelo noturno (Figuras 18 e 22). Depois da morte do pai, acompanha-se a nova aventura de Quinzinho pela floresta. O garoto maneja uma metralhadora, que é carregada por outro guerrilheiro (Figuras 19 e 20).
Numa chave alegórica, as aparições se referem à morte de Che Guevara, ocorrida em 1967.Issodizrespeitoàssimilaridadesfaciais, às referencias em jornais manuseados por um dos personagens (Figura 21), bem como à figura do corpo do guerrilheiro sobre o caixão, cercado de policiais (Figura 16). Ademais, em 1966 se iniciara a guerrilha do Araguaia 7 7 Movimento de resistência armada por militantes do PCdoB. , outro fato com possíveis ecos em Procissão dos mortos. A partir desses ecos, no filme, o rural se torna local de conflito entre a empresa capitalista, sintetizada pela indústria de extração mineral, e a necessidade de ação direta contra tal ordem ou contra uma certa construção midiática da guerrilha como fantasma a ser temido. Tais tensões se aplicam também aos trajetos de Miguel e Quinzinho. Enquanto o pai se confronta com a guerrilha, numa ação onírica, nas cercanias da pedreira, o filho tende ao diálogo e à adesão, por meio do contato direto, nos espa- ços da mata. A ida de Miguel à mina é construída como um grande pesadelo, que reverbera os planos de conjunto dos funcionários da mina (Figura 22), num universo real, e dos guerrilheiros fantasmas num universo demoníaco (Figura 23), tomados como possíveis classes em confronto.
Nesse sentido, as paisagens rurais de Procissão dos mortos também guardam entre si um certo didatismo de uma possível opção pela luta armada em detrimento da guerrilha construída como fantasma político. A modernidade formal do filme também
aponta para essa opção, atentando para uma proximidade maior com a experiência de Quinzinho, seja a partir do faux raccords de sua corrida depois da primeira experiência na mata, seja com a ruptura da quarta parede, no plano final do filme, como veremos adiante. Extrapolando o espaço diegético do filme, é possível pensar nas serras de Procissão dos mortos como espaços simbólicos mais amplos, unindo Brasil e Cuba pela luta armada e por uma possível identidade latino-americana de resistência.
Os contatos com a cultura local, por sua vez, parecem reafirmar a referida dualidade entre contraposição ingênua e adesão à luta armada, com a opção final pela ação direta. Procissão dos mortos parte de uma consciência urbana, incluindo diálogos com o cinema paulista anterior e suas apreensões da cultura caipira. O início do filme, incluindo o sítio e a ida de Quinzinho à mata, bem como o pesadelo de Miguel entre os guerrilheiros, traz memórias narrativas de obras como Candinho (1953), de Abílio Pereira de Almeida, e O Saci (1953), de Rodolfo Nanni. No filme de Person, a construção do sítio – dividida entre internas e externas, mediada pelo olhar através janela, bem como um certo controle da criança pela mãe a partir de gritos que ecoam pelo espaço – não deixa de lembrar de Candinho (1953) e da geografia desses mesmos espaços nos momentos que precedem a viagem do caipira para a cidade. Mas enquanto a geografia inicial do filme de 1953 se associa ao funcionamento da família rural conservadora, na qual o espaço do filho adotado é ironizado, no filme de Person a criança possui suas malícias, conseguindo desvencilhar-se do poder fami- liar. Se a caça de pássaros nos remete a um saber rural, também alegórico dentro das referências internas de Procissão dos mortos, as idas à mata colocam Quinzinho diante de dilemas com ecos urbanos, mediados pela luta armada.
Outro importante subtexto, presente no episódio de Person, é o diálogo com O Saci (1953), de Rodolfo Nanni (Cánepa, 2009)CÁNEPA, L. L. O saci e procissão dos mortos: autorreferência fantástica no cinema paulista. Rumores, São Paulo, v. 1, n. 6, 2009.. Visualmente, Procissão dos mortos se remete diretamente ao filme de Nanni, atualizando-o quanto às representações populares do fantástico, bem como quanto aos contatos do personagem infantil com o mundo rural. Em termos narrativos, os plots dos dois filmes trazem a “fuga para a floresta com o objetivo de buscar algum animal ou entidade mítica da natureza” (Cánepa, 2009: 5)CÁNEPA, L. L. O saci e procissão dos mortos: autorreferência fantástica no cinema paulista. Rumores, São Paulo, v. 1, n. 6, 2009.. Por outro lado, em Procissão dos mortos, a fotografia feita por Osvaldo de Oliveira traz referências diretas a O Saci. Isso se dá por meio dos enquadramentos e da colocação dos corpos, em duas passagens: 1) durante a primeira expedição de Quinzinho à mata, quando se abaixa para beber água no riacho (Figuras 24 e 25); e, depois, 2) ao longo da morte de Miguel pelos guerrilheiros, em sua visita noturna à pedreira (Figuras 26 e 27).
Ao retomar O Saci, o filme de Person coloca também em jogo as relações rural-urbano mediadas pelo contato da criança com a natureza. Enquanto em O Saci o passeio pelo mundo selvagem permitia um contato com um Brasil idílico, em Procissão dos mortos a interação com o rural exige o posicionamento político. Assim, em Procissão dos mortos, a relação com os guerrilheiros obriga Quinzinho a lidar com uma realidade mais adulta, violenta e urgente, embora mantendo a possibilidade de um romantismo, neste caso antiautoritário e possivelmente anticapitalista. O dilema de Quinzinho reafirma os conflitos com o urbano presentes em alguns dos espaços da pequena vila, como a paisagem da pedreira ou o cerco dos espaços da cidade pela polícia. Sob a experiência de Quinzinho, o rural de Procissão dos mortos reapresenta a guerrilha e a possibilidade de transformação por meio de uma paisagem imaginária que parece unir a América Latina como espaço de resistência.
Pesadelo macabro, de Mojica, apresenta uma filiação mais direta ao horror clássico – especialmente pelo argumento do homem com premonições de ser enterrado vivo, recorrente em narrativas de horror como as de Edgar Allan Poe. Sob os ecos do filme de Person, a ideia central, do personagem que é enterrado vivo, não deixa de manter diálogos com o contexto político geral brasileiro. Por outro lado, o choque entre o existente e as alucinações ganha uma orquestração minuciosa e complexa, colocando-se como chave para o debate da narrativa em seus possíveis diálogos com o folk horror – neste caso, especialmente quanto às tensões entre rural e urbano por meio de uma urbanidade em ruínas, dos rituais pan-religiosos e da representação uma elite local decadente.
A trama se inicia por uma forte alucinação que traz ao jovem Cláudio (interpretado por Mario Lima), prestes a se casar, a premonição de ser enterrado vivo (Figuras 28 e 29). Ao longo do filme, diversas situações colocarão à prova a veracidade do pesadelo, que se concretizará no final. Desde o início, o dilema interno de Cláudio, buscando curar-se de seus pesadelos, inclui os confrontos entre a medicina urbana (Figura 30) e rituais religiosos com reminiscências rurais.
Seus pais convocam um médico amigo da família, preocupados em manter uma imagem de equilíbrio diante dos rumores da sociedade local sobre a saúde mental de Cláudio. Sem encontrar resultado na psiquiatria, o jovem apela a forças ocultas, sem noção do preço a ser pago. Recepcionado por uma curandeira, ele presencia um ritual que reúne diferentes matrizes religiosas: os tam- bores e cantos afro-brasileiros (Figura 31) convivem com a incorporação de entidades, mesclando origens negras e indígenas e a presença de comedores de vidro e insetos, de reminiscência circense. A parte inicial do ritual, presenciada por um olhar bastante próximo aquele de Claudio, será sucedida por uma espécie de batismo de mulheres, desnudadas por um chicoteador (Figuras 32 e 33). O terreiro é aqui, novamente, uma paisagem limítrofe, nas bordas da cidade interiorana, na qual se desdobram atividades liminares, de cura espiritual e corporal para Cláudio e, ao mesmo tempo, de ajuda socioeconômica para as moças que participam do ritual (como ele descobrirá, ficando bastante incomodado).
Tais espaços liminares cumprem importante função na narrativa do curta. Este será o caso de uma mansão abandonada, visitada por Cláudio e sua noiva (Figuras 34, 35 e 36). Nesse espaço de ruína da burguesia rural, o protagonista será morto e sua noiva violentada por um grupo de ladrões mal-encarados (Figuras 37, 38 e 39). Nova situação, na qual um espaço limítrofe se arti- cula ao borrar dos limites entre a consciência e as alucinações. Neste caso, a trupe de ladrões é vista por Claudio como que saída de seus sonhos e, em off, escutamos a voz de sua noiva perguntando se eles são reais.
O jogo de tensões será retomado durante o movimento final do curta, o enterro de Cláudio. A ação ocorre num pequeno cemitério, cujas lápides se estendem pelo chão de terra. A simplicidade arquitetural, porém, se contrapõe à riqueza dos trajes dos amigos da família, muitos deles bem-vestidos, de terno e gravata, ou as próprias mulheres, com vestidos de luto selecionados para a ocasião. Depois do alarde da noiva (Figura 40), o grupo de presentes corre em direção ao túmulo de Cláudio. O grupo é construído, em plano geral, como uma multidão de mortos-vivos, deslocando-se entre as lápides (Figura 41). No ato de puxar o caixão de volta à superfície, serão vistos pelos olhos do protagonista enterrado (Figura 42), já sufocado, valendo lembrar que a visão de mundo de Cláudio se fará bastante presente ao longo do filme, desde o pesadelo inicial, vivenciado por ele, ao plano do personagem se sufocando dentro do caixão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM FOLK HORROR BRASILEIRO?
Os curtas-metragens de Trilogia de terror se encerram com planos nos quais personagens olham em direção à câmera, com diferentes indagações – estratégia que, como observado por Baecque (2010: 52-53)BAECQUE, A. Cinefilia. São Paulo: Cosac Naify, 2010., marcaria o cinema moderno a partir da Nouvelle Vague. Em O acordo, o figurante de Cristo (Figura 43) parece direcionar à câmera uma indagação moral sobre o obscu- rantismo e o poder ligados ao exercício da sexualidade em uma sociedade patriarcal e desigual. Em Procissão dos mortos, pode-se sugerir que há um chamado à ação direta da juventude (Figura 44). Em Pesadelo macabro, tem-se um personagem silenciado pela família tradicional, pela religião, pela medicina e por outros homens, abandonado a uma experiência de puro sofrimento e pavor (Figura 45).
Em busca de uma estrutura que unifique, para além do gênero horror tomado de maneira ampla, três obras tão diferentes, este trabalho propôs o debate sobre o folk horror que, de certo modo, encontra eco no horror brasileiro do mesmo período. Assim, conforme as categorias descritivas do folk horror propostas por Scovel (a importância dada à paisagem não-urbana; o isolamento das comunidades; as crenças singulares e a existência de rituais específicos), pode-se chegar a pontos de entrecruzamento entre os filmes.
O acordo traz um olhar pautado pela paisagem rural, com reminiscências urbanas. Entre suas principais paisagens, despon- tam os elementos da pequena cidade e seus entornos relegados aos poderes do coronelismo local, mas com espaços de tensão significativos. Nota-se uma sociedade fechada em torno de seus jogos de poder, mediados pelas forças da igreja, dos latifundiários, dos cultos religiosos e das tentativas de resistência por mulheres oprimidas. As presenças do urbano se fazem pela chegada de viajantes, pelo contato com o médico e, sobretudo, pelas passagens rituais, com a construção de uma pan-religiosidade, unindo heranças indígena, africana, hippie, cristã e a cultura midiática da época. As duas passagens de contato com entidades rituais, no início e final do filme, colaboram com a ruptura da ordem rural instaurada, impondo resistências – não sem ambiguidades.
Já os espaços de Procissão dos mortos trazem paisagens rurais tensionadas pela necessidade de adesão à luta armada ou pela denúncia da guerrilha como fantasma, na chave do conservadorismo local. Entre os personagens, o foco recai numa classe trabalhadora rural em processo de industrialização, à luz dos próprios dilemas, tendo o capitalismo e a polícia como entidades distantes, porém com grande poder de cerceamento no imaginário local. Nesse filme ainda há um senso de comunidade entre os habitantes e trabalhadores locais, que os organiza não em torno de rituais mágicos ou religiosos, mas sim em torno do dilema da adesão ou não à luta armada. Ainda assim, Miguel usará um talismã misterioso para ir em busca dos guerrilheiros – que o destrui- rão impiedosamente, em uma espécie de antirritual.
Quanto aos possíveis ecos do folk horror em Pesadelo macabro, nota-se que Mojica inclui a ambientação limítrofe, passando pela urbanidade em ruínas – com o casarão abandonado – e pelo terreiro, referido no filme como um espaço de “macumba”, embora marcado pela bricolagem religiosa. Por outro lado, quanto às classes sociais enfatizadas, destaca-se uma elite local deca- dente, especialmente preocupada com os ruídos à sua imagem. A passagem do ritual de macumba não deixa de trazer os confron- tos de extratos negros, índios e ciganos diante da presença de um filho da elite local. Uma passagem bastante forte, nesse sentido, será um “plano-ponto-de-vista” de Cláudio, no qual um dos caboclos do terreiro o olha de modo amedrontador e inicia um canto de capoeira, dizendo: “a bananeira que eu plantei à meia noite já deu cacho nesse terreiro”. Levando à frente os ecos da passagem de candomblé sobre os pesadelos de Claudio, é possível pensar na ruralidade de Pesadelo macabro como local de certo confronto de extratos rurais excluídos em relação às elites locais decadentes.
Historicamente lançado no ano de decreto do AI5, Trilogia de terror realoca a experiência cinematográfica paulista ante- rior, acumulada no trajeto de seus realizadores, agora em diálogo com o horror enquanto proposta transversal. No conjunto dos três filmes, é patente a posição central de Mojica, assim como entrecruzamentos em que é possível destacar: as representações da religiosidade e da cultura popular; as diferentes incorporações do insólito e do horror; a condição limítrofe, em termos de gêneros cinematográficos, referências literárias e audiovisuais; as relações alegóricas da tríade de filmes com as violências e perseguições políticas em curso no período; a tensão entre o rural e o urbano. Cada um dos curtas gerencia a seu modo esse conjunto de ele- mentos, com variáveis matizes alegóricos e de representação do popular. Voltar a este filme em 2022 nos permite perceber quanto o horror brasileiro participou de maneira produtiva dos debates do cinema brasileiro ao longo de sua história, não podendo ser pensado como um elemento apartado de processos mais amplos do cinema nacional, inclusive em sua relação com tendências estrangeiras. Tomando a memória como construção “aberta à dialética da lembrança e do esquecimento”, “suscetível de longas latências e repentinas revitalizações” (Nora, 1993: 9)NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, v. 10, 1993., Trilogia de Terror traz também uma memória particular da consolidação do horror como gênero no Brasil à luz das tensões do mercado cinematográfico, da cultura, da urbanização e da política no Brasil dos anos 1960.
Fonte de financiamento: Instituto Anima.
Contribuição dos autores: Uchoa, F. R.: Curadoria de dados; pesquisa de imagens; conceituação; análise formal; metodolo- gia; investigação; escrita; revisão e edição. Cánepa, L. L.: Curadoria de dados; pesquisa e edição de imagens; conceituação; análise formal; metodologia; investigação; escrita; revisão e edição.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ABREU, N. C. P. Boca do Lixo: cinema e classes populares. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006.
- BAECQUE, A. Cinefilia. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- BARCINSKI, A.; FINOTTI, I. Maldito: a vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998.
- BERNARDET, J.-C. A cidade e o campo: notas iniciais sobre a relação entre a cidade e o campo no cinema brasileiro. In: ANDRADE, R. (ed.). Cinema brasileiro: 8 estudos. Rio de Janeiro: Embrafilme: Funarte, 1980. p. 139-145.
- BERNARDET, J.-C. A cidade no cinema brasileiro. A Gazeta, São Paulo, 4 jun. 1968a.
- CÁNEPA, L. L. O saci e procissão dos mortos: autorreferência fantástica no cinema paulista. Rumores, São Paulo, v. 1, n. 6, 2009.
- CÁNEPA, L. L.; MONTEIRO, T. J. Noite em chamas, os anos 1970 sob as lentes de Jean Garrett. Significação, São Paulo, v. 46, n. 52, 2019.
- CÁNEPA, L. L.; DENNISON, S. Ed Wood brasileiro?: Raffaele Rossi, Boca do Lixo e uma certa ideia de mau filme no Brasil. Galáxia, São Paulo, n. 46, 2021.
- CARDENUTO, R. Trilogia de terror. In: PUPPO, E. (org.). José Mojica Marins: 50 anos de carreira. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2007. p. 62.
- GALVÃO, M. R. E.; BERNARDET, J.-C. Cinema, repercussões em caixa de eco ideológica: as ideias de “nacional” e “popular” no pensamento cinematográfico brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1983.
- GARDNIER, R. O Acordo (1º episódio de Trilogia de terror). In: PUPPO, E. (org). Ozualdo Candeias. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. p. 54.
- GUERRA, F. M.; GERBASE, C. Alegoria de terror: ressignificando Trilogia de terror (1968). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, Belo Horizonte, v. 12, n. 24, 2022.
- JOHNSTON, D. The Folk of Folk Horror: Folk Horror in the Twenty-First Century Conference. Leeds: Leeds Beckett University, 2022.
- LUCHETTI, R. F. Reminiscências: memórias do pai da pulp fiction brasileira. Rio de Janeiro: Corvo, 2022. v. 5.
- MONTEIRO, T. J. L.; CÁNEPA, L. L. Entre a carne e o espírito: relações de gênero nos filmes de horror de Jean Garrett. Literartes, São Paulo, n. 15, 2021.
- NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, v. 10, 1993.
- PACIOREK, A. Folk Horror: From the Forests, Fields and Furrows: An Introduction. In: MALKIN, Grey et al. (ed.). Folk Horror Revival: Field Studies. 2. ed. Durham: Wyrd Harvest Press, 2018. p. 12-19.
- PAIVA, S. C. Trilogia de terror (3). Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 25 abr. 1968.
- PRANDI, R. Os candomblés de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1991.
- RAMOS, A. F. Para um estudo das representações da cidade e do campo no cinema brasileiro (1950-1968). Fênix, Uberlândia, MG, v. 2, n. 2, 2005.
- SCOVEL, A. Folk Horror: Hours Dreadful and Things Strange. Liverpool: Liverpool University Press, 2017.
- TOLENTINO, C. A. F. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Unesp, 2001.
- TRILOGIA de terror. Direção de Ozualdo Candeias, Luís Sérgio Person e José Mojica Marins. São Paulo: Produção Nacional de Filmes Ltda. (PNF); Produções Galasy Ltda.; Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira, 1968. 35 mm (101 min), BP. 3 episódios.
- UCHÔA, F. R. Traços da perambulação no cinema marginal. Alceu, Rio de Janeiro, v. 16, n. 33, p. 157-174, 2016.
- UCHÔA, F. R. Ozualdo Candeias e o cinema de sua época (1967-84). São Paulo: Alameda, 2019.
- XAVIER, I. A alegoria histórica. In: RAMOS, F. (org.). Teoria contemporânea do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2005. v. 1, p. 339-379.
- XAVIER, I. Os deuses e os mortos: maldição dos deuses ou maldição da história? Ilha do Desterro, Florianópolis, n. 44, p. 45-76, jul./dez. 2003.
- RAMOS, F. Cinema marginal (1968/1973): a representação em seu limite. São Paulo: Brasiliense, 1987.
-
1
Entre as coletâneas de curtas, destacamos as produções de Galante, As Libertinas, (de Carlos Reichenbach, Antônio Lima e João Callegaro, 1968) e de Mojica, O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968). Entre as baseadas em programas de televisão, destaca- mos os filmes que reuniram episódios da série televisiva Águias de Fogo, de Ary Fernandes: Sentinelas do espaço (1969) e Águias em patrulha (1970).
-
2
Aqui nos referimos à relevância comercial das pornochanchadas de horror nos anos 1970 no Brasil (Monteiro; Cánepa, 2021)MONTEIRO, T. J. L.; CÁNEPA, L. L. Entre a carne e o espírito: relações de gênero nos filmes de horror de Jean Garrett. Literartes, São Paulo, n. 15, 2021..
-
3
Este artigo se desdobra de interseções entre as extensas pesquisas de Laura Cánepa sobre o horror e a Boca do Lixo (Cánepa; Dennison, 2021;MONTEIRO, T. J. L.; CÁNEPA, L. L. Entre a carne e o espírito: relações de gênero nos filmes de horror de Jean Garrett. Literartes, São Paulo, n. 15, 2021. Monteiro; Cánepa, 2021)CÁNEPA, L. L.; DENNISON, S. Ed Wood brasileiro?: Raffaele Rossi, Boca do Lixo e uma certa ideia de mau filme no Brasil. Galáxia, São Paulo, n. 46, 2021. e Fábio Uchôa acerca de Ozualdo Candeias e as vertentes cinematográficas da época (Uchôa, 2019)UCHÔA, F. R. Ozualdo Candeias e o cinema de sua época (1967-84). São Paulo: Alameda, 2019..
-
4
Esse argumento será explorado tanto por Bernardet em Brasil em temo de cinemaquanto por Alcides Freire Ramos (2005)RAMOS, A. F. Para um estudo das representações da cidade e do campo no cinema brasileiro (1950-1968). Fênix, Uberlândia, MG, v. 2, n. 2, 2005. em “Para um estudo das representações da cidade e do campo no cinema brasileiro (1950-1968)”.
-
5
Em 1969 ele lançaria o primeiro de seus faroestes, Meu nome é Tonho, seguido em 1971 por A Herança. Alguns traços dos westernsde candeias seriam: o olhar próximo aos excluídos, no bojo do grande latifúndio; a violência, especialmente corporal, dos homens pela manutenção de tal poder ou das mulheres, tomadas em suas opressões e resistências; o cotidiano dos deserdados da terra; e as potências do silêncio e das vozes, dos efetivos herdeiros daquela ruralidade (Uchôa, 2019)UCHÔA, F. R. Ozualdo Candeias e o cinema de sua época (1967-84). São Paulo: Alameda, 2019..
-
6
Críticos e estudiosos trazem variações interpretativas: para Gardnier – “Mulher faz acordo com o diabo, no qual, em troca de proteção para a família, ela terá de entregar uma virgem ao demônio” (2002: 54GARDNIER, R. O Acordo (1º episódio de Trilogia de terror). In: PUPPO, E. (org). Ozualdo Candeias. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. p. 54.); para Paiva – “O poderoso fazendeiro, a filha dos pobres arrendatários, prometida ao dono da terra, a inquietação sexual da mãe – oferecida aos peões e ao futuro genro, negando suas obrigações conjugais com o marido” (1968: 17)PAIVA, S. C. Trilogia de terror (3). Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 25 abr. 1968..
-
7
Movimento de resistência armada por militantes do PCdoB.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Mar 2023 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2023
Histórico
-
Recebido
08 Jul 2022 -
Aceito
01 Dez 2022
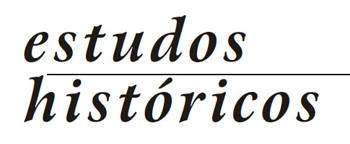



















 Fonte: Cinemateca Brasileira.
Fonte: Cinemateca Brasileira.
 Fonte: Cinemateca Brasileira.
Fonte: Cinemateca Brasileira.
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio O acordo (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Procissão dos mortos (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
 Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
Fonte: Transmissão televisiva do episódio Pesadelo macabro (Canal Brasil).
 Planos finais dos filmes O acordo, Procissão dos mortos e Pesadelo macabro.
Planos finais dos filmes O acordo, Procissão dos mortos e Pesadelo macabro.