Resumo
As decisões individuais são objeto de forte discussão entre os diferentes campos de pesquisa na economia. Decisões de investimento e inovação afetam de forma direta o desempenho econômico das nações. Duas abordagens teóricas são objeto de discussão neste trabalho: as teorias (pós) keynesiana e (neo) schumpeteriana. A proposta do texto é explicar o comportamento dos investimentos e da inovação no Brasil contemporâneo enfocando o âmbito das decisões individuais. Embora tais variáveis e seus determinantes tenham conotações macroeconômicas, seus comportamentos merecem ser avaliados a partir das ações dos indivíduos e das firmas e dos fatores que inibem ou estimulam as deliberações de investimento e inovação. A partir das teorias keynesiana e neoschumpeteriana, propõe-se uma interpretação para o caso brasileiro demonstrando-se como fatores macroeconômicos e estruturais impactam no modelo cognitivo dos empreendedores, inibindo sua propensão aos investimentos produtivos e à inovação tecnológica.
Palavras-chave
Investimentos; Inovação; Pós-keynesianos; Neoschumpeterianos; Brasil
Abstract
Individual decisions are the object of strong discussion among the different fields of economics research. Investment and innovation decisions directly affect the economic performance of nations. Two theoretical approaches are discussed in this work: (post) Keynesian and (neo) Schumpeterian theories. The aim of this text is to explain the behavior of investments and innovation in contemporary Brazil, focusing on the scope of individual decisions. Although these variables and their determinants have macroeconomic connotations, their behaviors deserve to be evaluated based on the actions of individuals and firms and on the factors that inhibit or encourage investment and innovation deliberations. Based on Keynesian and neo-Schumpeterian theories, an interpretation for the Brazilian case is proposed, demonstrating how macroeconomic and structural factors impact the cognitive model of entrepreneurs, inhibiting their propensity for productive investments and for technological innovation
Keywords
Investments; Innovation; Post-Keynesians; neo-Schumpeterians; Brazil
1 Introdução
Dificilmente um estudioso da economia brasileira duvidaria da precária contribuição dos investimentos produtivos e da inovação tecnológica para o desempenho histórico do país, em especial o mais recente. Reconhecidos como motores do crescimento, os determinantes dessas variáveis sempre estiveram entre as maiores preocupações dos economistas. Embora investimentos e inovação tenham conotações macroeconômicas, assim como muitos dos seus determinantes (taxas de juros, crédito, política industrial e tecnológica etc.), são fatores que dependem das decisões dos indivíduos e das firmas. Essa é a proposta deste texto: discutir as decisões individuais (e das firmas) de investimento e inovação no âmbito da teoria (pós) keynesiana e (neo) schumpeteriana extrapolando tal análise para o Brasil a partir dos anos 2000. Na medida em que a proposta avança, discutem-se os elementos que fragilizam a decisão dos empreendedores brasileiros no contexto econômico contemporâneo.
Uma literatura consistente vem se consolidando nas explicações do desempenho econômico brasileiro, particularmente de sua fragilidade recente1 (1) Em especial, podem-se mencionar autores ligados ao “novo” desenvolvimentismo, que tem Bresser-Pereira como principal expoente, e aqueles que defendem uma estratégia “social” desenvolvimentista. Seria difícil elencar os diversos autores associados a cada uma das correntes, porém, muitos deles são citados ao longo deste trabalho. . Partindo dessas conotações teóricas, o desempenho reflete fatores que restringem tanto a demanda efetiva e os investimentos (análise keynesiana) como a incorporação das tecnologias mais avançadas (abordagem neoschumpeteriana). Normalmente são apontados os seguintes problemas2 (2) Embora a síntese não esgote os diversos problemas existentes na economia brasileira, procura expressar a afinidade de análise entre autores keynesianos, neoschumpeterianos e estruturalistas. Muitos dos autores e teorias que tratam do assunto estão citados na seção 4 deste trabalho. :
-
as altas taxas de juros praticadas no Brasil permanecem como um dos grandes empecilhos aos investimentos produtivos, tornando mais atrativa a especulação financeira e os ganhos de curto prazo;
-
devido aos problemas estruturais e à forma de condução da política econômica dos últimos anos (altas taxas de juros para controlar a inflação, abertura financeira, exportações primárias etc.), a moeda nacional apresentou uma tendência cíclica à valorização, o que prejudicou a competitividade da estrutura produtiva nacional;
-
o investimento público, um dos principais determinantes do crescimento, é pouco expressivo considerando o papel que deveria desempenhar em uma economia de industrialização retardatária e sujeita a graves crises como a que se observa atualmente3 (3) Representou pouco mais de 2% do PIB em 2019. ;
-
países em desenvolvimento são caracterizados por um gap de produtividade em relação às nações avançadas. No caso do Brasil, esse problema decorre da dificuldade histórica de incorporação das tecnologias mais avançadas à estrutura produtiva nacional;
-
o Brasil, assim como os países da América Latina, não conseguiu, ao longo de sua história, promover um crescimento forte com distribuição de renda. Ainda que os governos do Partido dos trabalhadores (PT) tenham sido caracterizados pela prioridade distributiva, as políticas de maior equidade esbarraram no frágil crescimento econômico subsequente.
Mesmo com o crescimento dos anos 2000, que aliviou muitas restrições há tempos existentes (ver Fonseca et al., 2013FONSECA, P. C. D.; CUNHA, A. M. BICHARA, J. S. O Brasil na Era Lula: retorno ao desenvolvimentismo? Revista Nova Economia, v. 23, n. 2, p. 403-428, 2013.), a crise de 2008 somada à piora do cenário externo, os recentes problemas políticos e a crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus exacerbaram os graves problemas históricos do país. Diante de tal cenário, o texto argumenta que a conciliação entre as teorias derivadas de Keynes e Schumpeter permite avançar no entendimento das decisões de investimento e inovação, fatores essenciais para o desenvolvimento no longo prazo. Admite-se que o desempenho histórico e contemporâneo é afetado pela dinâmica de tais variáveis. Basta que se observe, além dos indicadores apresentados na seção 4, a discussão teórica sobre os problemas de desindustrialização e progresso técnico, que impedem o país de ingressar de forma efetiva na revolução tecnológica em curso.
A proposta não se limita a enfatizar os elementos macroeconômicos restritivos à ação dos empreendedores. Procura extrapolar tal análise, explicando como muitas condições macroeconômicas e estruturais se incorporam ao modelo cognitivo dos empreendedores fazendo com que suas decisões de produção sejam adiadas. Ao considerar a conexão dos indivíduos com o ambiente, a racionalidade é tratada como dependente do contexto socioeconômico, ao mesmo tempo em que as ações individuais podem alterar ou manter a estrutura social vigente4 (4) Referências sobre o processo de interação entre indivíduos e estrutura socioeconômica são os trabalhos desenvolvidos por Hodgson (2007; 2010) a partir do institucionalismo derivado de Veblen. O autor propõe o conceito de Reconstitutive Downward Causation, pelo qual os indivíduos podem alterar a estrutura social vigente ao mesmo tempo em que são influenciados por ela. Tal conceito aproxima-se das abordagens de Keynes e Schumpeter se entendermos que investimentos e inovação são institucionalmente determinados, mas podem alterar muitas das instituições estabelecidas na medida em que mudam os métodos de produção da economia. . Portanto, busca-se seguir o que propõe Lavoie (2004)LAVOIE, M. La necesidad de una alternativa. In: CRÍTICA a la economía ortodoxa. Seminario de Economía Crítica TAIFA. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. ao demonstrar a necessidade de se desenvolver análises a partir programas de pesquisa ou paradigmas científicos (à la Khun e Lakatos, respectivamente) que superem a forma tradicional de pensar economia, incorporando um aparato analítico mais realístico e que está além do individualismo metodológico, da visão tradicional de racionalidade e da análise dos mercados apenas como ambiente de intercâmbio.
Embora a abordagem macroeconômica de Keynes, principalmente a que está proposta na General Theory (GT), seja a mais lembrada quando se trata da dinâmica do investimento, alguns conceitos, muitos deles retomados em autores pós-keynesianos, já haviam sido tratados no Treatise on Probability (TP). Nele, Keynes (1921)KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921. define a probabilidade como o grau de crença racional que se estabelece a partir de um conjunto de proposições. As informações disponíveis e o conhecimento assumem papel preponderante porque é através deles que se torna possível a formação das premissas que permitem concluir sobre o que é mais ou menos provável. Ao tratar a probabilidade como crença racional, Keynes (1921)KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921. dá abertura a uma agenda de pesquisa sobre a formação das crenças, deixando margem para interpretações sobre como a interação entre indivíduos e estrutura socioeconômica afeta o processo decisório (Winslow, 1986WINSLOW, E. G. “Human Logic” and Keynes’ Economics. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 413-430, 1986.; 1989WINSLOW, E. G. “Human logic” and Keynes’ economics: a reply to Bateman”. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 67-70, 1989.; Carabelli, 1988CARABELLI. A. On Keynes’s method. London: Macmillan, 1988.; Rotheim, 1989ROTHEIM, R. J. Organicism and the role of individual in Keynes’s thought. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 12, n. 2, p. 316-326, 1989-1990./90; Andrade, 1996; 2000 etc.). Fatores como probabilidade, crença racional, peso dos argumentos, premissas e disponibilidade de informação voltariam à pauta na GT, trazendo conceitos com novos desdobramentos e que são tratados pelo autor, como incerteza, expectativas, nível de confiança, animal spirit, entre outros.
As semelhanças entre as teorias de Keynes e Schumpeter não se restringem ao plano agregado, principalmente quando se observa que as decisões de inovação e investimento estão sujeitas a uma incerteza não tratável a partir de cálculos atuariais. Schumpeter criticou o equilíbrio do fluxo circular, demonstrando que a mudança econômica acontece pela via evolucionária, o que permite inferir o processo inovativo como imprevisível. Nos neoschumpeterianos, tal noção de incerteza concebe a inovação tecnológica como um fenômeno com resultados naturalmente imprevisíveis (cf. Dosi, 1988DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, v. 26, n. 3, p. 1120-1171, Sept. 1988.). Para contornar tais adversidades as firmas desenvolvem mecanismos que lhes permitem lidar com a incerteza, embora alguns acabem perpetuando os problemas produtivos existentes.
Tendo essas perspectivas em mente, este trabalho busca explicar o frágil desempenho dos investimentos5 (5) A preocupação, como ficará explicito na seção 4, é com os investimentos (FBKF) industriais e com os setores característicos da revolução tecnológica em curso. e da inovação no Brasil associando aspectos conjunturais, estruturais e macroeconômicos, mas enfatizando sua relação com as ações individuais. Para atingir essa proposta, além desta introdução, a seção 2 trata das decisões de investimento na teoria (pós) keynesiana, priorizando os conceitos de probabilidade, crença racional, peso do argumento, incerteza, expectativas e nível de confiança. A seção 3 se destina a explicar as decisões de inovação no âmbito da teoria neoschumpeteriana. Elementos como rotinas e inovação, bem como os processos de seleção e adaptação, são aliados a uma perspectiva mais agregada que incorpora conceitos como paradigmas, revoluções tecnológicas, janelas de oportunidade, entre outros. Finalmente, a seção 4 aplica as teorias para analisar o caso do Brasil, observando como muitos problemas levantados por autores que se alinham às perspectivas pós-keynesianas e neoschumpeterianas impactam sobre as decisões individuais (e das firmas).
2 Keynes e as decisões de investimento no âmbito dos indivíduos e firmas
No capítulo 12 da Teoria Geral, Keynes trata das expectativas de longo período. Ao contrário das deliberações sobre o nível de produção, que podem ser revistas quase que instantaneamente e sem ônus considerável, as expectativas relacionadas aos investimentos não podem ser tratadas de forma inequívoca pelos empreendedores. Por essa razão, a Teoria Geral é o espaço onde Keynes avança em muitos conceitos relacionados aos processos cognitivos dos homens de negócios. Contudo, a tomada de decisão já estava discutida pelo autor no seu tratado sobre probabilidade (Treatise on Probability).
Probabilidade para Keynes (1921)KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921. se refere ao grau de crença racional associado a um conjunto de proposições. Para decidir sobre determinado assunto, isto é, tirar conclusões acerca de uma possibilidade, os seres humanos lançam mão do conhecimento direto. Obtido por meio da experiência, ele representa o primeiro passo para que possam ser formados certos julgamentos. A indução6 (6) Para uma discussão sobre o método em Keynes e o papel da indução tanto no desenvolvimento do T.P. como sua validade na G.T sugere-se o texto de Duayer (1995). é o método que liga premissas (obtidas por meio do conhecimento direto) e argumentos (indiretamente formulados), sendo a probabilidade descrita como:
onde
A relação entre premissas e conclusões permite inferir p, tido como o nível de crença racional que se justifica pela relação de probabilidade entre x e h. Entre autores pós-keynesianos, a teoria da probabilidade do TP não é uma teoria frequencialista na qual os eventos são propriedade do mundo físico (Runde, 1990RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.; Carabelli, 1988CARABELLI. A. On Keynes’s method. London: Macmillan, 1988.; Cardoso e Lima, 2008CARDOSO, F.; LIMA, G. T. A visão de Keynes do sistema econômico como um todo orgânico complexo. Economia e Sociedade, v. 17, n. 3, p. 359-381, 2008.). Na medida em que os níveis de crença racional dependem de como os seres humanos interpretam os sinais que são emitidos pelo ambiente, fazendo julgamentos sobre o que acham pertinente, a teoria da probabilidade keynesiana é uma teoria do conhecimento. Enquanto uma parte desse conhecimento é obtida através do entendimento direto (premissas), outra é adquirida indiretamente, através de uma relação de probabilidade (argumentos/conclusões)7 (7) Winslow (1986) afirma que Keynes (1921) aceitou a distinção entre lógica humana e lógica formal, conforme crítica de Ramsey’s. Enquanto a lógica humana trata da forma de obtenção das premissas (do conhecimento), a lógica formal é uma forma de processá-las. .
A construção dos argumentos depende do julgamento de o que se considera relevante ou irrelevante. Segundo Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990., no capítulo IV do Tratado, Keynes (1921)KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921. distingue dois tipos de relação de probabilidade. No primeiro, as probabilidades podem ser comparadas com base em evidências comuns (x/h comparada a y/h). Trata-se de um julgamento individual, que reflete quando uma relação é preferida à outra (x/h>y/h ou x/h<y/h) ou ambas são julgadas indiferentes (x/h = y/h). Na segunda definição, as probabilidades podem ser comparadas pela diferença que produz a adição de conhecimento relevante. Nas palavras de Runde (1990, p. 6)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.8 (8) Para Runde (1990), uma premissa pode ser relevante mesmo que implique uma não mudança na relação de probabilidade. Nesse caso, uma premissa h1 pode implicar outra proposição h2, de forma que ambas não alterem a relação de probabilidade inicialmente estabelecida (x/h = x/h1h2). Nesse caso, o peso do argumento se alterou, mas a probabilidade pode permanecer a mesma. Essa discussão está apresentada no capítulo 6 do TP (Keynes, 1921). :
Keynes refers to these as judgments of relevance (where x/h is compared with x/h1h) or irrelevance (where x/h = x/h1h). The rule that there must be no ground for preferring one alternative to another is an appeal to judgments of irrelevance.
Outra definição importante na teoria da probabilidade se refere ao peso do argumento, que trata do conhecimento no qual se baseia a relação de probabilidade. Segundo Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990. e Vercelli (1999)VERCELLI, A. Preferência pela liquidez e valor da opção. Economia e Sociedade, Campinas, n. 12, jun. 1999., existem três definições para o peso no TP. A primeira afirma que um argumento tem mais peso do que outro quando se baseia em maiores quantidades de conhecimento relevante. Tal definição pode ser assim descrita: V(x/hh1) > V(x/h), onde V representa o peso e h1, a evidência relevante para a relação x/h. Na expressão anterior, embora o peso do argumento se altere com a adição de novas premissas, isso não quer dizer que a relação de probabilidade aumente, porque a adição de h1 pode ser favorável ou desfavorável9 (9) Segundo Runde (1990, p. 8): “A comparison of this sort could be made if we assume some hypothetical value for xlh and then check whether or not the addition of h, to x/h would change that value. If so, it is possible to conclude that h, is relevant to x/h without our knowing the value of x/h”. ao argumento em questão. Na segunda definição, o peso passa a ser qualificado como o saldo de quantidades absolutas de conhecimento e ignorância relevantes sobre qual uma probabilidade se baseia. Se o conhecimento relevante é definido por Kr e a ignorância relevante por Ir, o peso pode ser expresso por V (x/h)= Kr/Ir10 (10) Segundo Runde (1990, p. 8): “This notion introduces the possibility that weight2 may decrease with the acquisition of new evidence, if such evidence leads to a sufficiently large reassessment of ‘relevant ignorance’.” . Finalmente, a terceira concepção trata do grau de completude da informação na qual a probabilidade é baseada, sendo apresentado da seguinte forma: V(x/h) = Kr/(Kr + Ir), podendo ser a relação simplificada em Ir/(w + 1), onde w = Ir/Kr (Runde, 1990RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.).
Para aproximar o peso do argumento da concepção de confiança e incerteza (tratados na GT), Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and the weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, 1990. e Crooco (2003) enfatizam a análise do conhecimento relevante versus ignorância relevante (segunda definição de peso). Dessa forma, enquanto uma relação de probabilidade se define a partir do conhecimento direto, a incerteza se qualifica por sua ausência: “On this view, uncertainty was taken to correspond to the situation in which such knowledge is absent, either because the probability relation does not exist, or because we do not have the mental capacity to arrive at the relation between conclusion and evidence” (Runde, 1990RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990., p. 18). A essa conclusão teria chegado Carvalho (1988) ao afirmar que a ausência de informações é elemento específico de análise da GT. Ainda, segundo Runde (1990, p. 18)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.:
In the General Theory, the importance of weight lies in its connection with confidence, and particularly, investor confidence. It is the lack of investor confidence that, in Keynes's view, results in the precarious nature of long-term expectations. And it is this precariousness that goes some way toward explaining what, for Keynes, is the most serious deficiency of the capitalist system: ‘our contemporary problem of securing sufficient investment’
(CW VII, p. 153).
Neste sentido, Vercelli (1999)VERCELLI, A. Preferência pela liquidez e valor da opção. Economia e Sociedade, Campinas, n. 12, jun. 1999. evoca duas medidas diferentes de incerteza: uma medida de primeira ordem (probabilidade), que se refere às melhores estimativas possíveis da “plausibilidade” da ocorrência de eventos, e uma medida de segunda ordem (peso do argumento), que se refere à confiança atribuída à medida de primeira ordem. Partindo de Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and the weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, 1990., Vercelli (2011)VERCELLI, A. Weight of argument and economic decisions. Department of Economic Policy, 2010. (Finance and Development Working Papers, n. 6, assume que o peso do argumento deve ser definido pela expressão V(x\h) = K \ (K + I), enfatizando que este somente pode aumentar se a ignorância relevante se reduzir. Ao relacionar peso à incerteza, Vercelli (1999)VERCELLI, A. Preferência pela liquidez e valor da opção. Economia e Sociedade, Campinas, n. 12, jun. 1999., assim como outros, procura distinguir entre diferentes níveis de incerteza. Observa que uma incerteza radical estaria associada a um peso do argumento de valor nulo, isto é, “the decision maker (DM) is aware that he does not know anything relevant about the occurrence of a certain event”11 (11) O autor utiliza a clássica citação de Keynes para justificar a proposição: “[…] the prospect of a European war is uncertain, or the price of copper and the rate of interest twenty years hence…about these matters there is no scientific basis on which to form any calculable probability whatever. We simply do not know” (Keynes, XIV, p. 113-114). (Vercelli, 2011VERCELLI, A. Weight of argument and economic decisions. Department of Economic Policy, 2010. (Finance and Development Working Papers, n. 6,, p. 8). Por outro lado, a incerteza seria considerada fraca quando o peso do argumento assumisse o valor unitário (K \ (K + I) = 1)12 (12) Tal conotação se aproxima do que expressam Dequech (1998) e Ferrari Filho e Conceição (2005) ao observarem que enquanto no TP havia o binômio Probabilidade-Peso, na GT se destaca a relação incerteza-estado de confiança. . Segundo Vercelli (2011, p. 8)VERCELLI, A. Weight of argument and economic decisions. Department of Economic Policy, 2010. (Finance and Development Working Papers, n. 6,, “[...] in this case the DM is uncertain only in the weak sense that he does not know which from a set of possible events will occur but believes that he knows their ‘true’ probability distribution”13 (13) Nesse caso, o emblemático caso dos jogos de roleta é lembrado, pois se a roleta não contém nenhum viés, o decisor sabe exatamente a lista completa de eventos possíveis e conhece a probabilidade “objetiva” ou “verdadeira” de cada um deles ocorrer. .
Quando a teoria keynesiana trata da noção de conhecimento e ignorância relevantes no conceito de Peso, fica explícita a dificuldade dos empresários em suas decisões de investimento. Dow (2012)DOW, S. C. Keynes on knowledge, expectations and rationality. In: PHELPS, E. S.; FRYDMAN, R. (Ed.). Rethinking expectations: the way forward for macroeconomic. Princeton University Press, 2012. chega a tratar o peso do argumento como um elemento sempre indefinido. Mais evidências podem, em vez de aumentar o peso, revelar novos domínios de ignorância, afetando o nível de crença racional dos decisores. Seguindo essa definição, associada tanto a Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and the weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, 1990. como a Vercelli (2011)VERCELLI, A. Weight of argument and economic decisions. Department of Economic Policy, 2010. (Finance and Development Working Papers, n. 6,, justifica-se a ideia de que as ações de investimento são incertas e as bases sob as quais se assentam não são naturalmente frágeis, o que define a natureza frágil das expectativas e decisões de ampliação da capacidade produtiva.
O investimento produtivo, além de repercutir no nível de demanda efetiva, tende, no longo período, a alterar toda a estrutura de produção, de forma que não existem evidências suficientes para prever, de forma inequívoca, o resultado das ações empresariais sobre a estrutura socioeconômica. Em alguns casos pode-se inferir que o ambiente econômico no qual se encontram os decisores pode dificultar a formação de expectativas, fragilizando novas decisões. Em outras palavras, existem falta de informações, informações incorretas e limitações cognitivas que afetam decisões de investimento14 (14) Mazzucato (2014) lembra que Keynes (1936), em carta secreta dirigida a Roosevelt, teria reconhecido que o mundo dos negócios é formado por empreendedores que carecem de estímulos estatais (animais domesticados). Daí as conclusões sobre volatilidade dos investimentos e fragilidade sob as quais se assentam as expectativas empresariais. .
O impacto das decisões individuais sobre o contexto socioeconômico se associa às discussões sobre a existência de uma metodologia organicista em Keynes. Se, por um lado, Davis (1989)DAVIS, J. Keynes on atomism and organicism. The Economic Journal, v. 99, p. 1159-1172, 1989. e Bateman (1989)BATEMAN, B. W. “Human logic” and Keynes’ economics: a comment. Eastern Economic Journal, v. 15, n. 1, p. 63-67, 1989. têm dificuldades em aceitar o organicismo keynesiano, Winslow (1989)WINSLOW, E. G. “Human logic” and Keynes’ economics: a reply to Bateman”. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 67-70, 1989. lista uma série de conceitos que atestam a superação do atomicismo por parte de Keynes. Rotheim (1988) afirma que o conceito de organicidade situa o indivíduo histórica e culturalmente, de forma que suas ações dependem do contexto, mas é mantida a autonomia deliberativa dos homens de negócios. Essa seria a mensagem de Keynes.
Em um ambiente orgânico, complexo e incerto, as decisões de investimento demandam o exercício do animal spirit dos empreendedores. Essa propensão para a ação representa um otimismo espontâneo que se associa à formação de expectativas e ao nível de confiança (Dequech, 1999DEQUECH, D. Expectations and confidence under uncertainty. Journal of Post Keynesian Economics, v. 21, n. 3, p. 415-430, 1999.; Dow, 2014DOW, S. Animal spirits and organization. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 37, n. 2, p. 211-231, 2014.), estimulando a ação dos empreendedores mesmo na ausência de muitas informações relevantes. Se o futuro está para ser criado (não ergodicidade à la Davidson, 2005), não é possível prever com exatidão o resultado dos investimentos. Na formação das expectativas, a inexistência de um número suficiente de premissas faz com que os empreendedores preencham as lacunas de conhecimento a partir da criatividade e da imaginação (Schakle, 1970SHAKCLE, G. L. S. Expectation, enterprise and profit: the theory of the firm. London: Allen & Unwin, 1970.). Isso explica por que o mesmo montante de informações pode levar diferentes grupos de indivíduos a conclusões diversas. Em alguns casos, as expectativas sobre os investimentos são frustradas – devido à incompletude das informações ou às características dos modelos cognitivo – e precisam ser revistas (Chick, 1983CHICK, V. Macroeconomics after Keynes: a reconsideration of the General Theory. Cambridge: The MIT Press, 1983.). Por essa razão, enquanto o nível de consumo se mostra relativamente estável, os investimentos são, por natureza, voláteis15 (15) Para Skidelsky (1996), a estabilidade do consumo e a volatilidade dos investimentos são ideias presentes tanto no Tratado sobre a Moeda como na Teoria Geral. e dependentes da avaliação dos empreendedores. Decisões de investimento, além de serem incertas por natureza, estão associadas ao contexto institucional no qual os indivíduos operam, o que pode intensificar a percepção individual sobre a incerteza em cada decisão econômica16 (16) Esse fato fica evidente quando se analisa o caso brasileiro. Além das dificuldades inerentes à decisão de investimentos, problemas macroeconômicos e estruturais acabam prejudicando as ações empresariais, particularmente em atividades que se distanciam das vantagens comparativas do país. .
3 As decisões de inovação no âmbito da teoria neoschumpeteriana: rotinas, inovação e o conceito de revoluções tecnológicas com seus desdobramentos
Schumpeter trouxe relevantes contribuições à teoria do desenvolvimento. A principal delas foi colocar as inovações no centro da teoria econômica. Representadas de forma genérica pela combinação de novos materiais, as inovações podem ser assim classificadas: 1) lançamento de um novo bem ou de um bem com novo padrão de qualidade; 2) desenvolvimento de novo método de produção; 3) abertura de novos mercados; 4) descoberta de novas fontes de matérias-primas; e 5) nova organização industrial (criação ou destruição de posições monopolistas).
Como causa dos ciclos de desenvolvimento pelos quais passam as economias capitalistas, as inovações dependem da disponibilidade de crédito e de fatores subjetivos relacionados à ação dos empresários. Nesse campo, embora a contribuição de Schumpeter seja visível, coube aos neoschumpeterianos estender a análise dos elementos cognitivos responsáveis por deflagrar a ação inovativa. Enquanto Schumpeter (1985)SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural, 1985. afirma que a psicologia do empreendedor resulta de um desejo individual que extrapola a aquisição de riqueza, Nelson e Winter (1982)NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982., propondo uma interpretação evolucionária do processo de mudança econômica, desenvolvem uma abordagem da firma para explicar as ações de inovação.
Embora as organizações sejam compostas por indivíduos com múltiplas tarefas e funções, o comportamento empresarial ganha aspectos agregados que recebem a denominação de rotinas17 (17) Segundo Fagerberg (2003), Nelson e Winter (1982) deixaram uma agenda de pesquisa que se manifesta em diversas dimensões. O autor destaca três delas: a primeira se refere justamente à contribuição de Nelson e Winter para a compreensão do comportamento das firmas, na qual se destaca o papel da aprendizagem e do conhecimento, tradado no conceito de rotinas organizacionais; a segunda é uma herança intelectual que se manifesta em estudos de modelos formais de crescimento com características dinâmicas; por fim, a terceira se presta à exploração de diferentes tipos de dinâmicas entre os regimes tecnológicos de indústrias ou setores. (Nelson; Winter, 1982NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.). Como em algumas abordagens heterodoxas que criticam o comportamento econômico definido a partir de pressupostos de maximização, os autores assumem que na maioria das circunstâncias é impossível explicar as ações individuais mediante cálculos de benefícios e custos (marginais). Para evitar esse dispendioso processo de deliberação racional, os indivíduos e firmas desenvolvem padrões comportamentais que se repetem ao longo do tempo. Se em nível individual tais padrões resultam de hábitos (Hodgson, 2009HODGSON, G. M. The nature and replication of routines. In: BECKER, M. C.; LAZARIC, N. (Org.). Organizational routines: advancing empirical research. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar: 2009. p. 26-44. ; Becker, 2004BECKER, M. C. Organizational routines: a review of the literature. Industrial and Corporate Change, v. 13, n. 4, p. 643-677, 2004.), no da firma devem ser entendidos como rotinas, isto é, padrões de interação individual e coletiva para a ação empresarial.
A abordagem evolucionária observa que as firmas desenvolvem rotinas não apenas para as operações diárias, mas para atividades complexas como de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Contudo, as rotinas vão além da P&D, pois na teoria de Nelson e Winter (1982)NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982., representam um acumulado de conhecimento que permite a resolução de problemas e, em muitos casos, a superação das técnicas produtivas estabelecidas. Assim como o comportamento individual, as rotinas são situadas contextualmente, demonstrando como determinadas formas de operação podem se disseminar pela sociedade e pelos mercados. Essa forma instituída de fazer as coisas tende a extrapolar os limites organizacionais, criando trajetórias tecnológicas que podem melhorar as condições de produção em determinados mercados.
Embora Becker (2004)BECKER, M. C. Organizational routines: a review of the literature. Industrial and Corporate Change, v. 13, n. 4, p. 643-677, 2004. demonstre que os estudos sobre as rotinas organizacionais formam uma agenda de pesquisa com inúmeros desdobramentos, o desempenho econômico, que está além dos limites de operação das organizações, requer que sejam observadas como as rotinas e o progresso técnico se disseminam pela sociedade, gerando tecnologias sociais (Nelson; Sampat, 2001NELSON, R. R.; SAMPAT, B. N. Las instituciones como factor que regula el desempeño económico. Revista de Economia Institucional, Bogotá, Colômbia, v. 2 n. 5, p. 17-51, 2001.) e impactando as diferentes condições de desenvolvimento dos países e/ou regiões. Nesse ponto, uma das maiores contribuições da abordagem evolucionária é demonstrar que qualquer tipo de inovação não garante o desenvolvimento, principalmente quando este é entendido de forma relativa, isto é, pela comparação entre as condições de desenvolvimento dos países.
Ao dar continuidade ao programa de pesquisa de Schumpeter (1984SCHUMPETER, J. A. Capitalismo socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1984.; 1985)SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural, 1985., Freeman e Perez (1988)FREEMAN, C.; PEREZ, C. Structural crisis of adjustment: business cycles and investment behaviour. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L. (Ed.). Technical change and economic theory. London: Pinter, 1988. p. 38-66. reforçam que o desenvolvimento acontece a partir da incorporação das tecnologias mais avançadas, pois são elas que permitem reduzir as diferenças de produtividade entre as nações, podendo viabilizar o catching up das nações retardatárias (à la Abramovitz, 1986ABRAMOVITZ, M. Catching up, forging ahead and falling behind. Journal of Economic History, New York, v. 46, n. 2, p. 385-406, 1986.). Seguindo o modelo Freeman/Perez, as nações berço das revoluções tecnológicas são aquelas consideradas desenvolvidas, ao passo que outras não conseguem incorporar as novas tecnologias, tendo seus níveis de produtividade prejudicados (Falling Behind).
O modelo Freeman/Perez demonstra a ocorrência de cinco revoluções tecnológicas. Atualmente estaríamos vivenciando a revolução da informação e das telecomunicações18 (18) Seguindo o modelo Freeman/Perez, até o presente momento foram observadas cinco revoluções tecnológicas: a revolução industrial; a era do vapor e das ferrovias; a era do aço, da eletricidade e da engenharia pesada; a era do petróleo, do automóvel e da produção em massa; e a era da informática e da sociedade do conhecimento. . A despeito das inúmeras fases pelas quais passa cada revolução, o modelo dos autores demonstra certas similaridades. Uma revolução acontece em local específico e é deflagrada a partir de uma grande inovação (big bang) que abre espaço para uma série de outras (constelação de inovações), alterando a estrutura produtiva das economias. Como em Schumpeter (1984SCHUMPETER, J. A. Capitalismo socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1984.; 1985)SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural, 1985., as grandes inovações rompem com as condições produtivas existentes, mudam a forma de fazer as coisas dentro das organizações e abrem janelas de oportunidade para os países menos desenvolvidos.
Essa mudança se reflete na definição de um novo paradigma tecnológico. Como fora definido em Dosi (1993)DOSI, G. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, v. 22, n. 2, p. 102-103, Apr. 1993., Perez (2001PEREZ, C. Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como Blanco móvil. Revista de la Cepal, Santiago de Chile, n. 75, p. 115-136, Dic. 2001.; 2004)PEREZ, C. Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI, 2004. propõe o conceito de paradigma tecnoeconômico, que se refere à melhor forma de “fazer as coisas” com a utilização das tecnologias revolucionárias. Dessa forma, a irrupção de uma onda tecnológica demanda novas práticas produtivas e o estabelecimento de novas rotinas organizacionais. O estabelecimento do moderno paradigma de forma concomitante com as novas rotinas demonstra que não existe separação clara entre as práticas das firmas estabelecidas e o big bang tecnológico. Pelo contrário, o progresso técnico avança a partir da interação das organizações com o ambiente sócio-institucional. Nesse processo, o conceito de Sistema Nacional de Inovações é fundamental para o entendimento de como as inovações são implementadas pelos empreendedores ao mesmo tempo em que o conjunto de instituições se molda às novas demandas produtivas (Nelson, 2007NELSON, R. R.; SAMPAT, B. N. Las instituciones como factor que regula el desempeño económico. Revista de Economia Institucional, Bogotá, Colômbia, v. 2 n. 5, p. 17-51, 2001.).
Embora o progresso técnico e as revoluções tecnológicas não possam ser tratados como exógenos à atuação das firmas, o caso dos países menos desenvolvidos é controverso. Esses países desempenham papel subordinado quando se trata de desenvolvimento e incorporação das tecnologias mais avançadas. Perez (2001PEREZ, C. Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como Blanco móvil. Revista de la Cepal, Santiago de Chile, n. 75, p. 115-136, Dic. 2001.; 2004)PEREZ, C. Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI, 2004. observa que alguns países têm mais êxito que outros na apropriação das tecnologias de “ponta”. Por essa razão, cabe aos países menos desenvolvidos imitar as técnicas produtivas das firmas ou países precursores. Para Kim (2005)KIM, L. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2005., esse parece ter sido o caso da Coreia do Sul em seu processo de catching up tecnológico. Com uma base produtiva pouco diversificada, o país começou imitando o processo produtivo dos países avançados, passando, após o período de internalização tecnológica, a um estágio mais elevado em que se tornou possível a criação de produtos tecnologicamente avançados.
Um amplo apoio institucional e do Estado se torna necessário para alavancar a inovação e o catching up tecnológico das nações menos desenvolvidas. O suporte institucional e macroeconômico é indispensável porque as decisões de inovação estão sujeitas a uma incerteza radical, isto é, aquela na qual a lista de eventos possíveis é desconhecida e não há como saber as consequências das ações inovadoras (Dosi, 1988DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, v. 26, n. 3, p. 1120-1171, Sept. 1988.; Dosi; Orsenigo, 1988DOSI, G.; ORSENIGO, L. Coordination and transformation: an overview of structures, behaviour and change in evolutionary environments. In: DOSI, G. et al. Technical change and economic theory. London: Printer, 1988.). Por essa razão, um conjunto de instituições que facilite a compreensão dos efeitos e resultados de determinados tipos de inovação se faz necessário. Uma ação incisiva do Estado é determinante, como a que descreve Mazzucato (2014a; 2014b). Um estado arrojado seria caracterizado como aquele que assume a responsabilidade do processo inovativo, principalmente nas áreas em que a incerteza é mais evidente e não existe interesse da iniciativa privada. Como afirma a autora a partir da citação de Keynes (1926)KEYNES, J. M. The end of laissez-faire. London: Prometheus Books, 1926., trata-se de fazer as coisas que ninguém mais está disposto19 (19) A autora reproduz a seguinte passagem de Keynes (1926, parte 4): “The important thing for Government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a little worse; but to do those things which at present are not done at all”. .
Embora não seja possível separar a firma de seu ambiente de interação, o que oferece ao processo inovativo características endógenas, as rotinas descrevem a individualidade de cada empreendimento. Se por um lado elas são formas estabelecidas de fazer as coisas, cristalizando determinados comportamentos e a inércia em algumas atividades, por outro representam um acumulado de conhecimento que auxilia na solução dos problemas. Além do mais, como salienta Becker (2004)BECKER, M. C. Organizational routines: a review of the literature. Industrial and Corporate Change, v. 13, n. 4, p. 643-677, 2004., as rotinas economizam recursos mentais, de forma que níveis de consciência mais elevados se tornam disponíveis para decisões complexas. Enquanto a inércia pode persistir no curto prazo e em algumas atividades operacionais (Nelson; Winter, 2005NELSON, R. R.; SAMPAT, B. N. Las instituciones como factor que regula el desempeño económico. Revista de Economia Institucional, Bogotá, Colômbia, v. 2 n. 5, p. 17-51, 2001.), essa economia permite que a atenção dos empreendedores possa ser direcionada a fatores mais importantes e de longo prazo, evitando surpresas ruins e permitindo o aproveitando das boas oportunidades tecnológicas do futuro.
Essas observações colocam em evidência as dimensões micro, meso e macroeconômicas da inovação. No primeiro caso, ela está associada às ações empresariais. Firmas são compostas por indivíduos com hábitos de pensamento que, quando compartilhados, dão origem a rotinas que podem estimular a mudança técnica. Rotinas disseminadas no mercado formam um ambiente de seleção e adaptação no qual as empresas com procedimentos mais apropriados sobrevivem e prosperam. Em termos mesoeconômicos, esse compartilhamento de rotinas se alinha ao conceito de paradigma (tecnológico ou tecnoeconômico) que se estabelece a partir de elos institucionais, formando o que os neoschumpeterianos definem como Sistemas Nacionais de Inovação. dessas interações resulta determinado desempenho. Com conotações macroeconômicas (normalmente, a mensuração é feita a partir de indicadores de desenvolvimento), ele coloca em evidência a posição tecnológica do país em relação ao estágio da arte mundial.
4 Sobre os investimentos e inovação no Brasil: uma interpretação do processo decisório nas perspectivas pós-keynesiana e neoschumpeteriana
A tradicional trajetória de crescimento do tipo stop and go da economia brasileira não é característica recente. A teoria cepalina se consolidou demonstrando os diversos problemas estruturais que impediam um crescimento livre de estrangulamentos (ver Bielschowsky, 2000BIELCHOWSKY, R. (Org.). Cinqüenta anos de pensamento na Cepal. Rio de Janeiro: Record, 2000.). Após a fase de substituição de importações (nacional desenvolvimentismo) e da inconsistência da ideologia neoliberal dos anos 1990, o início dos anos 2000 parecia inaugurar uma nova fase de desenvolvimento. Mesmo que o período inicial do governo Lula tenha recebido inúmeras críticas quanto à forma de condução da política econômica, sendo, inclusive, tratado por Paulani (2003)PAULANI, L. Brasil delivery: razões, contradições e limites da política econômica dos primeiros seis meses do governo Lula. In: PAULA, J. A de. A economia política da mudança. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. como mera continuidade do neoliberalismo dos anos 1990, a retomada do crescimento fez aflorar a euforia de políticos e de alguns economistas. Entre eles, passou-se a tratar o rápido crescimento observado como um novo período desenvolvimentista, que se caracterizava principalmente pelo avanço nos indicadores econômicos e sociais (Novy, 2009NOVY, A. O retorno do Estado desenvolvimentista no Brasil. Indicadores Econômicos FEE, v. 36, n. 4, p. 121-128, 2009.; 2015NOVY, A. Política e economia, outra vez articuladas. Le Monde Diplomatique Brasil, ano 3, n. 27, p. 6-7, 2015.; Barbosa; Souza, 2010BARBOSA, N.; SOUZA, J. A. P. A inflexão do Governo Lula: política econômica, crescimento e distribuição de renda. In: SADER, E.; GARCIA, M. A. (Org.). Brasil: entre o passado e o futuro. São Paulo: Fundação Perseu Abramo e Editora Boitempo, 2010. Disponível em: http://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf. Acesso: 27 jul. 2015.
http://nodocuments.files.wordpress.com/2...
).
Duas correntes teóricas passaram a interpretar o desempenho do país e propor políticas para manter o crescimento. Elas foram tratadas por “social” e “novo” desenvolvimentismos. Embora com prioridades divergentes20 (20) O social desenvolvimentismo enfatizava a equidade e a política redistributiva, enquanto o novo desenvolvimentismo despendia esforços em demonstrar os problemas da fraca competitividade internacional. , ambas se mantinham céticas quanto ao desempenho brasileiro, enfatizando a série de problemas históricos que continuavam presentes ou teriam apenas mudado de figura21 (21) Tanto o “social” desenvolvimentismo, em parte ligado aos desenvolvimentistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), como o “novo”, que tem Bresser-Pereira como principal expoente, insistiram nos problemas relacionados à precária estrutura produtiva (desindustrialização precoce e reprimarização da pauta exportadora). . A deterioração econômica recente demonstrou a gravidade dos problemas que estavam dissimulados. Nesse caso, tanto em um curto espaço de tempo, como fonte de demanda, como no longo prazo, quando resulta em ampliação da capacidade produtiva, os investimentos estão entre os grandes responsáveis pela dinâmica da atividade produtiva e, na perspectiva (pós) keynesiana, entre os principais motores do crescimento.
A taxa de investimento sempre foi volátil e poucas vezes superou os 20% do PIB ao ano (Anexo A). Enquanto nos anos 1980 e 1990 houve uma quebra estrutural no comportamento desse indicador (Bruno; Caffe, 2018), que vinha em ascensão ao longo do processo de substituição de importações, os anos 2000 ensaiaram uma nova tendência histórica, rapidamente abortada pelas crises sequenciais recentes22 (22) A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) das empresas não financeiras apresentou crescimento médio anual de 14,8% no período de 2004-2010, retraindo-se para apenas 2,7% em 2011-2013 (Miguez, 2016). As estimativas foram feiras a partir do SCN-12 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). . No que tange ao processo decisório, a perspectiva keynesiana trata a volatilidade dos investimentos como resultado da dificuldade de os empreendedores vislumbrarem o resultado positivo futuro dos gastos presentes (Eficiência Marginal do Capital). Fatores macroeconômicos que inibem os investimentos produtivos (ex.: taxa de juros elevada, sobreapreciação/volatilidade cambial, fragilidade do setor público, entre outras) apresentam implicações no âmbito das decisões individuais e das firmas. A esse respeito, embora uma análise fundamentalista da teoria de Keynes deixe questionamentos sobre sua metodologia organicista (Davis, 1989DAVIS, J. Keynes on atomism and organicism. The Economic Journal, v. 99, p. 1159-1172, 1989.; Bateman, 1989BATEMAN, B. W. “Human logic” and Keynes’ economics: a comment. Eastern Economic Journal, v. 15, n. 1, p. 63-67, 1989., entre outros), a abordagem macroeconômica do autor, propositiva no que tange ao papel do Estado, ilustra claramente que os indivíduos estão em constante interação entre si e com o ambiente socioeconômico (Winslow, 1986WINSLOW, E. G. “Human Logic” and Keynes’ Economics. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 413-430, 1986., 1989; Rotheim, 1988), fazendo constantes julgamentos sobre a atmosfera social e, com base nela, agindo racionalmente na busca pelos melhores resultados23 (23) Uma síntese da racionalidade proposta em autores pós-keynesianos é apresentada em Davis (1999). .
De acordo com o que Keynes expôs no seu tratado sobre probabilidade, as informações sobre o conjunto de restrições macroeconômicas são tratadas pelos indivíduos e transformadas em premissas (h). Estas modificam o nível de crença racional (p) sobre determinadas proposições, em especial aquelas relacionadas aos investimentos produtivos. Tais evidências, inclusive sobre a reação estatal a uma crise econômica, que se mostra altamente restritiva e pouco coordenada (Paula; Pirez, 2017PAULA, L. F.; PIRES, Manoel. Crise e perspectivas para a economia brasileira. Estudos Avançados, v. 89, n. 31, 2017.), impactam no peso dos argumentos dos tomadores de decisão. Partindo de Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990. e Vercelli (2011), é como se esse conjunto de premissas aumentassem o peso do argumento, mas as evidências agissem negativamente sobre o nível de crença empreendedora dos empresários ligados à esfera produtiva, causando uma queda em seus níveis de confiança e fragilizando sua propensão aos investimentos produtivos.
Por outro lado, as premissas que se formam em uma economia que padece desses diversos problemas macroeconômicos reforçam os argumentos em favor da especulação financeira. As altas taxas de juros, engessadas pelo regime de metas de metas de inflação, representam uma válvula de escape para as incertezas dos empreendedores (Sicsú, 2002SICSÚ, J. Políticas não-monetárias de controle da inflação: uma proposta pós-keynesiana. Análise Econômica, Porto Alegre, ano 21, n. 39, p. 115-136, 2002.). Como evidenciaram Bruno e Caffe (2018)24 (24) Segundo Bruno e Caffe (2018, p. 241-242), “a financeirização da economia brasileira é singular em muitos aspectos. Diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos onde as taxas de juros são muito baixas ou até negativas, as taxas praticadas no Brasil penalizam o investimento produtivo, reduzindo o lucro empresarial e as taxas de crescimento econômico”. , esse bloqueio produtivo em favor da acumulação rentista causou uma dissociação entre o lucro empresarial e a acumulação de capital, fazendo com que os investimentos, a geração de renda e emprego fossem comprometidos pela atratividade financeira.
Altas taxas de juros ainda promoveram o ingresso de capitais especulativos que apreciaram o câmbio e debilitaram as expectativas de rentabilidade dos investimentos. Trata-se de capitais que provocam endividamento e instabilidade financeira. Obviamente acabam fragilizando as decisões de investimento e pouco afetam os níveis da formação bruta de capital fixo (FBCF) (Bresser-Pereira; Gala, 2007BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, P. Por que a poupança externa não promove crescimento. Revista de Economia Política, v. 27, n. 1, p. 3-19, 2007.; 2010BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, P. Macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Revista de Economia Política, v. 30, n. 4 (120), p. 663-686, 2010.; Bresser, 2011BRESSER-PEREIRA, L. C. O Brasil e o novo desenvolvimentismo. Interesse Nacional, 2011.; 2014aBRESSER-PEREIRA, L. C. Macroéconomie développementiste. Palestra no Institut des Amériques, Paris, 2014a.; 2014bBRESSER-PEREIRA, L. C. Reflecting on New Developmentalism. São Paulo: EESP/FGV, 2014b.; Bresser-Pereira; Araújo; Gala, 2014BRESSER-PEREIRA, L. C.; ARAÚJO, E.; GALA, P. An empirical study of the substitution of foreign for domestic savings in Brazil. Revista de EconomiA da ANPEC, v. 15, n. 1, p. 54-67, 2014. ). A sobrevalorização cambial, além de prejudicar as expectativas de lucro empresarial, facilita a importação de bens de consumo, principalmente de maior conteúdo tecnológico.
O fato de os argumentos pesarem em desfavor dos investimentos produtivos e a favor da acumulação rentista fragiliza o animal spirit dos empreendedores. Se entendido como uma propensão para a ação que depende do contexto institucional e econômico, o animal spirit especulativo toma o espaço do empreendedor. Ao contrário de uma regulação que desencoraje os ganhos de curto prazo, como recomenda Dow (2014)DOW, S. Animal spirits and organization. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 37, n. 2, p. 211-231, 2014., o cenário brasileiro desencadeia o animal spirit financeiro que se manifesta em comportamentos que buscam a valorização de ativos.
Somam-se às restrições macroeconômicas os problemas da estrutura produtiva. Enquanto alguns capitais se destinam à especulação financeira, outros encontram lucratividade em atividades com vantagens comparativas estáticas. O boom das commodities, a disponibilidade de recursos naturais e sua utilização a baixo custo, a mentalidade agrarista ainda arraigada na sociedade e o apoio financeiro às atividades com vantagens comparativas25 (25) Para Almeida (2011), os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foram predominantemente destinados para atividades em que o Brasil já apresentava vantagens comparativas. fizeram pesar as decisões em prol dos investimentos em atividades de menor conteúdo tecnológico. Essas premissas reforçam a crença (racional) de que as atividades industriais estão sujeitas a uma incerteza mais significativa, estimulando os capitais a migrarem para atividades tradicionais.
A literatura recente e alguns indicadores atestam essas afirmações. Se Nassif (2008)NASSIF, A. Há evidências de desindustrialização no Brasil? Revista de Economia Política, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 72-96, mar. 2008. questionou o problema de desindustrialização, autores como Cano (2015)CANO, W. Desindustrialização no Brasil é real e estrutural. Campinas: Unicamp. IE. Cede, 2015. Disponível em: https://www3.eco.unicamp.br/cede/centro/146-destaque/508-desindustrializacao-no-brasil-e-real-e-estrutural. Acesso em:1 dez. 2015.
https://www3.eco.unicamp.br/cede/centro/...
, Gonçalves (2012)GONÇALVES, R. Governo Lula e o Nacional-Desenvolvimentismo às avessas. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 31, 2012., Oreiro e Feijó (2010)OREIRO, J. L.; FEIJÓ, C. A. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. Revista de Economia Política, v. 30, n. 2 (118), p. 219-232, abr./jun. 2010. não deixam dúvida da sua existência, embora as causas sejam diversas. O Valor Adicionado (VA) da indústria de transformação vem perdendo progressivamente participação no VA total26
(26)
O caso brasileiro não pode ser tratado como uma desindustrialização natural, conforme destacam Rowthorn e Ramaswan (1999) ao fazerem referência à tendência de crescimento das atividades relacionadas ao setor serviços em detrimento de outras. Enquanto nos EUA e Alemanha a redução da participação da indústria no PIB acontece depois de atingido um nível de renda per capita superior aos 30 mil dólares, no Brasil, o ápice da participação industrial no PIB acontece em 1987 com uma renda per capita pouco superior aos quatro mil dólares.
. Chegou a representar mais de 17% em 2004, caindo para, em média, 12,5% em 2016 e retrocedendo para 12% em 2019. O Valor da Transformação Industrial (VTI) em relação ao Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) – um indicador do adensamento das cadeias produtivas27
(27)
Conforme Carneiro (2008), esse indicador representa uma medida de adensamento das cadeias produtivas para o conjunto da indústria. Quando ele declina significa que uma parcela crescente das compras intermediárias se originam fora da indústria.
– era de 46,1% em 1996, reduzindo-se para 42% em 201928
(28)
Desempenho diferente é observado na indústria extrativa, na qual o indicador sobe de 1,2% em 1996 para 1,4% em 2003 e atinge o ápice de 6,1% em 2013.
(IBGE, 2021IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Biblioteca. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719. Acesso em: 20 nov. 2021.
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php...
).
Essa breve observação dos indicadores reforça a existência da fragilidade na formação das expectativas individuais relativas ao investimento produtivo, particularmente daqueles associados às indústrias de maior conteúdo tecnológico. No nível de ação dos empreendedores, o cenário tende a reforçar as premissas e as crenças de que a rentabilidade de capitais aplicados em setores tradicionais é mais provável. Dados estimados por Miguez (2016)MIGUEZ, T. H. L. Evolução da formação bruta de capital fixo na economia brasileira 2000-2013: uma análise multissetorial a partir das Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs). Tese (Doutorado)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia da Indústria e Tecnologia, 2016. 155p. apontam a supremacia da FBCF na agropecuária e indústria extrativa em relação aos demais setores. Enquanto a FBCF cresceu a uma taxa média de 6,7% na agricultura e 11,5% na indústria extrativa no período de 2000 a 2013, na indústria de transformação, cresceu a uma taxa de 2,7%29 (29) Mesmo no período de maior crescimento econômico, de 2003 a 2010, o melhor desempenho na FBCF aconteceu em atividades tradicionais, que atendem ao consumo das famílias. Em artigos do vestuário e acessórios, por exemplo, a FBCF cresceu 10,5% a.a.; em eletrodomésticos e material eletrônico, 14,3% a.a.; em automóveis, camionetas, caminhões e ônibus, 11,2% a.a.; e em alimentos e bebidas, cerca de 4,6% a.a. (Miguez, 2016). . Na medida em que as premissas individuais se tornam coletivas, elas criam e reforçam crenças compartilhadas, gerando convenções que atuam tanto na perspectiva dos homens de negócios como na dos police makers30 (30) Sobre a relação entre convenções e política econômica, sugere-se o texto de Erber (2011). .
As crenças estabelecidas no âmbito individual (e coletivo) são a representação das características macroeconômicas do Brasil. No feedback entre o ambiente micro e macroeconômico, não apenas os investimentos produtivos ficam comprometidos e destinados a atividades tradicionais, mas também o processo inovativo acaba afetado. Além de baixa (na Alemanha, por exemplo, gira em torno de 80%), a taxa de inovação se eleva nos períodos de melhor desempenho econômico (aumentou de 31,52% em 1998-2000 para 37,84% em 2006-2008, período em que o PIB per capita cresceu mais de 20%, segundo o IBGE, 2015IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SCN – Sistema de Contas Nacionais. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html?=&t=resultados. https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719. Acesso em: 20 nov. 2021.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/eco...
), se retraindo nos períodos de crise (no período 2009-2011, a taxa de inovação no Brasil caiu para 35,56%, mantendo-se praticamente estável no período de 2012-2014, quando chega a 36%, e reduzindo-se para 33,6% entre 2017 e 2019). Essas breves flutuações, que acompanham o desempenho da economia em vez de determiná-lo, são ilustrativas da dificuldade brasileira no que diz respeito à deliberação sobre o processo inovativo31
(31)
Reportagem da folha de São Paulo em 2013 apontava justamente a crise mundial como responsável pela queda da taxa de inovação no Brasil entre 2009-2011. O cenário se reproduz na crise sanitária atual.
.
As crenças formadas no âmbito das firmas criam rotinas que acabam aprisionando o Brasil em atividades de baixo conteúdo tecnológico, afetando a inovação e o desempenho dos setores dinâmicos da atual revolução tecnológica. Depois de bem-sucedida em ingressar na revolução da produção em massa, a partir do final do século passado a economia brasileira acabou ficando para trás (falling behind), não se adequando ao atual paradigma tecnoeconômico (Arend, 2015AREND, M. A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –Ipea, 2015. (Texto para Discussão).).
Ao contrário dos países asiáticos, em que a literatura aponta um catch up pela incorporação das tecnologias mais avançadas32 (32) Segundo Viotti (2005, p. 955): “Há muito se desconfia que a qualidade e a intensidade do processo de inovação tecnológica, que ocorre na empresa brasileira, desempenham papel central na explicação das razões da limitada performance da produtividade do trabalho”. , o Brasil está falling behind e com graves dificuldades de ingresso no novo paradigma tecnoeconômico. Carneiro (2008)CARNEIRO, R. Impasses do desenvolvimento brasileiro: a questão produtiva. Campinas: IE/Unicamp, 2008. 56p. (Texto para Discussão, n. 153). observa que ampliação da participação da indústria de material eletrônico e de comunicações na estrutura produtiva é o que dá suporte ao avanço da tecnologia da informação (e das atividades conexas que se relacionam com a microeletrônica). Enquanto nos países desenvolvidos se observa uma alta participação do valor adicionado desse setor em relação do total (em 2003 era de 3,1%, passando para 25% em 2006), o Brasil está muito aquém do que se poderia esperar, e, nos últimos anos, ocorreu pouca melhora no indicador. Em 2008, o percentual de valor adicionado pela indústria de material eletrônico e telecomunicações em relação ao total da indústria de transformação era de 3,7%, caindo para 3,4% em 2012 e 2,24% em 2014 (UNIDO, 2017UNIDO. International Yearbook of Industrial Statistics. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2017.). Para as empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, os investimentos no setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos representaram 2% do total da indústria de transformação em 201933 (33) Pesquisa Industrial Anual do IBGE (2021). . Já o déficit comercial brasileiro no setor do complexo eletrônico chegou a 17,7 bilhões de reais em 2020.
O precário desempenho industrial, a debilidade do setor que representa o último paradigma produtivo (ou tecnoeconômico) e a frágil inserção internacional do país, com quedas persistentes na participação das exportações da indústria de transformação em relação ao total mundial35 (35) Apresentou uma média de 1% na década de 2000, ao passo que se situou em 0,88% em 2018 e 0,82% em 2019 (CNI, 2021). e altos déficits tecnológicos36 (36) O país experimenta o crescimento constante dos déficits comerciais nos setores de alto conteúdo tecnológico. Em 2020, por exemplo, o setor classificado como de alta e média/alta intensidade tecnológica apresentou déficit comercial de R$ 64,7 bilhões, ao passo que setores considerados de baixa e média/baixa intensidade tecnológica registraram superávit de 116,8 bilhões (IEDI, 2021). , retratam a especialização regressiva pela qual passa a economia brasileira.
Quando da insurgência de uma revolução tecnológica, o nível percebido de incerteza sobre o resultado das tecnologias mais avançadas é maior do que aquele existente nos ramos de atividade com técnicas tradicionais de produção. Essa precária base sobre a qual se formam as expectativas resulta da inexistência de premissas que permitam conclusões favoráveis sobre os resultados esperados de investimentos que carregam consigo a mudança técnica. O que poderia mitigar a fragilidade do processo inovativo brasileiro, colocando o país próximo à fronteira tecnológica? Na teoria de Nelson e Winter (1982)NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982., as rotinas, enquanto acumulado de conhecimento, seriam um dos fatores capazes de proporcionar o avanço das técnicas produtivas. Porém, o aprisionamento da estrutura produtiva em setores tradicionais acaba inercializando as rotinas e inovações, fazendo com que as melhorias tecnológicas aconteçam nos setores de baixo conteúdo tecnológico ou destinados à exploração de recursos naturais. Acontece um tipo de aprisionamento conforme o que fora descrito por Arthur (1989)ARTHUR, W. B. Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The Economic Journal, v. 99, n. 394, p. 116-131, Mar. 1989. e ressaltado em Dosi (1988b)DOSI, G. The nature of innovative process. In: DOSI, G. et al. Technical change and economic theory. London: Printer, 1988b.. Nesse último autor, por exemplo, entre os mecanismos que determinam o progresso técnico estão a abundância das fontes de insumos (mecanismo indutor) e a trajetória tecnológica da estrutura produtiva (mecanismo de estímulo).
Dada a disponibilidade de fatores produtivos e a trajetória recente da economia brasileira, uma política macroeconômica, industrial e tecnológica adequada seria o ponto de partida para romper o aprisionamento tecnológico (path dependence). Conforme observa Perez (2001PEREZ, C. Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como Blanco móvil. Revista de la Cepal, Santiago de Chile, n. 75, p. 115-136, Dic. 2001.; 2004)PEREZ, C. Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI, 2004., a irrupção de uma revolução abre janelas de oportunidade aos países em desenvolvimento. Porém, a tecnologia não é um bem livre que pode ser facilmente apropriado (Dosi; Orsenigo, 1988DOSI, G.; ORSENIGO, L. Coordination and transformation: an overview of structures, behaviour and change in evolutionary environments. In: DOSI, G. et al. Technical change and economic theory. London: Printer, 1988.). Para que isso aconteça, além de um processo específico de aprendizagem, é necessário um conjunto de políticas macroeconômicas e setoriais que aumentem o peso do argumento, o nível de confiança e amenizem a incerteza inerente aos investimentos e inovações que se relacionam às tecnologias de ponta. Tanto autores keynesianos (Hamouda; Smithin, 1988HAMOUDA, O. F.; SMITHIN J. N. Some remarks on uncertainty and economic analysis. Economic Journal, v. 98, n. 389, p. 159-164,1988.) como schumpeterianos (ex.: Dosi, 1988DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, v. 26, n. 3, p. 1120-1171, Sept. 1988.) reconhecem que, nos períodos de mudança estrutural, a incerteza se tona mais evidente. Se por um lado as convenções (Hamouda; Smithin, 1988HAMOUDA, O. F.; SMITHIN J. N. Some remarks on uncertainty and economic analysis. Economic Journal, v. 98, n. 389, p. 159-164,1988.) e rotinas (Nelson; Winter, 1982NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.) são importantes para definir o curso das ações dos empreendedores, os momentos de mudança estrutural ou crise requerem o exercício do animal spirit (Dow, 2014DOW, S. Animal spirits and organization. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 37, n. 2, p. 211-231, 2014.). Nesse instante, a propensão para a ação deve estar além das motivações pessoais e receber estímulos institucionais e de política (macro) econômica. Se, em sua essência, a ação dos empresários demanda apoio e ações estatais (Mazzucato, 2014aMAZZUCATO, M. Building the entrepreneurial state: a new framework for envisioning and evaluating mission-oriented public investments. Mission-Oriented Finance for Innovation conference, London, 2014a.; 2014bMAZZUCATO, M. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014b.), no Brasil, um estado empreendedor é essencial para romper com a história de atraso da economia do país.
Considerações finais
A proposta do texto foi discutir as decisões de investimento e inovação nas perspectivas pós-keynesiana e neoschumpeteriana, extrapolando tal análise para o Brasil contemporâneo. Com essa proposição, foi possível deslocar, ao menos em parte, as análises tradicionalmente apresentadas, que enfocam a dinâmica macroeconômica dos investimentos e da inovação no país, deixando o processo decisório em segundo plano, apesar de ele estar claramente presente tanto em Keynes como em Schumpeter.
Embora o texto tenha enfatizado o processo decisório, a opção de análise (ou metodológica) manteve o pressuposto de que os indivíduos estão em constante interação com o ambiente econômico, sendo suas ações determinantes e determinadas no contexto em que se encontram. Entende-se, assim, o desempenho econômico como uma unidade orgânica que, tal como reconhecera Keynes, representa o reflexo de ações humanas mutuamente determinadas, embora certa autonomia individual seja indiscutível. Essas constatações são fundamentais para o entendimento das decisões aqui tratadas. À forma de condução da política macroeconômica ao longo dos últimos anos (altas taxas de juros, valorização cambial, engessamento do estado, abertura comercial e financeira etc.) soma-se a fragilidade histórica da estrutura produtiva, influenciando as premissas e o nível de crença racional dos empreendedores e debilitando suas expectativas em relação à inovação e ao investimento produtivo. Dessa forma, existe uma tendência de autorreforço dos problemas. Uma estrutura produtiva precária conduz a uma política (macro) econômica restritiva, que realimenta a fraca propensão aos investimentos e à inovação tecnológica.
Romper com essas condições adversas requer mais intervenção do estado ao invés de menos. As experiências históricas de desenvolvimento (cf. Chang, 2004CHANG, H-J. Chutando a escada: a estratégia de desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora da Unesp, 2004.) demonstram que a superação do atraso demanda uma estratégia nacional consistente. Uma política desenvolvimentista é fundamental para alavancar o mercado produtivo, particularmente a indústria e as atividades que incorporam as tecnologias mais avançadas. Cabe ao Estado apoiar o setor produtivo, aliando-se aos empreendedores e fornecendo-lhes as condições necessárias aos investimentos produtivos e ao progresso técnico. O crescimento pautado pela indústria e pelas tecnologias revolucionárias requer um Estado forte, que estabeleça e estimule as crenças dos empreendedores em prol do resultado positivo dos investimentos industriais, bem como da inovação tecnológica. Tal mudança ideológica é, acima de tudo, uma mudança institucional que depende da forma como o futuro é imaginado (à la ShakcleSHAKCLE, G. L. S. Expectation, enterprise and profit: the theory of the firm. London: Allen & Unwin, 1970.).
-
(1)
Em especial, podem-se mencionar autores ligados ao “novo” desenvolvimentismo, que tem Bresser-Pereira como principal expoente, e aqueles que defendem uma estratégia “social” desenvolvimentista. Seria difícil elencar os diversos autores associados a cada uma das correntes, porém, muitos deles são citados ao longo deste trabalho.
-
(2)
Embora a síntese não esgote os diversos problemas existentes na economia brasileira, procura expressar a afinidade de análise entre autores keynesianos, neoschumpeterianos e estruturalistas. Muitos dos autores e teorias que tratam do assunto estão citados na seção 4 deste trabalho.
-
(3)
Representou pouco mais de 2% do PIB em 2019.
-
(4)
Referências sobre o processo de interação entre indivíduos e estrutura socioeconômica são os trabalhos desenvolvidos por Hodgson (2007HODGSON, G. M. Institutions and individuals: interaction and evolution. Organization Studies, Thousand Oaks (USA), v. 28, n. 1, p. 95-116, 2007.; 2010)HODGSON. G. M. Choice, habit and evolution. Journal of Evolutionary Economics, v. 20, n. 1, p. 1-18, Jan. 2010. a partir do institucionalismo derivado de Veblen. O autor propõe o conceito de Reconstitutive Downward Causation, pelo qual os indivíduos podem alterar a estrutura social vigente ao mesmo tempo em que são influenciados por ela. Tal conceito aproxima-se das abordagens de Keynes e Schumpeter se entendermos que investimentos e inovação são institucionalmente determinados, mas podem alterar muitas das instituições estabelecidas na medida em que mudam os métodos de produção da economia.
-
(5)
A preocupação, como ficará explicito na seção 4, é com os investimentos (FBKF) industriais e com os setores característicos da revolução tecnológica em curso.
-
(6)
Para uma discussão sobre o método em Keynes e o papel da indução tanto no desenvolvimento do T.P. como sua validade na G.T sugere-se o texto de Duayer (1995)DUAYER, M. Ontologia Social Organicista Pós-Keynesiana: ruptura com o neoclassicismo. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 190-217, 1995..
-
(7)
Winslow (1986)WINSLOW, E. G. “Human Logic” and Keynes’ Economics. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 413-430, 1986. afirma que Keynes (1921)KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921. aceitou a distinção entre lógica humana e lógica formal, conforme crítica de Ramsey’s. Enquanto a lógica humana trata da forma de obtenção das premissas (do conhecimento), a lógica formal é uma forma de processá-las.
-
(8)
Para Runde (1990)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990., uma premissa pode ser relevante mesmo que implique uma não mudança na relação de probabilidade. Nesse caso, uma premissa h1 pode implicar outra proposição h2, de forma que ambas não alterem a relação de probabilidade inicialmente estabelecida (x/h = x/h1h2). Nesse caso, o peso do argumento se alterou, mas a probabilidade pode permanecer a mesma. Essa discussão está apresentada no capítulo 6 do TP (Keynes, 1921KEYNES, J. M. Treatise on probability. London: MacMillan and Co., 1921.).
-
(9)
Segundo Runde (1990, p. 8)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.: “A comparison of this sort could be made if we assume some hypothetical value for xlh and then check whether or not the addition of h, to x/h would change that value. If so, it is possible to conclude that h, is relevant to x/h without our knowing the value of x/h”.
-
(10)
Segundo Runde (1990, p. 8)RUNDE, J. Keynesian uncertainty and the weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, 1990.: “This notion introduces the possibility that weight2 may decrease with the acquisition of new evidence, if such evidence leads to a sufficiently large reassessment of ‘relevant ignorance’.” -
(11)
O autor utiliza a clássica citação de Keynes para justificar a proposição: “[…] the prospect of a European war is uncertain, or the price of copper and the rate of interest twenty years hence…about these matters there is no scientific basis on which to form any calculable probability whatever. We simply do not know” (Keynes, XIV, p. 113-114). -
(12)
Tal conotação se aproxima do que expressam Dequech (1998)DEQUECH, D. Rationality and institutions under uncertainty. Ph.D. Thesis. Cambridge, University of Cambridge, 1998, p. 200. e Ferrari Filho e Conceição (2005)FERRARI FILHO, F.; CONCEIÇÃO, O. A. C. The concept of uncertainty in Post Keynesian Theory and in institutional economics. Journal of Economic Issues, New York, v. 34, n. 3, p. 579-594, 2005. ao observarem que enquanto no TP havia o binômio Probabilidade-Peso, na GT se destaca a relação incerteza-estado de confiança. -
(13)
Nesse caso, o emblemático caso dos jogos de roleta é lembrado, pois se a roleta não contém nenhum viés, o decisor sabe exatamente a lista completa de eventos possíveis e conhece a probabilidade “objetiva” ou “verdadeira” de cada um deles ocorrer. -
(14)
Mazzucato (2014)MAZZUCATO, M. Building the entrepreneurial state: a new framework for envisioning and evaluating mission-oriented public investments. Mission-Oriented Finance for Innovation conference, London, 2014a. lembra que Keynes (1936)KEYNES, J. M. Essays in Biography. In: THE COLLECTED Writings of John Maynard Keynes, vl. X. London: Macmillan, [1936] 1972., em carta secreta dirigida a Roosevelt, teria reconhecido que o mundo dos negócios é formado por empreendedores que carecem de estímulos estatais (animais domesticados). Daí as conclusões sobre volatilidade dos investimentos e fragilidade sob as quais se assentam as expectativas empresariais. -
(15)
Para Skidelsky (1996)SKIDELSKY, R. Keynes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999., a estabilidade do consumo e a volatilidade dos investimentos são ideias presentes tanto no Tratado sobre a Moeda como na Teoria Geral. -
(16)
Esse fato fica evidente quando se analisa o caso brasileiro. Além das dificuldades inerentes à decisão de investimentos, problemas macroeconômicos e estruturais acabam prejudicando as ações empresariais, particularmente em atividades que se distanciam das vantagens comparativas do país. -
(17)
Segundo Fagerberg (2003)FAGERBERG, J. Schumpeter and the revival of evolutionary economics: an appraisal of the literature. Journal of Evolutionary Economics, v. 13, p. 125-159, 2003., Nelson e Winter (1982)NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. deixaram uma agenda de pesquisa que se manifesta em diversas dimensões. O autor destaca três delas: a primeira se refere justamente à contribuição de Nelson e Winter para a compreensão do comportamento das firmas, na qual se destaca o papel da aprendizagem e do conhecimento, tradado no conceito de rotinas organizacionais; a segunda é uma herança intelectual que se manifesta em estudos de modelos formais de crescimento com características dinâmicas; por fim, a terceira se presta à exploração de diferentes tipos de dinâmicas entre os regimes tecnológicos de indústrias ou setores. -
(18)
Seguindo o modelo Freeman/Perez, até o presente momento foram observadas cinco revoluções tecnológicas: a revolução industrial; a era do vapor e das ferrovias; a era do aço, da eletricidade e da engenharia pesada; a era do petróleo, do automóvel e da produção em massa; e a era da informática e da sociedade do conhecimento. -
(19)
A autora reproduz a seguinte passagem de Keynes (1926, parte 4)KEYNES, J. M. The end of laissez-faire. London: Prometheus Books, 1926.: “The important thing for Government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a little worse; but to do those things which at present are not done at all”. -
(20)
O social desenvolvimentismo enfatizava a equidade e a política redistributiva, enquanto o novo desenvolvimentismo despendia esforços em demonstrar os problemas da fraca competitividade internacional. -
(21)
Tanto o “social” desenvolvimentismo, em parte ligado aos desenvolvimentistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), como o “novo”, que tem Bresser-Pereira como principal expoente, insistiram nos problemas relacionados à precária estrutura produtiva (desindustrialização precoce e reprimarização da pauta exportadora). -
(22)
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) das empresas não financeiras apresentou crescimento médio anual de 14,8% no período de 2004-2010, retraindo-se para apenas 2,7% em 2011-2013 (Miguez, 2016MIGUEZ, T. H. L. Evolução da formação bruta de capital fixo na economia brasileira 2000-2013: uma análise multissetorial a partir das Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs). Tese (Doutorado)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia da Indústria e Tecnologia, 2016. 155p.). As estimativas foram feiras a partir do SCN-12 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). -
(23)
Uma síntese da racionalidade proposta em autores pós-keynesianos é apresentada em Davis (1999)DAVIS, J. B. Human action and agency. In: O’HARA, P. A. (Ed.). Encyclopedia of political economy. London: Routledge, 1999.. -
(24)
Segundo Bruno e Caffe (2018, p. 241-242), “a financeirização da economia brasileira é singular em muitos aspectos. Diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos onde as taxas de juros são muito baixas ou até negativas, as taxas praticadas no Brasil penalizam o investimento produtivo, reduzindo o lucro empresarial e as taxas de crescimento econômico”. -
(25)
Para Almeida (2011)ALMEIDA, M. O Novo Estado Desenvolvimentista e o Governo Lula. Revista Economia & Tecnologia, Ano 07, Volume Especial, p. 69-89, 2011. , os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foram predominantemente destinados para atividades em que o Brasil já apresentava vantagens comparativas. -
(26)
O caso brasileiro não pode ser tratado como uma desindustrialização natural, conforme destacam Rowthorn e Ramaswan (1999)ROWTHORN, R.; RAMASWANY, R. Growth, trade and deindustrialization. IMF Staff Papers, v. 46, n. 1, 1999. ao fazerem referência à tendência de crescimento das atividades relacionadas ao setor serviços em detrimento de outras. Enquanto nos EUA e Alemanha a redução da participação da indústria no PIB acontece depois de atingido um nível de renda per capita superior aos 30 mil dólares, no Brasil, o ápice da participação industrial no PIB acontece em 1987 com uma renda per capita pouco superior aos quatro mil dólares. -
(27)
Conforme Carneiro (2008)CARNEIRO, R. Impasses do desenvolvimento brasileiro: a questão produtiva. Campinas: IE/Unicamp, 2008. 56p. (Texto para Discussão, n. 153)., esse indicador representa uma medida de adensamento das cadeias produtivas para o conjunto da indústria. Quando ele declina significa que uma parcela crescente das compras intermediárias se originam fora da indústria. -
(28)
Desempenho diferente é observado na indústria extrativa, na qual o indicador sobe de 1,2% em 1996 para 1,4% em 2003 e atinge o ápice de 6,1% em 2013. -
(29)
Mesmo no período de maior crescimento econômico, de 2003 a 2010, o melhor desempenho na FBCF aconteceu em atividades tradicionais, que atendem ao consumo das famílias. Em artigos do vestuário e acessórios, por exemplo, a FBCF cresceu 10,5% a.a.; em eletrodomésticos e material eletrônico, 14,3% a.a.; em automóveis, camionetas, caminhões e ônibus, 11,2% a.a.; e em alimentos e bebidas, cerca de 4,6% a.a. (Miguez, 2016MIGUEZ, T. H. L. Evolução da formação bruta de capital fixo na economia brasileira 2000-2013: uma análise multissetorial a partir das Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs). Tese (Doutorado)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia da Indústria e Tecnologia, 2016. 155p.). -
(30)
Sobre a relação entre convenções e política econômica, sugere-se o texto de Erber (2011)ERBER, F. S. As convenções de desenvolvimento no Governo Lula: um ensaio de economia política. Revista de Economia Política, v. 31, n. 1, p. 31-55, jan./mar. 2011.. -
(31)
Reportagem da folha de São Paulo em 2013 apontava justamente a crise mundial como responsável pela queda da taxa de inovação no Brasil entre 2009-2011. O cenário se reproduz na crise sanitária atual. -
(32)
Segundo Viotti (2005, p. 955)VIOTTI, E. B. Inovação tecnológica na indústria brasileira: um exercício no uso de indicadores de inovação e algumas propostas para seu aperfeiçoamento. Parcerias Estratégicas, Brasília, DF, n. 20, jun. 2005. (Seminários temáticos para 3º conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação).: “Há muito se desconfia que a qualidade e a intensidade do processo de inovação tecnológica, que ocorre na empresa brasileira, desempenham papel central na explicação das razões da limitada performance da produtividade do trabalho”. -
(33)
Pesquisa Industrial Anual do IBGE (2021)IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SCN – Sistema de Contas Nacionais. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html?=&t=resultados. https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719. Acesso em: 20 nov. 2021.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/eco... . -
(34)
No ano de 2018, antes da crise pandêmica, o setor detinha 2,1% do investimento industrial, e o déficit comercial já era da ordem de 18,5 bilhões (IEDI, 2021IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Recuo da alta tecnologia nas exportações industriais de 2020. Carta IEDI, 2021. Disponível em https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1060.html. Acesso em: 15 nov. 2021.
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_ied... ). -
(35)
Apresentou uma média de 1% na década de 2000, ao passo que se situou em 0,88% em 2018 e 0,82% em 2019 (CNI, 2021CNI – Confederação Nacional da Indústria. 2021. Indústria brasileira perde mais uma posição no ranking mundial em 2021. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/desempenho-da-industria-no-mundo. Acesso em: 10 Nov. 2021.
https://www.portaldaindustria.com.br/est... ). -
(36)
O país experimenta o crescimento constante dos déficits comerciais nos setores de alto conteúdo tecnológico. Em 2020, por exemplo, o setor classificado como de alta e média/alta intensidade tecnológica apresentou déficit comercial de R$ 64,7 bilhões, ao passo que setores considerados de baixa e média/baixa intensidade tecnológica registraram superávit de 116,8 bilhões (IEDI, 2021IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Recuo da alta tecnologia nas exportações industriais de 2020. Carta IEDI, 2021. Disponível em https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1060.html. Acesso em: 15 nov. 2021.
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_ied... ).
-
JEL: B25, B50, O11, O30.
Referências bibliográficas
- ABRAMOVITZ, M. Catching up, forging ahead and falling behind. Journal of Economic History, New York, v. 46, n. 2, p. 385-406, 1986.
- AREND, M. A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –Ipea, 2015. (Texto para Discussão).
- ALMEIDA, M. O Novo Estado Desenvolvimentista e o Governo Lula. Revista Economia & Tecnologia, Ano 07, Volume Especial, p. 69-89, 2011.
- ARTHUR, W. B. Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The Economic Journal, v. 99, n. 394, p. 116-131, Mar. 1989.
- BARBOSA, N.; SOUZA, J. A. P. A inflexão do Governo Lula: política econômica, crescimento e distribuição de renda. In: SADER, E.; GARCIA, M. A. (Org.). Brasil: entre o passado e o futuro. São Paulo: Fundação Perseu Abramo e Editora Boitempo, 2010. Disponível em: http://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf Acesso: 27 jul. 2015.
» http://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf - BATEMAN, B. W. “Human logic” and Keynes’ economics: a comment. Eastern Economic Journal, v. 15, n. 1, p. 63-67, 1989.
- BECKER, M. C. Organizational routines: a review of the literature. Industrial and Corporate Change, v. 13, n. 4, p. 643-677, 2004.
- BIELCHOWSKY, R. (Org.). Cinqüenta anos de pensamento na Cepal Rio de Janeiro: Record, 2000.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Macroéconomie développementiste Palestra no Institut des Amériques, Paris, 2014a.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Reflecting on New Developmentalism São Paulo: EESP/FGV, 2014b.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. O Brasil e o novo desenvolvimentismo. Interesse Nacional, 2011.
- BRESSER-PEREIRA, L. C.; ARAÚJO, E.; GALA, P. An empirical study of the substitution of foreign for domestic savings in Brazil. Revista de EconomiA da ANPEC, v. 15, n. 1, p. 54-67, 2014.
- BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, P. Macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Revista de Economia Política, v. 30, n. 4 (120), p. 663-686, 2010.
- BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, P. Por que a poupança externa não promove crescimento. Revista de Economia Política, v. 27, n. 1, p. 3-19, 2007.
- CARNEIRO, R. Impasses do desenvolvimento brasileiro: a questão produtiva. Campinas: IE/Unicamp, 2008. 56p. (Texto para Discussão, n. 153).
- CANO, W. Desindustrialização no Brasil é real e estrutural. Campinas: Unicamp. IE. Cede, 2015. Disponível em: https://www3.eco.unicamp.br/cede/centro/146-destaque/508-desindustrializacao-no-brasil-e-real-e-estrutural Acesso em:1 dez. 2015.
» https://www3.eco.unicamp.br/cede/centro/146-destaque/508-desindustrializacao-no-brasil-e-real-e-estrutural - CARABELLI. A. On Keynes’s method London: Macmillan, 1988.
- CARDOSO, F.; LIMA, G. T. A visão de Keynes do sistema econômico como um todo orgânico complexo. Economia e Sociedade, v. 17, n. 3, p. 359-381, 2008.
- CHANG, H-J. Chutando a escada: a estratégia de desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora da Unesp, 2004.
- CHICK, V. Macroeconomics after Keynes: a reconsideration of the General Theory. Cambridge: The MIT Press, 1983.
- CNI – Confederação Nacional da Indústria. 2021. Indústria brasileira perde mais uma posição no ranking mundial em 2021 Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/desempenho-da-industria-no-mundo Acesso em: 10 Nov. 2021.
» https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/desempenho-da-industria-no-mundo - DAVIS, J. Keynes on atomism and organicism. The Economic Journal, v. 99, p. 1159-1172, 1989.
- DAVIS, J. B. Human action and agency. In: O’HARA, P. A. (Ed.). Encyclopedia of political economy London: Routledge, 1999.
- DEQUECH, D. Expectations and confidence under uncertainty. Journal of Post Keynesian Economics, v. 21, n. 3, p. 415-430, 1999.
- DEQUECH, D. Rationality and institutions under uncertainty Ph.D. Thesis. Cambridge, University of Cambridge, 1998, p. 200.
- DOW, S. Animal spirits and organization. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 37, n. 2, p. 211-231, 2014.
- DOW, S. C. Keynes on knowledge, expectations and rationality. In: PHELPS, E. S.; FRYDMAN, R. (Ed.). Rethinking expectations: the way forward for macroeconomic. Princeton University Press, 2012.
- DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, v. 26, n. 3, p. 1120-1171, Sept. 1988.
- DOSI, G. The nature of innovative process. In: DOSI, G. et al. Technical change and economic theory. London: Printer, 1988b.
- DOSI, G. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, v. 22, n. 2, p. 102-103, Apr. 1993.
- DOSI, G.; ORSENIGO, L. Coordination and transformation: an overview of structures, behaviour and change in evolutionary environments. In: DOSI, G. et al. Technical change and economic theory. London: Printer, 1988.
- DUAYER, M. Ontologia Social Organicista Pós-Keynesiana: ruptura com o neoclassicismo. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 190-217, 1995.
- ERBER, F. S. As convenções de desenvolvimento no Governo Lula: um ensaio de economia política. Revista de Economia Política, v. 31, n. 1, p. 31-55, jan./mar. 2011.
- FERRARI FILHO, F.; CONCEIÇÃO, O. A. C. The concept of uncertainty in Post Keynesian Theory and in institutional economics. Journal of Economic Issues, New York, v. 34, n. 3, p. 579-594, 2005.
- FAGERBERG, J. Schumpeter and the revival of evolutionary economics: an appraisal of the literature. Journal of Evolutionary Economics, v. 13, p. 125-159, 2003.
- FONSECA, P. C. D.; CUNHA, A. M. BICHARA, J. S. O Brasil na Era Lula: retorno ao desenvolvimentismo? Revista Nova Economia, v. 23, n. 2, p. 403-428, 2013.
- FREEMAN, C.; PEREZ, C. Structural crisis of adjustment: business cycles and investment behaviour. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L. (Ed.). Technical change and economic theory London: Pinter, 1988. p. 38-66.
- GONÇALVES, R. Governo Lula e o Nacional-Desenvolvimentismo às avessas. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 31, 2012.
- HAMOUDA, O. F.; SMITHIN J. N. Some remarks on uncertainty and economic analysis. Economic Journal, v. 98, n. 389, p. 159-164,1988.
- HODGSON. G. M. Choice, habit and evolution. Journal of Evolutionary Economics, v. 20, n. 1, p. 1-18, Jan. 2010.
- HODGSON, G. M. Institutions and individuals: interaction and evolution. Organization Studies, Thousand Oaks (USA), v. 28, n. 1, p. 95-116, 2007.
- HODGSON, G. M. The nature and replication of routines. In: BECKER, M. C.; LAZARIC, N. (Org.). Organizational routines: advancing empirical research. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar: 2009. p. 26-44.
- IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Recuo da alta tecnologia nas exportações industriais de 2020. Carta IEDI, 2021. Disponível em https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1060.html Acesso em: 15 nov. 2021.
» https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1060.html - IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SCN – Sistema de Contas Nacionais Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html?=&t=resultados. https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719. Acesso em: 20 nov. 2021.
» https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html?=&t=resultados - IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Biblioteca Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719. Acesso em: 20 nov. 2021.
» https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=71719 - RUNDE, J. Keynesian uncertainty and weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, Oct. 1990.
- SHAKCLE, G. L. S. Expectation, enterprise and profit: the theory of the firm. London: Allen & Unwin, 1970.
- KEYNES, J. M. The end of laissez-faire London: Prometheus Books, 1926.
- KEYNES, J. M. Treatise on probability London: MacMillan and Co., 1921.
- KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money New York: HBJ Book, 1964.
- KEYNES, J. M. Essays in Biography. In: THE COLLECTED Writings of John Maynard Keynes, vl. X. London: Macmillan, [1936] 1972.
- KIM, L. Da imitação à inovação: a dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2005.
- LAKATOS, I. O falseamento e a metodologia dos programas de pesquisa científica. In: LAKATOS, I.; MUSGRAVE, A. (Org.). A crítica e o desenvolvimento do conhecimento São Paulo: Cultrix, 1979.
- LAVOIE, M. La necesidad de una alternativa. In: CRÍTICA a la economía ortodoxa. Seminario de Economía Crítica TAIFA. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004.
- MAZZUCATO, M. Building the entrepreneurial state: a new framework for envisioning and evaluating mission-oriented public investments. Mission-Oriented Finance for Innovation conference, London, 2014a.
- MAZZUCATO, M. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014b.
- MIGUEZ, T. H. L. Evolução da formação bruta de capital fixo na economia brasileira 2000-2013: uma análise multissetorial a partir das Matrizes de Absorção de Investimento (MAIs). Tese (Doutorado)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia da Indústria e Tecnologia, 2016. 155p.
- NASSIF, A. Há evidências de desindustrialização no Brasil? Revista de Economia Política, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 72-96, mar. 2008.
- NELSON, R. R.; WINTER, S. G. An evolutionary theory of economic change Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.
- NELSON, R. R.; SAMPAT, B. N. Las instituciones como factor que regula el desempeño económico. Revista de Economia Institucional, Bogotá, Colômbia, v. 2 n. 5, p. 17-51, 2001.
- NOVY, A. O retorno do Estado desenvolvimentista no Brasil. Indicadores Econômicos FEE, v. 36, n. 4, p. 121-128, 2009.
- NOVY, A. Política e economia, outra vez articuladas. Le Monde Diplomatique Brasil, ano 3, n. 27, p. 6-7, 2015.
- OREIRO, J. L.; FEIJÓ, C. A. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. Revista de Economia Política, v. 30, n. 2 (118), p. 219-232, abr./jun. 2010.
- PAULA, L. F.; PIRES, Manoel. Crise e perspectivas para a economia brasileira. Estudos Avançados, v. 89, n. 31, 2017.
- PAULANI, L. Brasil delivery: razões, contradições e limites da política econômica dos primeiros seis meses do governo Lula. In: PAULA, J. A de. A economia política da mudança. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- PEREZ, C. Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como Blanco móvil. Revista de la Cepal, Santiago de Chile, n. 75, p. 115-136, Dic. 2001.
- PEREZ, C. Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI, 2004.
- PEREZ, C. Technological revolutions and techno-economic paradigms Technology Governance, 2009. (Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics, n. 20).
- PROTEC. Pró-inovação tecnológica Monitor do Déficit Tecnológico, 2011. Disponível em http://protec.org.br/uploads/paginas/file/publicacoes/Monitor%20do%20d%C3%A9ficit%20tecnol%C3%B3gico%2010%20-%20Resumo%20de%202013.pdf Acesso em: 1 dez. 2015.
» http://protec.org.br/uploads/paginas/file/publicacoes/Monitor%20do%20d%C3%A9ficit%20tecnol%C3%B3gico%2010%20-%20Resumo%20de%202013.pdf - ROTHEIM, R. J. Organicism and the role of individual in Keynes’s thought. Journal of Post-Keynesian Economics, v. 12, n. 2, p. 316-326, 1989-1990.
- ROWTHORN, R.; RAMASWANY, R. Growth, trade and deindustrialization. IMF Staff Papers, v. 46, n. 1, 1999.
- RUNDE, J. Keynesian uncertainty and the weight of arguments. Economics and Philosophy, v. 6, n. 2, p. 275-292, 1990.
- SHAKCLE, G. L. S. Expectation, enterprise and profit: the theory of the firm. London: Allen & Unwin, 1970.
- SCHUMPETER, J. A. Capitalismo socialismo e democracia Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1984.
- SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico São Paulo: Nova Cultural, 1985.
- SICSÚ, J. Políticas não-monetárias de controle da inflação: uma proposta pós-keynesiana. Análise Econômica, Porto Alegre, ano 21, n. 39, p. 115-136, 2002.
- SKIDELSKY, R. Keynes Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
- UNIDO. International Yearbook of Industrial Statistics Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2017.
- VERCELLI, A. Weight of argument and economic decisions Department of Economic Policy, 2010. (Finance and Development Working Papers, n. 6,
- VERCELLI, A. Preferência pela liquidez e valor da opção. Economia e Sociedade, Campinas, n. 12, jun. 1999.
- VIOTTI, E. B. Inovação tecnológica na indústria brasileira: um exercício no uso de indicadores de inovação e algumas propostas para seu aperfeiçoamento. Parcerias Estratégicas, Brasília, DF, n. 20, jun. 2005. (Seminários temáticos para 3º conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação).
- WINSLOW, E. G. “Human Logic” and Keynes’ Economics. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 413-430, 1986.
- WINSLOW, E. G. “Human logic” and Keynes’ economics: a reply to Bateman”. Eastern Economic Journal, v. 12, n. 4, p. 67-70, 1989.
Anexo A
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
14 Ago 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
24 Set 2020 -
Aceito
30 Jan 2023
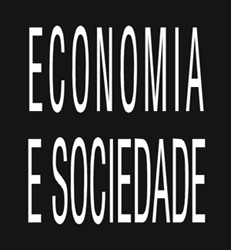



 Fonte: IPEA (2018).
Fonte: IPEA (2018).
 Obs.: Formação bruta de capital fixo – série encadeada dos índices de base móvel (média 1995 = 100). Variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: IPEA (2021).
Obs.: Formação bruta de capital fixo – série encadeada dos índices de base móvel (média 1995 = 100). Variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: IPEA (2021).