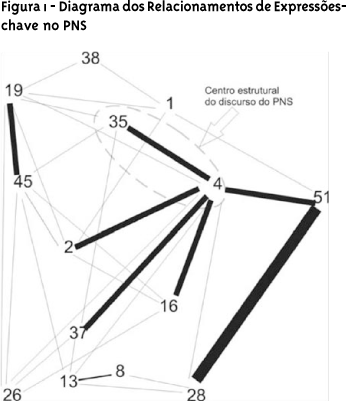Resumos
O presente artigo apresenta uma análise do Plano Nacional de Saúde publicado em 2004. Este documento expressa um importante período de transição na gestão do SUS, uma vez que foi predecessor do Pacto pela Saúde. A partir de um estudo descritivo com base em procedimentos quantitativos e qualitativos, o objetivo foi compreender as ideias centrais do documento, identificando as conexões existentes entre seus princípios, objetivos e prioridades. O principal resultado do estudo foi a identificação da integralidade das ações, da capacitação dos recursos humanos e mudança do marco regulatório com base numa visão intersetorial como núcleo central do documento. Essas ideias, por sua vez, circulam pelo discurso das diretrizes do plano, fortalecendo os laços do eixo central do texto na reorganização da atenção ambulatorial e na qualificação profissional. Por fim, quando comparadas metas e ações previstas nas diretrizes, observa-se uma tensão entre o que foram denominados vetores da verticalidade e da horizontalidade, deixando em aberto o rumo do lugar social em disputa.
Política de Saúde; Plano Nacional de Saúde; Lugar Social
This article analyses the Brazilian Health Plan, which was published in 2004. This document expresses an important transition period in the management of SUS (Brazil's National Health System), as it was the predecessor of the Health Pact. The discussion involves quantitative and qualitative procedures in order to understand the central ideas and demonstrate the connections between principles, objectives and priorities of this official document. The main result was the identification of integrality of actions, human resources qualification and change in the regulatory mark based on an intersector view as the central ideas of the document. These ideas, in turn, circulate across the discourse of the plan's guidelines, strengthening the connections of the central axis of the text in the reorganization of outpatient clinical care and professional qualification. Finally, a tension is observed between what has been called vectors of verticality and vectors of horizontality, leaving open the direction of the social place in dispute.
Health Policy; Brazilian Health Plan; Social Place
PARTE I - ARTIGOS
Plano Nacional de Saúde e o lugar social em disputa
Brazilian Health Plan and the dispute over the social place
Raul Borges GuimarãesI; Eduardo Augusto Werneck RibeiroII
IProfessor do Departamento de Geografia da UNESP - Universidade Estadual Paulista. Endereço: Avenida Angélica, 2635, apto. 131, CEP 01227-200, São Paulo-SP, Brasil.E-mail: raul@prudente.unesp.br
IIDoutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPR - Universidade Federal do Paraná. Endereço: Rua Roberto Simonsen, 305, CEP 19060-900, Presidente Prudente-SP, Brasil. E-mail: eduwer@hotmail.com
RESUMO
O presente artigo apresenta uma análise do Plano Nacional de Saúde publicado em 2004. Este documento expressa um importante período de transição na gestão do SUS, uma vez que foi predecessor do Pacto pela Saúde. A partir de um estudo descritivo com base em procedimentos quantitativos e qualitativos, o objetivo foi compreender as ideias centrais do documento, identificando as conexões existentes entre seus princípios, objetivos e prioridades. O principal resultado do estudo foi a identificação da integralidade das ações, da capacitação dos recursos humanos e mudança do marco regulatório com base numa visão intersetorial como núcleo central do documento. Essas ideias, por sua vez, circulam pelo discurso das diretrizes do plano, fortalecendo os laços do eixo central do texto na reorganização da atenção ambulatorial e na qualificação profissional. Por fim, quando comparadas metas e ações previstas nas diretrizes, observa-se uma tensão entre o que foram denominados vetores da verticalidade e da horizontalidade, deixando em aberto o rumo do lugar social em disputa.
Palavras-chave: Política de Saúde; Plano Nacional de Saúde; Lugar Social.
ABSTRACT
This article analyses the Brazilian Health Plan, which was published in 2004. This document expresses an important transition period in the management of SUS (Brazil's National Health System), as it was the predecessor of the Health Pact. The discussion involves quantitative and qualitative procedures in order to understand the central ideas and demonstrate the connections between principles, objectives and priorities of this official document. The main result was the identification of integrality of actions, human resources qualification and change in the regulatory mark based on an intersector view as the central ideas of the document. These ideas, in turn, circulate across the discourse of the plan's guidelines, strengthening the connections of the central axis of the text in the reorganization of outpatient clinical care and professional qualification. Finally, a tension is observed between what has been called vectors of verticality and vectors of horizontality, leaving open the direction of the social place in dispute.
Keywords: Health Policy; Brazilian Health Plan; Social Place.
Introdução
O Plano Nacional de Saúde (Brasil, 2004) foi um esforço do Governo Federal no sentido de integrar as ações e propostas dos diversos atores sociais envolvidos na formulação e implementação da Política Nacional de Saúde. Para a sua consolidação, em 2003, foi estabelecida uma agenda de trabalho em parceria com a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Numa primeira etapa, foram realizados seminários com a finalidade de definir os principais conceitos e a estrutura geral do plano, com a participação de dirigentes e técnicos do Ministério da Saúde e de representantes de diversos fóruns e órgãos colegiados (Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). O esboço da proposta foi submetido a avaliação no decorrer da 12ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2003, além do levantamento de sugestões de prioridades a serem contempladas na versão final. Por fim, os objetivos, diretrizes e metas contidos no documento também consideraram as ações na área da saúde previstas no Plano Plurianual/PPA 2004-2007, aprovado mediante lei específica do Governo Federal.
O presente texto é um exercício de análise desse Plano e teve como base a versão divulgada em 26 de maio de 2004 (Brasil, 2004). Este documento expressa um importante período de transição na gestão do SUS, uma vez que foi predecessor do Pacto pela Saúde (Brasil, 2006), cuja perspectiva de planejamento pode ser considerada mais participativa e solidária entre as três esferas de gestão. Assim, a avaliação das metas ali estabelecidas torna-se ainda mais relevante, podendo contribuir para a discussão em andamento da versão do Plano Nacional de Saúde para o período 2009-2011.
Na parte introdutória do Plano Nacional de Saúde, são apresentados os princípios que orientaram a elaboração do documento, além de uma síntese da situação da saúde no país naquele momento. Na segunda parte, o documento destina-se à exposição dos objetivos, das diretrizes e respectivas metas para o período de três anos.
Após a leitura do texto, a impressão que fica é a da inexistência de um eixo integrador. Apesar de as diretrizes serem definidas como enunciados que expressam as linhas de ação e as prioridades a serem seguidas, é difícil apreender a ideia central da proposta, que aparenta ser desconexa e desarticulada. Em vista dessa dificuldade, o presente artigo é resultado de um estudo descritivo de cunho quantitativo e qualitativo, com o objetivo de identificar e analisar as principais ideias do documento.
Procedimentos Metodológicos
Para o estudo do documento, foi utilizado um conjunto de procedimentos de análise da produção discursiva visando identificar seus conteúdos centrais e periféricos, bem como a relação entre eles. Considerando as expressões-chave das diretrizes estabelecidas para cada objetivo setorial como léxico do documento, foi organizada a matriz a seguir com as principais palavras localizadas (Matriz 1 ).

Numa primeira etapa, as palavras contidas nessa matriz foram processadas no software Evoc (Vergès, 2002) e analisadas a partir dos parâmetros estabelecidos por Abric (2003), segundo os quais todo o discurso se organiza em torno de um núcleo central, com poder estruturador do significado dos conteúdos periféricos a ele. Através dessa leitura do documento, observou-se que as expressões-chave que representam a ideia principal de cada diretriz também são referidas no texto de outras diretrizes. Dessa forma, foi possível organizar uma matriz de relacionamento entre as diretrizes do PNS (matriz 2 , página seguinte), totalizando quantas vezes a expressão-chave de uma dada diretriz é referida em outra diretriz, formando pares recíprocos. Partindo-se do uso de ferramentas da cartografia temática, especialmente aquelas desenvolvidas para a representação gráfica da análise de rede, foram analisados os relacionamentos entre os elementos desta segunda matriz.

A análise de rede tem sido estudada e aplicada em inúmeras áreas das Ciências Sociais (Scott, 1991; Wasserman e Faust, 1994). Em geral, a rede é uma estrutura na qual cada elemento mantém um conjunto de conexões com os outros elementos e ocupa uma posição com características específicas. O estudo dos relacionamentos entre as expressões-chave das diretrizes teve por referência dois conceitos da análise de rede: densidade e centralização.
O grau de conectividade descreve o nível geral de coesão entre os elementos em interação, em termos de densidade. No caso do discurso do PNS, considerou-se para a mensuração dessa coesão entre as expressões-chave do texto a relação entre o número máximo possível de ligações entre elas e o número efetivamente realizado. Assim, a fórmula da densidade utilizada foi:
onde "Linhas" é o número de relacionamentos entre pares existentes e "n", o número de pontos de expressões-chave. O cálculo de n(n-1) refere-se ao total de pares possíveis, uma vez que nenhuma expressão-chave pode se relacionar consigo mesma. Esse resultado é dividido por 2 porque o número de relacionamentos entre as expressões-chave é a metade do total da matriz, uma vez que os pares estabelecidos entre colunas e linhas são os mesmos do que entre linhas e colunas (Scott, 1991).
A centralização descreve o quanto a coesão existente numa rede é organizada ao redor de determinado ponto. Para essa análise, levou-se em consideração a centralidade estrutural em termos da distribuição dos relacionamentos entre as expressões-chave do centro da rede (expressões-chave mais mencionadas no documento) até a periferia (expressões-chave isoladas ou com poucas referências entre as diretrizes do PNS).
Discussão dos Resultados
O processamento de dados no Evoc indicou 94 palavras-chave diferentes distribuídas pelas 51 linhas da matriz. No entanto, quando analisada a frequência de cada uma delas, assim como a sua ordem de evocação na sequência de 1 a 5 das colunas, identificou-se apenas 17 palavras-chave mais importantes do documento, conforme quadro 1.
Observa-se que a palavra-chave central é integralidade, citada 10 vezes no documento analisado. Há outras palavras-chave com maior frequência, como capacitação (23), regulação (18) e intersetorialidade (15), mas elas não apresentam tanta centralidade como integralidade por estarem mais distantes da primeira coluna na ordem média de evocação. Esse parâmetro fornecido pelo processamento no Evoc sinaliza que, no texto das diretrizes analisadas, os conteúdos centrais giram em torno da necessidade de integralidade das políticas de saúde, ainda que essa ideia possa estar associada à capacitação dos recursos humanos, à busca da intersetorialidade ou de mudança no marco regulatório.
Por sua vez, a análise de rede da segunda matriz permitiu a identificação do relacionamento entre as diretrizes do Plano Nacional de Saúde. Com base na análise da conectividade entre as expressões-chave, observa-se um baixo nível de coesão entre os termos do discurso do PNS. Numa escala de 0 a 1, obteve-se a densidade 0,53 na coesão entre os elementos em interação estudada:
Ou seja, de fato, o PNS não apresenta uma clara articulação entre suas diretrizes. Isso não quer dizer que não seja possível identificar coesão no discurso. Para o aprofundamento da análise nessa direção, é preciso considerar a mensuração da centralização. Como foi dito, a centralização descreve o quanto a coesão existente numa rede é organizada ao redor de determinado ponto.
O total máximo de expressões-chave de diretrizes citadas em outras diretrizes (número de relacionamentos) foi de 36, obtendo-se o grau de centralização de 100% para a diretriz 4: reorganização da atenção ambulatorial e do atendimento de urgência e emergência. O segundo lugar, em termos de centralização, foi obtido pela diretriz implementação da educação permanente e da qualificação profissional no SUS, mencionada em outras diretrizes 35 vezes, ou seja, 97,2% de centralização.
A partir desse procedimento, é possível afirmar que há uma forte centralidade do discurso na necessidade de reorganização da atenção ambulatorial e de urgência, bem como a educação permanente e qualificação profissional no SUS (indicados em cinza-escuro na matriz 2 ). A matriz de relacionamentos também evidencia uma forte associação dessa necessidade com a questão do aperfeiçoamento da gestão descentralizada e regionalizada do SUS, assim como o aprimoramento das instâncias de participação social; a definição de mecanismos de monitoramento, avaliação e controle dos serviços de saúde; a expansão e efetivação da atenção básica e a difusão do conhecimento em saúde (indicados em cinza-claro, por apresentarem menor grau de centralização). Uma síntese desses principais relacionamentos entre as expressões-chave do PNS está representada no diagrama contido na Figura 1.
A análise de relacionamentos entre as expressões-chave do PNS permite a identificação de uma rede de expressões-chave principais, que ancora as ideias centrais da Política Nacional de Saúde. Destacam-se:
1. o compromisso com a qualidade dos serviços;
2. a necessidade de qualificação profissional para a melhoria do atendimento e maior disseminação da informação em saúde;
3. a reorganização da atenção ambulatorial e hospitalar visando maior integração com a atenção básica e aprimoramento do sistema de referência e contrarreferência.
A garantia da formulação e implementação dessa política passa pelo fortalecimento da integralidade das ações, conforme análise obtida pelo Evoc, o que implica na capacitação dos recursos humanos, na gestão descentralizada e regionalizada do SUS, na busca de ações intersetoriais e mudanças do marco regulatório. Apesar da enorme diversidade de situações, é possível encontrar um eixo centralizador dos conteúdos do Plano Nacional de Saúde. Acredita-se que a centralização da administração dificulta o desenvolvimento de políticas sociais eficazes, pois enfraquece as necessidades locais em nome da centralização de recursos e competências em favor do governo central. O marco regulatório desse processo está embasado na Lei Federais 8080 e 8142, de setembro e dezembro de 1990, respectivamente referentes à regulamentação e às formas de ação de saúde que o Estado deveria seguir baseado nas diretrizes da Constituição e na Lei Orgânica da Saúde.
Em outras palavras, na explicitação das diretrizes do Plano Nacional de Saúde de 2004, verifica-se a iniciativa de promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e "o acesso universal e igualitário às ações para a sua promoção, proteção e recuperação, assegurando a equidade na atenção, aprimorando os mecanismos de financiamento, diminuindo as desigualdades regionais e provendo serviços de qualidade oportunos e humanizados" (Brasil, 2004, p. 7).
Na execução das ações previstas, porém, o plano estabelece metas específicas que, ao invés de contar com gestão cooperada e tripartite entre os entes federativos, preestabelece a participação de todos sob o comando e indução do Governo Federal. No próprio Plano Nacional de Saúde há uma referência a essa dificuldade:
Em relação à descentralização, deve-se ressaltar, por outro lado, que as normas que regulamentam a implementação do SUS não avançaram suficientemente na formulação de mecanismos mais eficazes ao planejamento integrado, que promovam a cooperação entre as esferas de governo e evitem a competição por recursos e competências, sobretudo pela ausência de uma definição mais clara do papel dos governos estaduais na saúde (Brasil, 2004, p. 21).
Em nome do atendimento ao preceito constitucional do direito universal à saúde, mas sem contar com mecanismos mais eficientes de gestão compartilhada do sistema1 1 Ver análise de Santos e Andrade, 2007. , identifica-se nas metas estabelecidas para cada diretriz a manutenção do custeio com verbas federais para a indução das ações previstas. Apenas a título de exemplo, é o que pode ser observado nas duas diretrizes de maior grau de centralização (4 e 35). Tanto para a reorganização da atenção ambulatorial e atendimento de urgências e emergências quanto para a educação permanente e qualificação profissional está prevista porcentagem majoritária das verbas federais na cobertura dos programas ou de mecanismos de monitoramento pelos órgãos centrais dos serviços dos outros níveis de gestão. Da mesma forma, a proposta de maior envergadura para o fortalecimento da integralidade das ações é a expansão do Programa de Saúde da Família, com rubrica orçamentária específica e complementar aos repasses do Governo Federal aos fundos municipais de saúde. A análise das ações e metas previstas para cada diretriz reforça essa interpretação. Chama a atenção o fato de verificarmos em 35 das 51 diretrizes (75% dos casos) a ausência de programações pactuadas entre os entes federativos, cabendo como responsabilidade principal da União o encaminhamento das prioridades estabelecidas no Plano.
Esse modo de atuação do Governo Federal, no esforço de integrar as ações e propostas dos diversos atores envolvidos na formulação e implementação da Política Nacional de Saúde, pode ser interpretado como uma disputa pelo lugar social da Política Nacional de Saúde. Segundo Silva (1991), o lugar social não é apenas estabelecido pelo sítio no qual o sujeito está (espaço absoluto), mas denota certa posição no tecido social (espaço relativo). Essa posição relativa, por sua vez, produz interações e experiências sociais que adjetivam as qualidades humanas e resulta em um espaço relacional, compreendido como as relações introjetadas na identidade dos sujeitos sociais (Massey, 2008). Assim, o lugar social possui essa conotação multidimensional, envolvendo o espaço absoluto (onde está?), o espaço relativo (com quem?) e o espaço relacional (quem é?) do sujeito social.
De que modo se configura essa disputa pelo lugar social no Plano Nacional de Saúde?
Podemos interpretar a tendência de os órgãos federais agirem em nome dos entes federativos como um vetor de verticalidade, uma vez que reforça o poder de decisão da União sobre os Estados e municípios e a dependência dos programas de nível local de forças distantes. Por outro lado, a tendência de priorizar a pactuação e o planejamento compartilhado entre os entes federativos (União, estados e municípios), o que foi identificado em 17 das 52 diretrizes (25% do total), pode ser interpretada como vetor de horizontalidade. Nesses casos, cada um de seus atores (corpo técnico dos hospitais e unidades básicas de saúde, usuários dos serviços, lideranças das associações de moradores, entre outros) ocupa uma posição relativa numa rede de múltiplas relações de controle, de vizinhança, de distanciamento e de aproximação. É esse jogo de forças entre verticalidades e horizontalidades que mobiliza as dimensões do lugar social, criando e recriando lugares de poder (Raffestin, 1993).
Mas é preciso relembrar que o artigo 198 da Constituição Brasileira, ao estabelecer objetivamente que "as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada", estabeleceu a existência de apenas uma única rede nacional de ações e serviços de saúde. No que tange a esse aspecto administrativo, a Constituição de 1988 atribuiu, do ponto de vista federativo, a possibilidade de formular e executar políticas públicas de saúde competência comum à União, aos Estados e aos Municípios (art.23, II), assim, os três entes que compõem a federação brasileira podem formular e executar políticas de saúde.
Sabendo da previsão de uma competência comum para todos os entes públicos atuarem na área de saúde (art. 23, inciso II), a Constituição de 1988 foi bem além, determinando que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único (art. 198 a 200). O que aparece na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde é o princípio de igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios, que se desdobra na universalização do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, como aponta a lei 8080 de 1990.
Assim, o princípio de igualdade que orienta a cidadania desdobra-se no princípio da universalidade das regras de distribuição, princípios universalistas de justiça (Heringer, 2002; Lima-Costa e col., 2003), reforçando mais uma vez que o lugar social definido pelo Plano Nacional de Saúde não é um dado a priori, mas é resultado da disputa entre os sujeitos, dando maior visibilidade aos desenhos estabelecidos nos circuitos de produção e reprodução da vida. É por isso que o documento de referência do Plano Nacional de Saúde não é neutro, mas impregnado de mensagens e valores em disputa no campo social e político (Smith, 2000).
Considerações Finais
O Sistema Nacional de Saúde traz desafios importantes para o entendimento das dinâmicas estabelecidas nos vários níveis organizacionais e institucionais. A partir de um estudo descritivo de cunho qualitativo e quantitativo do Plano Nacional de Saúde (2004-2007), foi possível identificar como núcleo central do documento a preocupação com a integralidade das ações, além da capacitação dos recursos humanos e mudança do marco regulatório com base numa visão intersetorial. Essas ideias, por sua vez, circulam pelo discurso das diretrizes do plano, fortalecendo os laços do eixo central do texto na reorganização da atenção ambulatorial e na qualificação profissional.
Por fim, quando comparadas metas e ações previstas nas diretrizes, observa-se uma tensão entre o que foram denominados vetores da verticalidade e da horizontalidade, deixando em aberto o rumo do lugar social em disputa. A publicação do Pacto pela Saúde está sendo considerada um marco na mudança de relação entre os entes federativos na gestão pactuada do SUS. O mapeamento do Plano Nacional de Saúde pode fornecer subsídios para a discussão da nova versão em andamento.
Recebido em: 20/10/2008
Reapresentado em: 21/05/2009
Aprovado em: 27/05/2009
- ABRIC, J. C. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales. In: ________. (Ed.). Méthodes d'étude des représentations sociales .Ramonville Sant-Agne: Érès, 2003. p. 59-80.
- BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil Brasília, DF, 1988.
- BRASIL. Lei nş 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, da organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Lei Orgânica da Saúde). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990. Seção I, p. 18055.
- Brasil. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 1990. Seção I, p. 25694.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde: um pacto pela saúde no Brasil. Brasília, DF, 2004.
- HERINGER, R. Desigualdades raciais no Brasil: síntese de indicadores e desafios no campo das políticas públicas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 18, supl. , p. 57-65, 2002.
- LIMA-COSTA, M.; BARRETO, S. M.; GIATTI, L. Condições de saúde, capacidade funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicamentos da população idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 735-743, jun. 2003.
- MASSEY, D. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
- RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
- SANTOS, L.; ANDRADE, L. O. M. SUS: o espaço da gestão inovada e dos consensos interfederativos: aspectos jurídicos, administrativos e financeiros. Campinas: Instituto de Direito Aplicado, 2007.
- SCOTT, J. Social network analysis. London: Sage, 1991.
- SILVA, A. C. Geografia e lugar social. São Paulo: Contexto, 1991.
- SMITH, N. Contornos de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção de escala geográfica. In: ARANTES, A. (Org.). O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000. p. 132-75.
- VERGÈS, P. Ensemble de programmes permettant l'analyse des evocations - EVOC2000: Version 5 Avril 2002. Aix-en-Provence: Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, 2002.
- WASSERMAN, S.; FAUST, K. Social network analysis: methods and applications. New York: Cambridge University Press, 1994.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Dez 2009 -
Data do Fascículo
Dez 2009
Histórico
-
Revisado
21 Maio 2009 -
Recebido
20 Out 2008 -
Aceito
27 Maio 2009