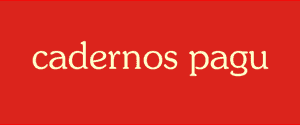Resumo
A partir da pesquisa de campo realizada com as imigrantes brasileiras no Japão que aspiram a trabalhar como maquiadoras, descrevo os processos em que “o corpo brasileiro” se apresenta como o “ocidental” em comparação com o “oriental”. Nesse processo, é criada uma nova hierarquia, que coloca as brasileiras em um patamar superior ao das japonesas, contrária à hierarquia econômica existente entre os dois países e a de classe social, na qual as brasileiras são menos favorecidas. Este artigo tenta captar como a produção desse “corpo brasileiro”, que se entrelaça com consumo, classe social, gênero e raça, cria entre essas imigrantes uma tentativa de inversão da posição subordinada ocupada por elas no Japão e compreender quais são os efeitos dessa produção em suas subjetividades.
Imigração Brasileira; Japão; Consumo; Corpo; Maquiagem
Abstract
Based on interviews with Brazilian female migrants in Japan who are seeking work as makeup artists, I describe how the “Brazilian body” has been represented as an “occidental” body that is distinct from an “oriental” body. This process creates a new hierarchy that places Brazilian women above Japanese women, contrary to the economic hierarchy between the two countries and the hierarchy of social class which allocates Brazilians to the lower classes of Japanese society. This paper examines how the production of the “Brazilian body” – which is linked with consumption, social class, gender, and race – leads these Brazilian female migrants to attempt to invert the subordinate status they occupy in Japan and understand the effects of this production on their subjectivities.
Brazilian Migration; Japan; Consumption; Body; Makeup
Introdução
Este artigo tem como objetivo discutir a importância do “corpo brasileiro” para as imigrantes brasileiras no Japão, a partir da pesquisa realizada com as brasileiras que aspiram a tornar-se maquiadoras a fim de exercer o ofício no Japão ou no Brasil, caso regressem ao país de origem1 1 Este trabalho foi subsidiado pelas JSPS KAKENHI Grant Number JP16K01995 e JSPS KAKENHI Grant Number 24530657. . Em 2015, o Japão era o terceiro maior destino dos brasileiros no exterior, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. Trata-se de uma nação na qual há uma comunidade brasileira expressiva.
Analisando, em uma perspectiva transversal, as relações entre o país de origem e o país receptor, neste texto, considero a complexidade em que o corpo, mais precisamente, a produção do “corpo brasileiro” afeta a configuração das experiências das imigrantes brasileiras, marcadas por relações desiguais de poder no Japão. Essas mulheres vivem uma realidade paralela no país de acolhimento. Ao longo de 30 anos de imigração brasileira no Japão, os brasileiros têm residido em cidades e bairros específicos, procurando sempre estarem próximos de seus conterrâneos. A proximidade física, cultural e social possibilita que comunidades brasileiras se formem e construam uma realidade paralela no país em que residem. O agrupamento étnico em questão é construído por indivíduos que residem e trabalham nas mesmas cidades e bairros, permitindo o surgimento de uma pequena infraestrutura comercial local, onde produtos e serviços brasileiros são ofertados para o grupo da mesma nacionalidade. Os cursos de maquiagem e as maquiadoras experientes são exemplos desse comércio étnico e parte do tema aqui tratado. Para essas imigrantes, “o corpo brasileiro” se manifesta como uma prática significante quando procuram construir as suas vidas no país de destino.
O corpo tem sido uma das principais categorias acionadas na análise das experiências imigratórias na vida das brasileiras. Parte significativa dos estudos voltados para essa análise considerou as experiências das brasileiras em países europeus, principalmente no Sul da Europa. Luciana Pontes (2004)PONTES, Luciana. Mulheres brasileiras na mídia portuguesa. cadernos pagu (23), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2004, pp.229-256 [https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200008 - acesso em: 25 ago 2020].
https://doi.org/10.1590/S0104-8333200400...
, entre outras autoras, esclarecem os modos pelos quais os corpos das brasileiras são exoticizados nas mídias europeias na intersecção de gênero e raça. Beatriz Padilla et al. (2010PADILLA, Beatriz; FERNANDES, Gleiciani Maria de Oliveira; GOMES, Mariana S. Ser brasileira em Portugal: imigração, género e colonialidade. Atas do 1° seminário de estudos sobre imigração brasileira na Europa, Barcelona, 2010, pp.113-120., 2017PADILLA, Beatriz; FERNANDES, Gleiciani Maria de Oliveira; GOMES, Mariana S. Ser brasileña en Portugal: inmigración, género y colonialidad. In: MAGLIANO, Maria José; MALLIMACI BARRAL, Ana Inés (comps.) Las mujeres latinoamericanas y sus migraciones. Villa María, Eduvim, 2017, pp.141-166.) introduzem o conceito de colonialidade cunhado por Anibal Quijano (2000)QUIJANO, Anibal. Colonialidad del poder y clasificación Social. Journal of World-Systems Research, VI, (2), University of Pittsburgh, 2000, pp.342-386 [https://doi.org/10.5195/jwsr.2000.228 - acesso em: 19 abr 2021].
https://doi.org/10.5195/jwsr.2000.228...
e colonialidade de gênero por María Lugones (2008)LUGONES, María. Colonialidad y Género. Tabula Rasa (9), Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2008, pp.73-89 [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200006&lng=en&nrm=iso - acesso em: 19 abr 2021].
http://www.scielo.org.co/scielo.php?scri...
para analisar os processos de racialização e estigmatização a que essas mulheres são expostas em Portugal. Mais recentemente, Thais França e Beatriz Padilla (2018) articulam os conceitos de gênero, raça, classe e colonialidade nas suas discussões sobre a representação na mídia portuguesa das mulheres brasileiras que chegaram ao país desde o pós-austeridade. Mariana Gomes (2019)GOMES, Mariana Selister. Dos museus dos descobrimentos às exposições do império: o corpo colonial em Portugal. Revista Estudos Feministas, v.27, n. 3, Florianópolis-SC, Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, 2019, pp.1-14 [https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n357903 - acesso em: 20 abr 2021].
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v2...
argumenta que as narrativas dos museus e exposições portuguesas sobre as mulheres das ex-colônias são mais um exemplo de como os discursos sociais operam na (re)(des)construção do corpo colonial como um corpo construído como disponível, afetando as experiências das mulheres brasileiras em Portugal. Nesses contextos europeus, tidos pelos habitantes “nativos” como “ocidentais”, as brasileiras, consideradas “não ocidentais”, são exoticizadas por meio de uma racialização particular.
Esse olhar crítico sobre a construção do “corpo brasileiro” expressa as relações de poder que afetam as imigrantes brasileiras. Essas leituras também sugerem a relevância de uma perspectiva interseccional, mostrando processos em que as experiências das imigrantes brasileiras estão sendo construídas em uma articulação complexa de categorias, raça/etnicidade, gênero, nacionalidade e sexualidade, já que a “opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é construída pela outra e constitutiva dela” (Brah, 2006:351). Mas qual é a percepção do “corpo brasileiro” em contextos de migração não europeus e tidos como “não ocidentais” como o Japão? Como essas categorias se articulariam em contextos migratórios nos quais o “corpo brasileiro” poderia ser considerado por habitantes “nativos” “não ocidentais” como “ocidental”? Qual é a percepção do “corpo brasileiro” das mulheres brasileiras que, tidas como “não ocidentais” em outros contextos, performatizam a noção de “ocidentalidade” no Japão? Este artigo trata e esclarece outra articulação complexa de categorias quando imigrantes brasileiras fazem uma leitura de suas corporalidades ao criarem um senso de pertencimento ao “ocidental”.
Os estudos sobre a produção do “corpo brasileiro” no contexto do Brasil sugerem que ele é um corpo considerado saudável, trabalhado, bem-cuidado, como Mirian Goldenberg e Marcelo Ramos (2002) observaram no culto ao corpo entre os cariocas. Entretanto, tal corpo possui “classe”: para obter o padrão, é necessário investimento. O corpo adquirido serve como capital para uma pessoa ascender socialmente, reforçando a distinção de classes e o prestígio entre os brasileiros (Goldenberg; Ramos, 2002GOLDENBERG, Mirian; RAMOS, Marcelo Silva. A civilização das formas: o corpo como valor. In: GOLDENBERG, Mirian (org.). Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2002, pp.19-40.). Essa relação entre corpo, classe e consumo no contexto social brasileiro traz à tona a questão das relações de poder existentes na sociedade brasileira desde a época colonial (Del Priore, 2000DEL PRIORE, Mary. Corpo a corpo com a mulher: pequena história das transformações do corpo feminino no Brasil. São Paulo-SP, Editora SENAC, 2000.; Goldenberg; Ramos, 2002GOLDENBERG, Mirian; RAMOS, Marcelo Silva. A civilização das formas: o corpo como valor. In: GOLDENBERG, Mirian (org.). Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2002, pp.19-40.). Ademais, imagens e hierarquias construídas historicamente ao longo de todos os processos de colonização estabeleceram um dito padrão de beleza “branca”, vinculado à identificação com o europeu, causando uma alienação estética das pessoas não brancas, a exemplo do que o racismo institucional brasileiro pode provocar nas populações não brancas, notadamente nas mais marginalizadas, como afrodescendentes e indígenas (Fry, 2002FRY, Peter. Estética e política: relações entre “raça”, publicidade e produção da beleza no Brasil. In: GOLDENBERG, Mirian. (org.) Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2002, pp.301-326.).
Essa “alienação estética” é perceptível entre os brasileiros descendentes de japoneses no Brasil. Diante do “corpo brasileiro”, os seus corpos são vistos como “orientais”, oposto ao “ocidental”. Essa comparação é reiterada, no sentido inverso, nas experiências migratórias para o Japão, como veremos depois. O culto ao corpo cultivado no Brasil é também reforçado no contexto migratório laboral, que geralmente acompanha uma mobilidade social descendente. Essa mudança de classe é uma das maiores preocupações entre os imigrantes brasileiros no Japão.
Entretanto, apesar das diferenças econômicas entre o país receptor e o de origem, e da realidade social japonesa na qual as brasileiras são classificadas como classe menos favorecida, observa-se uma tentativa de inversão da posição subordinada em que estão inseridas. Os cursos de maquiagem oferecidos pela comunidade brasileira dos quais participei permitiram perceber essa tentativa. Nos cursos nos quais a preocupação com a aparência física fica em evidência e é até exigida das participantes nos treinamentos, o “corpo brasileiro” surge quando elas reiteram a comparação do corpo “oriental” com o “ocidental”. Nesse movimento, no entanto, a comparação do corpo da mulher da sociedade de acolhimento com o corpo “ocidental” coloca o primeiro no patamar menos privilegiado de beleza.
Analisando os processos em que acionar “o corpo brasileiro” se torna uma prática significante nas vidas dessas imigrantes, recorro à noção de “performatividade”, formulada por Judith Butler (2020) ao problematizar a ontologia do gênero. De acordo com a autora, “o gênero é sempre um feito” pelo seu efeito substantivo ser performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero” (Butler, 2020:56). Outro ponto que Butler (2020) ressalta é que não há inteligibilidade fora das práticas discursivas. Dialogando com essas formulações, mas indo além delas levando em conta a articulação entre gênero, nacionalidade e os processos de racialização, considero que “o corpo brasileiro” é acionado no contexto migratório, recriando práticas discursivas presentes no Brasil, quando as brasileiras procuram se reposicionar na sociedade japonesa. Por meio de um discurso racializado no que tange ao corpo, arraigado na comunidade japonesa do Brasil, as imigrantes brasileiras no Japão acionam e corporificam a ideia de “corpo brasileiro” colocando-se em outra posição enunciatória em meio à sociedade abrangente.
Avtar Brah (2006) considera a categoria “diferença”, abrindo um novo referencial para a análise por abrir possibilidades para a agência, o que também é enfatizado por Adriana Piscitelli (2008)PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, v.11, n.2, Goiânia-GO, Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, 2008, pp. 263-274 [https://doi.org/10.5216/sec.v11i2.5247 - acesso em: 26 abr 2021].
https://doi.org/10.5216/sec.v11i2.5247...
, que aplicou as discussões de Brah à análise da agência no contexto das ondas de migração brasileira nos países europeus na década de 2000. Neste trabalho levei em conta os limites para a agência. Considero que a “diferença” a partir da qual as imigrantes brasileiras subjetivam seus corpos e concepções de beleza retoma discursos racializados presentes no Brasil. Nesse movimento, reitera também hierarquias entre “ocidente” e “oriente” existentes. Assim, “as hierarquias são maquiadas”, como sugiro no título do artigo, mas não são alteradas.
Será apresentado a seguir, depois da explicação da metodologia empregada neste estudo, como esse “corpo brasileiro”, que é produzido no entrelaçamento com a classe social, gênero, raça e consumo, cria entre essas imigrantes brasileiras uma tentativa de inversão da posição subordinada ocupada por elas, e como isso incessantemente constrói as vidas das imigrantes neste país.
Notas sobre o método de pesquisa
As análises da produção do “corpo brasileiro” como prática significante no contexto migratório dos brasileiros no Japão que apresento aqui estão baseadas na pesquisa de campo realizada durante o período de 2012 e 2018 na região Tokai, na qual se observa uma maior concentração da população brasileira. A região abrange as quatro províncias: Aichi, Mie, Gifu e Shizuoka. É uma zona industrial, na qual se localizam as sedes de fabricantes automotivos, como a Toyota Motor Corporation e a Suzuki Motor Corporation. Ao redor dessas empresas, ou seja, fora das regiões metropolitanas, há muitas fábricas de autopeças que necessitam de mão de obra não qualificada com contrato determinado, atividade da qual muitos brasileiros têm se encarregado desde os anos 90.
A partir da minha participação nos cursos de maquiagem, foram realizadas observações. Dentre esses cursos, participei, como aluna, de um de maquiagem profissional, cujo instrutor me autorizou a observar também outros cursos administrados por ele. Tentei verificar quais discursos emergem nas aulas, quais são as suas conexões com o corpo e beleza e quais elos são possíveis estabelecer com os processos de subjetivação das imigrantes brasileiras.
Para conhecer a história do desenvolvimento do comércio étnico em torno da maquiagem, incluindo os cursos e expectativas dos participantes desses cursos, foram feitas entrevistas semiestruturadas com quatorze brasileiras e quatro brasileiros, distribuídos nas seguintes posições: duas alunas; dois alunos; quatro instrutoras; um instrutor; sete maquiadoras; um maquiador e uma vendedora de maquiagem2 2 Além dessas 18 pessoas, entrevistei uma instrutora peruana que aprendeu maquiagem na comunidade brasileira e começou a dar cursos dentro e fora da comunidade. Devido à proximidade cultural e linguística, peruanos, bolivianos e latino-americanos de outras nações, cujos números de habitantes são bem menores que os brasileiros, são consumidores ativos no comércio étnico brasileiro. . Conheci algumas dessas pessoas nos cursos que presenciei, outras foram apresentadas a mim por amigos em comum. Cada entrevista demorou em torno de duas horas. Gravei as entrevistas enquanto tomava nota.
Desde o início da pesquisa, minha presença foi marcada nos cursos que eu participava por eu ser uma japonesa do Japão, já que os cursos de maquiagem oferecidos na comunidade brasileira são destinados à população brasileira. Eu era o “Japão”, um outro incorporado, e senti isso, especialmente, quando os interlocutores me designaram “vocês” ao se referirem ao Japão. Por outro lado, a minha habilidade com a Língua Portuguesa, o fato de eu ter morado três anos no Brasil e o meu gosto por maquiagem nos aproximaram.
Ao longo do artigo, esclareço a minha posicionalidade e como foram as relações com os meus interlocutores seguindo o conceito de “Conhecimentos Situados” por Donna Haraway (1991)HARAWAY, Donna. J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge, 1991.. Descrevo, posteriormente, os contextos nos quais foram estabelecidas as interlocuções e como foram dadas a mim as “explicações”, que mostram a minha aprendizagem da linguagem dos interlocutores. Isso constituiu um processo de conhecimento para refletir sobre a minha posicionalidade nas questões tratadas neste artigo.
Culto ao corpo na comunidade brasileira no Japão
Para compreender a produção do “corpo brasileiro” é importante levar em conta a questão da classe social, um dos marcadores desse corpo. As classes sociais no Japão são determinadas pelo cruzamento de rendas, ocupações, escolaridades e sucessão de status social dos pais (Sudo, 2010SUDO, Naoki 数土直紀. Nihonjin no kaisō ishiki 日本人の階層意識 [A consciência do povo japonês sobre as hierarquias de classe]. Tóquio, Kōdansha, 2010 (em japonês).). Chegando ao Japão, os imigrantes brasileiros que faziam parte da classe média ou de uma classe social menos favorecida no Brasil se incorporam à camada baixa da sociedade japonesa, em função do perfil de trabalho que executam. Como já expliquei, a maioria desses imigrantes trabalha como mão de obra barata nas fábricas, onde o trabalho não é regular, exercendo atividades não qualificadas.
Mesmo sendo uma das maiores preocupações para os imigrantes brasileiros, essa categorização de classe é considerada como algo temporário, pois foram ao Japão com o objetivo de acumular dinheiro em curto ou médio prazo, e diante disso eles podem “recuperar” sua identidade de classe ao retornar para o Brasil, de acordo com Angelo Ishi (2003ISHI, Angelo. Searching for Home, Wealth, Pride and “Class”: Japanese Brazilians in the “Land of Yen”. In: LESSER, Jeffrey (ed.). Searching for Home Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalism. Durham and London, Duke University Press, 2003, pp.75-102.:81).
Uma das causas dessa onda migratória foi a alteração da lei japonesa de imigração em 1989. O governo japonês começou a emitir um novo tipo de visto válido para até as terceiras gerações de descendentes de japoneses e dos seus familiares, sem restrição à atividade econômica. Com essa medida, o governo japonês, que oficialmente nega a aceitação de estrangeiros não qualificados no mercado de trabalho, procurou resolver a falta de mão de obra nas fábricas. Para os brasileiros, tornar-se decasségui, termo oriundo da língua japonesa que foi registrado no dicionário Houaiss para designar migrante laboral temporário, era visto como uma solução ao desemprego ou à diminuição de salário causados pela crise econômica que atingiu o Brasil nos anos 80 (Ishi, 2003ISHI, Angelo. Searching for Home, Wealth, Pride and “Class”: Japanese Brazilians in the “Land of Yen”. In: LESSER, Jeffrey (ed.). Searching for Home Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalism. Durham and London, Duke University Press, 2003, pp.75-102.).
Entretanto, exceto para os imigrantes brasileiros que chegaram antes do estouro da “bolha” da economia japonesa, a maioria deles não conseguiu atingir a meta econômica dentro do prazo que haviam estabelecido. Nesse contexto, o consumo, que se articula com as interseccionalidades, de alguma maneira, tornou-se um meio de manter sua identidade de classe cultivada no Brasil (Ishi, 2003ISHI, Angelo. Searching for Home, Wealth, Pride and “Class”: Japanese Brazilians in the “Land of Yen”. In: LESSER, Jeffrey (ed.). Searching for Home Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalism. Durham and London, Duke University Press, 2003, pp.75-102.). A impossibilidade de poupar dinheiro, paralela ao poder aquisitivo adquirido, faz com que o consumo seja uma nova meta a ser perseguida, com maiores chances de ser atingida (Iwamura, 2008IWAMURA, Wiliam Massahiro 岩村ウィリアン雅裕. Zainichi burajiru seinen to shōhi shakai 在日ブラジル人青年と消費社会 [Residentes jovens brasileiros no Japão e a sociedade de consumo]. Bulletin of the Graduate School of Education and Human Development. Educational Sciences, v.55, n.1, Nagoya University, 2008, pp.89-99 (em japonês).). Assim, o poder aquisitivo que conseguem mesmo com os salários relativamente baixos, satisfaz o desejo de se sentir parte da classe média brasileira, mesmo vivendo num país onde consumir não cumpre papel diferenciador entre as classes.
No que tange ao sentimento de pertencimento que o consumo forja, Néstor García Canclini (2001) redefine o conceito quando o consumo, junto com os direitos à habitação, saúde e educação, ganha a noção política de cidadania na sociedade globalizada, na qual se observa a degradação das políticas. A relação entre a cidadania e o consumo é tratada também por Ruben Oliven e Rosana Pinheiro-Machado (2012). Os autores mostram como o consumo forja no Brasil a sensação de exercício da cidadania entre pessoas que não tinham acesso ao consumo e começaram a receber atenção da mídia, considerando-as como nova classe média. Entretanto, o artigo mostrará, mais adiante, que a classe à qual as imigrantes brasileiras desejam pertencer não coincide com essa nova classe.
Marcelo Ennes e Natália Ramos (2017, 2018), seguindo o conceito de consumo de García Canclini (2001), com as percepções de imigrantes na Espanha e em Portugal sobre práticas de modificação corporal, entendem o corpo como um território, no qual um indivíduo, mais precisamente um imigrante, luta consigo mesmo ou com o outro ao buscar reposicionar-se em uma sociedade de acolhimento e/ou na sua sociedade de origem, sob a influência da sociedade de consumo e interculturalismo, na qual um traço diferenciado pode servir também de diferença como identidade ou subjetividade, no sentido de Brah (2006) .
A conexão entre o consumo e o corpo que os estudos precedentes esclareceram também é observada nas imigrantes brasileiras, e o poder aquisitivo que elas conseguiram por trabalhar como decasségui é utilizado no culto ao corpo, consumindo produtos e serviços de beleza. O comércio étnico brasileiro fez crescer o setor de Saúde e Beleza, categoria classificada no Guia Japão 2014, mídia da comunidade brasileira distribuída gratuitamente3 3 No momento, a empresa oferece um portal digital no qual se mantem a categoria Saúde e Beleza. . Contudo, o comércio étnico brasileiro permaneceu restrito à comunidade brasileira, ao contrário do que aconteceu em outras comunidades dessa nacionalidade ao redor do mundo: em Portugal, as empreendedoras brasileiras do ramo da beleza expandiram a clientela para além da sua comunidade por não terem a barreira da língua (Malheiros; Padilla, 2015MALHEIROS, Jorge; PADILLA, Beatriz. Can stigma become a resource?: The mobilization of aesthetic–corporal capital by female immigrant entrepreneurs from Brazil. Identities: Global Studies in Culture and Power, v.22, issue 6, Taylor & Francis, 2015, pp.687-705.). O mesmo ocorreu na Alemanha, onde as empreendedoras conseguiram um espaço no mercado alemão por oferecerem novos serviços de beleza trazidos do Brasil, como a depilação (Lidola, 2015LIDOLA, Maria. Of Grooming Bodies and Caring Souls: New-Old Forms of Care Work in Brazilian Waxing Studios in Berlin. In: ALBER, Erdmute; DROTBOHM, Heike (eds.) Anthropological Perspectives on Care: Work, Kinship, and the Life-Course. New York, Palgrave Macmillan, 2015, pp.69-90.). Mesmo com a barreira da língua, a comunidade brasileira poderia ter procurado um espaço no mercado japonês. Entretanto, o tamanho da comunidade e o fato de os brasileiros morarem fora das regiões metropolitanas, frequentemente residindo no subúrbio onde se concentram as fábricas – muitas vezes nos apartamentos alugados por empreiteiras ou nos conjuntos habitacionais administrados pelo município com alta concentração de habitantes brasileiros – fizeram com que essa procura não fosse uma necessidade (Kajita; Tanno; Higuchi, 2005). No final de 2019, a comunidade brasileira constituía a sexta maior comunidade estrangeira no Japão, com 211.677 habitantes (Japan Ministry of Justice, 2020a). Os homens representam 54,2% da população brasileira no Japão – o número de homens prevalece ao de mulheres em quase todas as faixas etárias, somente a partir dos 73 anos de idade tem-se mais habitantes do sexo feminino. Cerca de 35,8% das brasileiras têm entre vinte e quarenta anos (Japan Ministry of Justice, 2020b), geração que participa mais ativamente de cursos profissionalizantes.
Nessa situação, clientes brasileiros consomem produto e serviço de beleza oferecidos pela comunidade no culto ao corpo à brasileira.
Culto ao corpo intensificado pela venda de maquiagem
Nesse culto ao corpo, a aquisição de produtos de maquiagem é facilitada também pela venda direta: as brasileiras compram os produtos de beleza das representantes conterrâneas, recebendo instruções na sua língua materna. Para parte das representantes, a venda direta pode servir como renda adicional àquela que se ganha nas fábricas ou como porta para outros empregos (Watarai, 2016WATARAI, Tamaki 渡会環. Meikuappu sareru burajirujin josei no seikatsu sekai メイクアップされるブラジル人女性の生活世界 [O mundo-da-vida maquiado e imigrantes brasileiras]. In: KAWAI, Yuko 河合優子. (org.) Kōsaku suru tabunka shakai: ibunka komyunikēshon wo toraenaosu 交錯する多文化社会:異文化コミュニケーションを捉え直す [A sociedade multicultural e interseccionalidade: reconsiderar a comunicação intercultural]. Quioto, Nakanishiya, 2016, pp.84-118 (em japonês).). A venda direta de produtos brasileiros de beleza já é uma das mais relevantes do mundo, e reflete a cultura brasileira, que dá preferência ao relacionamento pessoal4 4 Por exemplo, as seguintes revistas ressaltam a dinâmica da venda direta no mercado brasileiro de cosméticos: The Magazine for Cosmetic, Toiletry, Drug & Allied Industries (março 2009, agosto 2009), The Wall Street Journal (6 de abril de 2012). .
As marcas japonesas conhecidas entre brasileiras são aquelas que expandem sua clientela pela venda direta. No entanto, essas marcas não só vendem produtos, mas também oferecem cursos de maquiagem e de estética, nos quais utilizam seus produtos. Se uma brasileira consegue concluir algum desses cursos, ela poderá, no futuro, ser também instrutora de outras brasileiras. Os cursos reforçam a ideia “invista no seu futuro”, discurso existente na comunidade desde o ano 2000, o que será discutido a seguir.
Brasileiras investindo em carreiras por meio do culto ao corpo
Sob o discurso de “invista no seu futuro”, observa-se o aumento da oferta de cursos profissionalizantes na comunidade brasileira. A partir do ano 2000, a procura por outros empregos além das fábricas, trabalho no qual a maioria se engaja, e a busca por cursos profissionalizantes aumentaram consideravelmente5 5 Agradeço ao Angelo Ishi por ter me explicado sobre o “boom” de cursos profissionalizantes na comunidade brasileira no Japão (28 de abril de 2013). . Entretanto, titulações profissionais são criadas e aplicadas informalmente dentro da comunidade brasileira que, nesse aspecto, está totalmente distanciada da realidade do país em que está estabelecida. Consequentemente, os “certificados” dos cursos de maquiagem dos quais participei não garantiam a saída da situação laboral naquele momento. Mesmo as “instrutoras” e “maquiadoras” a quem me refiro neste artigo continuavam nas fábricas e atendiam suas clientes nos finais de semana.
No entanto, mesmo para as imigrantes que possuem expectativa de retorno à sua terra natal, a profissão de maquiadora é considerada promissora, ainda por cima no Brasil, cuja indústria da beleza tem crescido significativamente nos últimos anos. Não exigir muito investimento no começo também faz com que a procura de cursos de maquiagem aumente entre as mulheres.
Diante desse interesse específico, a crença no difuso discurso de que as brasileiras são vaidosas se fortalece no senso comum. A possibilidade de atender clientes em casa também é interessante para as mulheres, que podem exercer a atividade de maneira autônoma e conciliar o trabalho e a família.
Na comunidade brasileira no Japão, existem dois tipos de cursos de maquiagem: o curso de automaquiagem e o de maquiagem profissional. Os cursos de automaquiagem geralmente duram um único dia, em que as alunas aprendem a se maquiar e a usar os produtos de beleza e conhecem as marcas. Esse curso pode incentivar as brasileiras a prosseguirem com cursos mais profissionais.
Essa procura por cursos de maquiagem é possibilitada ou pelos instrutores brasileiros, que usam de suas experiências e de seus conhecimentos concernentes à beleza adquiridos no Brasil, por aqueles que aprenderam as técnicas de maquiagem em uma empresa japonesa, ou, ainda, por um discípulo de um desses instrutores. Alguns mentores serviam de exemplo para a possibilidade de mudança de atividade profissional, ou seja, saída das fábricas. Especialmente para quem já atuou na área da beleza no Brasil, ser instrutor é um modo de recuperar a identidade de classe cultivada no Brasil, como o instrutor com quem eu fiz um curso de maquiagem profissional6 6 Junto com a informação acima, Angelo Ishi também explicou que na segunda metade dos anos 90, quando o plano dos decasséguis de permanecer por um curto período no Japão tornou-se inalcançável, alguns começaram a oferecer em seus dias de folga serviços que já haviam realizado no Brasil. Nessa época, começou a troca de cartões de visita entre imigrantes, por meio da qual as pessoas se apresentam, utilizando a identidade de classe perdida na vida de decasségui. , o qual eu apresento a seguir.
O instrutor pertence à terceira geração de imigrantes japoneses e é nascido na capital do estado de São Paulo. Fez curso de cabeleireiro em duas escolas que a comunidade japonesa no Brasil oferecia e relatou que os cursos eram ministrados em japonês naquela época. Perguntei se havia colegas do sexo masculino, e ele respondeu que não, dizendo que “era difícil (um nikkei) seguir o ramo da estética há cerca de trinta anos”. Ele contou, também, que foi a mãe quem pagou os cursos para o pai não descobrir. Começou a trabalhar como cabeleireiro aos 17 anos de idade e fez alguns cursos de maquiagem profissional no Brasil e na Espanha. O instrutor veio ao Japão há 17 anos como decasségui, mas logo em seguida começou a atender clientes no próprio apartamento nos finais de semana. Depois de um ano, parou de trabalhar na fábrica e se concentrou em atender sua clientela em casa. Em 2007, ele abriu o próprio salão e começou a dar cursos de penteados e de maquiagem para a comunidade brasileira.
A entrevista foi realizada no salão do instrutor, e eu o vi atendendo um lutador do K-1 brasileiro. O lutador foi ao salão de estética que fica em frente ao seu salão, que pertence a uma brasileira, para realizar uma sessão de massagem. O instrutor me explicou que a aparência é muito importante para lutadores e me apresentou a um brasileiro que tinha feito um curso com ele. Essa foi uma das poucas oportunidades nas quais eu pude refletir sobre a percepção dos imigrantes do sexo masculino sobre a beleza, já que eles estão em menor número nos cursos de maquiagem.
A profissionalização nas técnicas de maquiagem é apenas um começo. Ao final do curso, as imigrantes brasileiras costumam expandir essa formação para áreas adjacentes, como cabelo e depilação, portanto, procuram uma formação mais completa em estética. É preciso prosseguir, aprimorar-se e atualizar-se com as tendências da moda, relataram os instrutores e entrevistadas. Nesse contexto, ser “apenas um consumidor” de produtos de beleza passou a ser visto como algo fútil e oneroso quando esse consumo não está atrelado a um benefício profissional. As maquiadoras compram produtos, mas consideram que isto faz parte de investimento profissional que possibilita um melhor futuro no Brasil, como relata Paula, uma maquiadora de 34 anos. Paula me foi apresentada por um amigo em comum, a quem eu tinha perguntado se conhecia alguém que pudesse me maquiar para um evento da comunidade brasileira. Paula era casada com um descendente de japoneses, e sua ascendência é italiana. Ela sempre trabalhou nas fábricas, mas no dia da entrevista, parou de trabalhar, já que estava voltando para o Brasil depois de ter morado 14 anos no Japão7 7 Neste artigo, tentei manter os termos utilizados pelas minhas interlocutoras. .
Nossa, não é só ganhar, vir aqui para ganhar dinheiro, como muitos descendentes vêm para ganhar dinheiro em fábricas e voltam (ao Brasil). Então (têm que) aproveitar, né, as oportunidades que têm aqui. Não só para juntar dinheiro. Se profissionalizar em alguma coisa, né, que é mais fácil também de você pagar (as coisas no Japão).
O relato de Paula mostra o desejo das imigrantes brasileiras de fazer parte da classe média “tradicional”, que sabe investir no seu futuro, e não da nova classe média brasileira que, de acordo com a mídia brasileira8 8 A dinâmica de consumo pela nova classe média sempre recebeu muita atenção da mídia, mas, além do consumo, ela procura descrever o perfil dessa classe. Por exemplo, o artigo da Veja da edição de 14 de dezembro de 2011 reconheceu a batalha dessa classe para melhorar suas vidas, mas apontou que ela só consegue melhorar a situação a curto prazo, diferenciando-a da classe média tradicional, que sabe investir no seu futuro. A Veja concluiu que o que houve no Brasil não foi a expansão da classe média, mas sim a emergência de uma nova classe. , investe apenas a curto prazo (Watarai, 2016WATARAI, Tamaki 渡会環. Meikuappu sareru burajirujin josei no seikatsu sekai メイクアップされるブラジル人女性の生活世界 [O mundo-da-vida maquiado e imigrantes brasileiras]. In: KAWAI, Yuko 河合優子. (org.) Kōsaku suru tabunka shakai: ibunka komyunikēshon wo toraenaosu 交錯する多文化社会:異文化コミュニケーションを捉え直す [A sociedade multicultural e interseccionalidade: reconsiderar a comunicação intercultural]. Quioto, Nakanishiya, 2016, pp.84-118 (em japonês).). Ter feito algum curso ou não, serve como um dos critérios de avaliação dessa atitude, que acaba criando uma hierarquia entre as brasileiras da comunidade no Japão9 9 Nádia Treillard observou a hierarquização entre as brasileiras na França. Apresentação da Nádia Treillard no II Congresso de Associação de Brasilianistas na Europa no dia 18 de setembro de 2019, em Paris, França. .
A faixa etária das alunas dos cursos que eu presenciei variava entre vinte a quarenta anos. A maioria delas foi para o Japão após ter concluído o ensino médio. Elas consideram sua idade uma desvantagem para “começar tudo do zero” (expressão usada por Paula) quando retornarem ao Brasil. Desejam adquirir alguma especialização para se prepararem para o retorno ao país, ainda que essa data seja indefinida.
Minhas interlocutoras pagavam os cursos e compravam os produtos de maquiagem sem pedir autorização dos seus cônjuges10
10
No curso do qual participei, tivemos aulas nos domingos, quando a maioria das fábricas não está em funcionamento, o que facilita a participação das brasileiras. A duração do curso foi de dois meses, e cada aula tinha duração de cinco horas. Nas aulas, houve venda de produtos, e a decisão de comprá-los ou não era tomada naquele momento.
, com uma autonomia econômica e emocional possibilitada por ser mulher decasségui (Ishikawa, 2008ISHIKAWA, Eunice Akemi イシカワエウニセアケミ. Nihon ni okeru nikkei burajirujin josei: kokusai idō ni tomonau henyō 日本における日系ブラジル人女性:国際移動に伴う変容 [Mulheres nikkey no Japão: mudanças pelas migrações internacionais]. Intriguing Asia (117), Tóquio, 2008, pp.47-53 (em japonês).). Eunice Ishikawa (2008)ISHIKAWA, Eunice Akemi イシカワエウニセアケミ. Nihon ni okeru nikkei burajirujin josei: kokusai idō ni tomonau henyō 日本における日系ブラジル人女性:国際移動に伴う変容 [Mulheres nikkey no Japão: mudanças pelas migrações internacionais]. Intriguing Asia (117), Tóquio, 2008, pp.47-53 (em japonês). afirma que a contribuição financeira das brasileiras, em paralelo a dos seus cônjuges conterrâneos, possibilitou uma posição mais elevada na família, fortalecendo, assim, a sensação de autonomia emocional. Elas esperam que um curso profissionalizante aumente essa autonomia e possibilite uma realização pessoal à brasileira. Durante as pesquisas de campo na comunidade brasileira, notei o uso frequente das expressões “sou realizada” e “conquista” pelas mulheres. Para mim, cuja língua materna não é o português, essa é uma nova linguagem que aprendi para descrever as vidas das mulheres brasileiras no Japão. A busca da realização pessoal fora de casa tem crescido no Brasil com a emancipação feminina, o avanço no nível de escolaridade e a participação ativa das mulheres no mercado de trabalho (Rocha-Coutinho, 2004ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Novas opções, antigos dilemas: mulher, família, carreira e relacionamento no Brasil. Temas em Psicologia, v.12, n.1, Ribeirão Preto-SP, Sociedade Brasileira de Psicologia, 2004, pp.2-17 [http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v12n1/v12n1a02.pdf - acesso em: 25 ago 2020].
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v12n1/v...
). No Japão, o desejo de buscar realização pessoal por meio da profissão também é uma dificuldade entre jovens japoneses, segundo Naoki Otawa e Takeshi Yamaguchi (2007). Eles atribuem essa situação à alta porcentagem de emprego não regular; 36,4% dos empregados de ambos os sexos (exceto quem ocupa cargos executivos) são trabalhadores não regulares e essa porcentagem aumenta entre as mulheres, com cerca de 53,3%11
11
Quanto à participação feminina no mercado de trabalho, no Japão temos 68,5 milhões de pessoas acima dos 15 anos que exercem algum ofício, e a metade da população em idade ativa é formada por mulheres (51,7%). No entanto, os homens representam 55,6% da parcela da população que efetivamente trabalha. Além disso, 78% dos homens empregados (exceto quem ocupa cargos executivos) são trabalhadores regulares, enquanto que 53,3% das mulheres empregadas são trabalhadores não regulares. Os dados mostram também que os homens representam 75,5% dos cargos executivos (Statistic Bureau of Japan, 2020). No mercado de trabalho brasileiro, os homens representam 56,3% da parcela da população que efetivamente trabalha (IBGE, 2019).
. Os imigrantes brasileiros são empregados da mesma forma, não obstante, como já discutimos, os trabalhos no Japão são considerados como algo temporário, ou até como oportunidades. Desse modo, o desejo de realização pessoal por meio da profissão pode ser mantido.
Mirian Goldenberg (2011)GOLDENBERG, Mirian. Os novos desejos. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2011. ressalta algumas mudanças nas relações conjugais, ao passo que se aumentando a inserção feminina no mercado de trabalho, criam-se novos desejos, ou seja, a liberdade e a reciprocidade. Esses desejos foram observados na pesquisa de campo. Os companheiros de algumas participantes as levavam ao local do curso e retornavam para buscá-las ao fim das aulas. Alguns faziam ou tinham feito cursos. Os companheiros de três entrevistadas estavam cursando ou já haviam finalizado um curso de fotografia, área muito procurada pelos homens. Como veremos depois, fotógrafos registram os momentos marcantes da vida dos imigrantes brasileiros nos quais as mulheres procuram uma profissional para maquiá-las. Maquiadoras também precisam de fotógrafos para divulgar os seus trabalhos. A entrevista com Sônia, uma instrutora de 28 anos, cujo marido agora trabalha com ela como fotógrafo, mostra bem como ambos se incentivam de modo recíproco a prosseguir, aprimorando as suas técnicas por meio de cursos especializados nas respectivas áreas. Conheci Sônia em um evento de maquiagem da comunidade brasileira. Ela veio ao Japão em 2005 porque era casada com um descendente de japoneses. Ela não tem ascendência japonesa, tampouco me falou de sua ascendência. Entretanto, contou-me que a proprietária de um salão japonês queria que Sônia fizesse parte da equipe dela por sua “aparência chamar atenção”, como ela mesma disse, no sentido de que ela representa a imagem de “pessoa ocidental” difundida na sociedade japonesa.
Em diálogo com minhas interlocutoras, questionei sobre os custos dos cursos de maquiagem, quem os pagava e se seus companheiros apoiavam suas decisões de fazê-los. A instrutora respondeu:
Ele me ajuda, ele me ajuda em tudo, ele me apoia em tudo que eu faço, né. Na verdade, é assim. Em casa, não sei, não é todos brasileiros que são assim, mas em minha casa, nós dois somos assim, não é separado o salário, né. Tipo assim, cada um tem uma conta no banco porque tem que ter para receber (os salários). Mas quando a gente vai pagar as contas de casa, tudo é tudo junto, o meu salário e com o dele, a gente mistura. Então dos dois, o dinheiro é dos dois. Então é só falar “tá, eu vou, eu quero fazer um curso agora, tudo bem aí?”. E ele: “tudo bem”. Quando ele quer fazer algum curso, agora é a vez dele, ele faz o curso. Aí um faz o curso e o outro faz outro, a gente vai intercalando. Nem no ano passado ele fez um curso de fotografia, né. Não sei se você já ouviu falar do Jorge12 12 Os nomes reais dos meus interlocutores e o da revista foram substituídos por pseudônimos a fim de preservar suas identidades. ? É quem faz as capas da revista Comunidade. Ele fez com o Jorge o curso de fotografia, né.
Eu perguntei à instrutora sobre qual dos cônjuges começou a fazer primeiro os cursos profissionalizantes e ela me disse:
Dessa área da beleza, maquiagem, fui eu. Aí ele tanto me acompanhava que começou. Que nem, o marido da Joana é fotógrafo, né, ele já veio da Argentina como fotógrafo [...], como a Joana queria fazer o curso comigo, Jorge começou a vir, tirar umas fotos também pra mim no curso. Aí meu marido começou a conversar com o Jorge [...] eu tinha comprado na verdade a câmera para mim. Eu comprei uma câmera pra mim, porque eu falava assim “ai, meus alunos fazem maquiagem, não posso tirar foto e ficar dependendo de algum fotógrafo”. Então, eu falei: “vou, vou comprar uma câmera boa pra mim” que eu registro as aulas né. E aí acabou que meu marido gostou da câmera, começou a se apaixonar. Começou a pedir dicas para o Jorge. Meu marido começou a tirar algumas fotos, daí ele viu que gostava e falou: “então eu vou fazer um curso”. Aí ele viu a propaganda do curso do Jorge, que eu gosto muito também do trabalho dele. Então, eu falei para meu marido: “vai lá, faz com o Jorge” porque para as fotos, assim, de maquiagem, as dele são as que eu gosto mais. As fotos que ele faz, né. Aí meu marido foi, fez o curso com o Jorge. Agora a gente está os dois trabalhando juntos, o que para mim foi ótimo também. Eu gosto bastante disso, porque a gente pode estar depois trabalhando junto, né.
A migração laboral pode alimentar os desejos de liberdade e de reciprocidade nas mulheres, para as quais trabalhar ocupa a centralidade da vida (Morokvasic, 2007MOROKVASIC, Mirjana. Migration, gender, empowerment. In: LENZ, Ilse; ULLRICH, Charlotte; FRESCH, Barbara (eds.). Gender Orders Unbound: Globalisation, Restructuring and Reciprocity. Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, 2007, pp. 69–97. ).
“Ocidental” vs “Oriental”: marcadores de diferenças
Trabalhar como decasségui, entretanto, não significa para as imigrantes brasileiras no Japão conformidade com a posição de subordinação. Assistindo aos cursos de maquiagens, observei uma tentativa de inversão de sua posição subordinada, assim como Maria Lidola (2015)LIDOLA, Maria. Of Grooming Bodies and Caring Souls: New-Old Forms of Care Work in Brazilian Waxing Studios in Berlin. In: ALBER, Erdmute; DROTBOHM, Heike (eds.) Anthropological Perspectives on Care: Work, Kinship, and the Life-Course. New York, Palgrave Macmillan, 2015, pp.69-90. também evidenciou com as depiladoras brasileiras na Alemanha. O que se observa nas maquiadoras brasileiras no Japão é a recusa da posição imposta pela hierarquia econômica existente entre os dois países, a inserção de classe no país para o qual imigraram e a tentativa de sentirem certa superioridade entre as suas conterrâneas e a sociedade abrangente no Japão, realizada por uma comparação entre “Oriente” e “Ocidente”.
Essa comparação em si já tem sido observada entre os nikkeis, descendentes de japoneses no Brasil, ao questionar os seus lugares de pertencimento, por causa das características fenotípicas marcadas como orientais (Ishimori, 2005ISHIMORI, Karina Midori. Viver num corpo estrangeiro: sentidos e significados do ter e ser um corpo oriental para adolescentes nikkeis insatisfeitos com suas fenotipias. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social), Universidade Católica de São Paulo, 2005.; Schpun, 2007SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
http://nuevomundo.revues.org/index3685.h...
). Além do formato dos olhos, traço físico considerado mais marcante como característica racial (Schpun, 2007SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
http://nuevomundo.revues.org/index3685.h...
), há os traços do nariz, a curva da bochecha, e os gestos corporais. Todas essas nuances físicas são marcadores de diferenças (Ishimori, 2005ISHIMORI, Karina Midori. Viver num corpo estrangeiro: sentidos e significados do ter e ser um corpo oriental para adolescentes nikkeis insatisfeitos com suas fenotipias. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social), Universidade Católica de São Paulo, 2005.). Essa categorização do corpo ocidental e do oriental valoriza o primeiro como o padrão de beleza no contexto do qual a aparência e o corpo são “nó central do racismo no Brasil” (Schpun, 2007SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
http://nuevomundo.revues.org/index3685.h...
:9).
O corpo oriental já era discutido na política de imigração brasileira antes mesmo do início da imigração japonesa no Brasil. Os políticos e os intelectuais brasileiros recorriam às teorias raciais forjadas na Europa, que eram antes usadas para explicar o “atraso” de um país colonizado como o Brasil, mas agora são utilizadas para analisar se a “raça” japonesa contribuiria para a construção da nação brasileira, que buscava se “embranquecer” (Lesser 1999LESSER, Jeffrey. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity in Brazil. Durham, Duke University Press, 1999.). Aqui vemos o processo de racialização que tenta interpretar a população em termos biológicos e/ou culturais (Miles; Brown, 2003MILES, Robert; BROWN, Malcolm. Racism (2nd ed.). London, Routledge, 2003.). O processo de racialização, no entanto, é feito a partir de um discurso do dominante, problemática da qual Edward Said (2007)SAID, Edward S. Orientalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. discute com o imperialismo europeu. Said examina como a racialização se baseia em “um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente” (Said 2007:29) que ele chamou de Orientalismo. Orientalismo é um discurso que tem como base a acumulação seletiva dos conhecimentos forjados dentro das determinadas estruturas intelectuais e institucionais, que refletem a questão de poder.
O contrário da ideia de “contribuição” poderia ser a de “degeneração”. Essa era uma das maiores preocupações dos países imperialistas que Anne McClintock (1995)MCCLINTOCK, Anne. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York, Routledge, 1995. apontou ao analisar o imperialismo britânico. A classe se tornou uma categoria articulada por meio da raça, usada para explicar a “degeneração” quando o Império britânico experimentava o avanço do capitalismo industrial e a transição do trabalho escravo ao assalariado, dando mais visibilidade à classe trabalhadora na metrópole. Com a expansão do Império, não degenerar a população britânica diante do povo colonizado se tornou uma urgência para manter o corpo político masculino imperial.
Como a categoria de raça se articula com a de classe nas teorias racistas, torna-se difícil os nikkeis, que buscavam ascender no Brasil, acionarem-na contra a sociedade produtora dos discursos racistas (Lesser 1999LESSER, Jeffrey. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity in Brazil. Durham, Duke University Press, 1999.). Os nikkeis sempre buscaram se reposicionar no Brasil pelo corpo racializado, outro exemplo da problemática da racialização da subjetividade da qual Frantz Fanon (2021)FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. Dublin, Penguin Random House, 2021. ressalta.
Érica Hatugai (2018)HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
observou que na comunidade japonesa no Brasil a beleza e a fealdade são frequentemente interrogadas no corpo do “mestiço”, categoria nativa usada dentro da comunidade japonesa no Brasil para designar o filho de um casal formado por um descendente de japoneses com um não-descendente de nipônicos (Watarai, 2014WATARAI, Tamaki. Can a Mestiça be a Haafu?: Japanese-Brazilian Female Migrants and the Celebration of Racial Mixing in Contemporary Japan. Journal of Intercultural Studies, v.35, n.6, Taylor & Francis, 2014, pp.662-676.; Hatugai, 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
)13
13
Entre descendentes de japoneses, a porcentagem de casamentos interétnicos é alta. Em 1987, quando o Centro de Estudos Nipo-Brasileiros realizou a pesquisa que cobriu todas as famílias nikkeis no Brasil (inclusos japoneses do Japão que permaneciam ou iriam permanecer no país por mais de 3 meses, exceto habitantes na ilha de Fernando de Noronha), constatou-se que a porcentagem de casamentos interétnicos entre nissei (segunda geração) era de 6%; entre sansei (terceira geração), de 42%; e entre yonsei (quarta-geração), de 61% (Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, 1990). Essa pesquisa foi a última e única realizada a esse nível.
. Isso ocorre devido ao distanciamento da beleza indesejável atribuída às marcas consideradas orientais, uma vez que esses indivíduos possuem traços asiáticos mais sutis (Hatugai, 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
). Seguindo Hatugai (2018)HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
, a beleza é um aspecto central do corpo de um “mestiço/mestiça”, um corpo belo e erotizado, entendido por seu sex appeal – “mestiço” corpulento e “mestiça” com curvas, por exemplo (Hatugai, 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
). Ademais, a beleza e a erotização são conjugadas, principalmente, no corpo feminino. O corpo da “mestiça” erotizado não se diferencia da estereotipificação das imigrantes brasileiras, a qual foi evidenciada pelas autoras apresentadas na introdução deste artigo. Isso acontece porque é pelo corpo da “mestiça” que se examina a sua “japonesidade” e “brasilidade”. O último traz à tona uma preocupação de manter parentesco entre os nikkeis (Hatugai 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
). Para os nikkeis, equilibrar a japonesidade e a brasilidade no corpo da “mestiça” se dá por uma busca de distanciar-se da concepção essencializada e sexualizada da mulher brasileira. Por certo, há a exotização da beleza da “mestiça”, e isso deve ser conjugado com o imaginário essencializado e difundido da mulher brasileira, como se verifica em diferentes contextos migratórios. Toma-se como exemplo a pesquisa de Luciana Pontes (2004)PONTES, Luciana. Mulheres brasileiras na mídia portuguesa. cadernos pagu (23), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2004, pp.229-256 [https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200008 - acesso em: 25 ago 2020].
https://doi.org/10.1590/S0104-8333200400...
, que verificou a alteridade da mulher brasileira representada na mídia portuguesa, contribuindo para a construção de portugalidade.
As autoras apresentadas na introdução do texto nos lembram também que a estereotipificação se atribui ao imaginário social da brasileira da época colonial. Aqui, retomo as discussões de McClintock (1995)MCCLINTOCK, Anne. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York, Routledge, 1995. para refletir sobre a dimensão racial do corpo atrelada à de gênero e sexualidade no contexto colonial. Com o avanço do capitalismo industrial no Império britânico, as classes indesejáveis na metrópole, além de serem racializadas, foram feminizadas. Diante das classes “degeneradas”, mulheres da classe média receberam um papel: manter as suas famílias saudáveis. Isso faz com que as relações de poder permeiem o espaço doméstico, controlando, inclusive, a sexualidade dessas mulheres e a “saúde e prosperidade do corpo político masculino imperial” (McClintock 1995MCCLINTOCK, Anne. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York, Routledge, 1995.:47). Com a expansão do Império, o corpo da mulher da classe média da metrópole foi posto em contraste com o da mulher dos países colonizados, um corpo racializado e sexualizado. A comparação de dois corpos femininos se observa ainda na imigração brasileira para Portugal dos dias atuais. No movimento “Mães de Bragança” ocorrido em 2003, as portuguesas se posicionavam como mães e esposas contra as brasileiras que trabalhavam no mercado do sexo na cidade, acusadas de serem pecadoras e destruidoras do lar (Pontes, 2004PONTES, Luciana. Mulheres brasileiras na mídia portuguesa. cadernos pagu (23), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2004, pp.229-256 [https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200008 - acesso em: 25 ago 2020].
https://doi.org/10.1590/S0104-8333200400...
; Padilla et al., 2017PADILLA, Beatriz; FERNANDES, Gleiciani Maria de Oliveira; GOMES, Mariana S. Ser brasileña en Portugal: inmigración, género y colonialidad. In: MAGLIANO, Maria José; MALLIMACI BARRAL, Ana Inés (comps.) Las mujeres latinoamericanas y sus migraciones. Villa María, Eduvim, 2017, pp.141-166., 2018). A colonialidade racista e sexista, que submete as mulheres das ex-colônias a posições subalternas e inferiores tanto no imaginário quanto na hierarquia social, constrói o corpo da mulher brasileira imigrante em Portugal como um corpo exótico (França; Padilla, 2018FRANÇA, Thais; PADILLA, Beatriz. Imigração brasileira para Portugal: entre o surgimento e a construção médiatica de uma nova vaga. Cadernos de Estudos Sociais, v.33, n. 2, Recife-PE, Fundação Joaquim Nabuco, 2018, pp.207-237 [https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1773 - acesso em: 25 ago 2020].
https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/art...
).
Em suma, o corpo feminino tem sido um território no qual se inscrevem diferenças pelos interesses dominantes, como o colonialismo, o imperalismo e o nacionalismo. Diante da racialização da população nipo-brasileira no nacionalismo brasileiro, os nikkeis aprenderam a ler o seu corpo de acordo com os discursos dominantes. Eles ainda examinam o corpo da “mestiça” para verificar o equilíbrio desse corpo entre o “oriental” e o “ocidental” ao manter parentesco entre eles.
Os discursos racializados entre ocidentais e orientais e a admiração do padrão de beleza ocidental no Brasil repetem-se nos cursos de maquiagem que presenciei. Em boa parte dos cursos profissionais, treinamos aplicar sombra nos olhos, a técnica mais importante a aprender, já que isso “transforma” as clientes em ocasiões especiais como casamentos, formaturas e festas, nos quais nós, futuras maquiadoras, trabalharemos. “Como realçar seus olhos”, para uma ocasião especial, “realce seus olhos com sombras esfumadas”, essas são instruções da apostila de um curso que aumentam a percepção das alunas brasileiras sobre a importância dos olhos.
No entanto, o método de aplicar sombra não questiona ter ou não ter “dobrinhas nos olhos”, expressão comumente usada por nikkeis, cujo desejo de obter tal característica cresce entre descendentes de japoneses à procura da cirurgia plástica chamada de “ocidentalização dos olhos” (Schpun, 2007SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
http://nuevomundo.revues.org/index3685.h...
:4), ou seja, operação das pálpebras. A parte definidora da técnica mais importante nos cursos é criar os “côncavos”, que dá profundidade aos olhos. Apesar da diversidade nos formatos de olhos, também mencionada pelo instrutor, aprendi com ele que precisamos definir côncavos em todos os olhos para uma boa maquiagem.
O termo “côncavos” foi muito usado pelo instrutor, apesar de não ser muito abordado na apostila que ele nos ofereceu. O côncavo é representado na apostila com um desenho que ilustra uma parte entre a pálpebra móvel, vulgarmente conhecida como “dobrinha”, e a pálpebra superior.
Eu tenho dobrinhas nos olhos, entretanto, quando servi de modelo em um curso, as alunas acharam difícil aplicar neles sombra, porque não possuo côncavos como as modelos ocidentais nas apostilas do curso. Nem todas as alunas eram “mestiças”. Comigo, as alunas aprendiam a “criar” côncavo para os olhos das orientais. Precisamos lembrar aqui que nem a cirurgia plástica apaga traços, e que o resultado esperado é na verdade “melhorar” (Schpun, 2007SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
http://nuevomundo.revues.org/index3685.h...
:5) a aparência e autoestima, ou “suavização dos traços corporais” (Hatugai, 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
:127). Aqui notamos que existe entre os nikkeis um jogo de afastamento da beleza indesejável com marcas consideradas orientais (Hatugai, 2018HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufs...
).
Quando os nikkeis migraram para o Japão, notaram que existe entre o povo japonês o desejo de aproximação da beleza ideal, baseada no padrão ocidental, e que a sociedade japonesa procura pelo corpo de Haafu Moderu, em japonês, ou Half-Japanese fashion model, em inglês (Watarai, 2014WATARAI, Tamaki. Can a Mestiça be a Haafu?: Japanese-Brazilian Female Migrants and the Celebration of Racial Mixing in Contemporary Japan. Journal of Intercultural Studies, v.35, n.6, Taylor & Francis, 2014, pp.662-676.). Haafu é o termo usado no Japão para os japoneses que têm mais de uma origem étnica. Não obstante, seu uso popular se restringe de uma maneira racializada às pessoas com aparência ocidental.
Desde os anos 70, as Haafu Moderu têm exercido um papel único na mídia japonesa. Uma agência de modelos de Tóquio me informou que as consumidoras sabem que as roupas e a maquiagem não vão fazê-las se parecer com modelos estrangeiras, entretanto, acham que podem pelo menos assemelhar-se a modelos japonesas com aparência ocidental, aproximando-se um pouco mais do padrão de beleza universal, baseando-se numa dita raça branca (Watarai, 2014WATARAI, Tamaki. Can a Mestiça be a Haafu?: Japanese-Brazilian Female Migrants and the Celebration of Racial Mixing in Contemporary Japan. Journal of Intercultural Studies, v.35, n.6, Taylor & Francis, 2014, pp.662-676.). Em 2009, uma empresa japonesa de cosméticos lançou uma linha de maquiagem denominada “cosméticos para o rosto de Haafu”.
A demanda por Haafu Moderu, especialmente nas revistas de moda feminina, tem sido atendida pelas imigrantes brasileiras “mestiças” com fenótipos considerados ocidentais pela mídia japonesa desde o final dos anos 80, época em que começou a onda de imigração do Brasil para o Japão. As Haafu Moderu brasileiras aprendem a transmitir luxo, sensualidade exótica, fantasia, sensação egoísta e progresso, coisas que os consumidores leem no corpo ocidental imaginado (Creighton, 1997CREIGHTON, Millie. Soto Others and Uchi Others: Imaging Racial Diversity, Imagining Homogeneous Japan. In: WEINER, Michael. (ed.) Japan’s Minorities: The Illusion of Homogeneity. London, New York, Routledge, 1997, pp.211-238.).
Ao passo que aparecem cada vez mais modelos brasileiras bem-sucedidas no Japão sob a mercantilização racializada do corpo, a fama faz com que o “corpo brasileiro” represente a beleza “ocidental” que a sociedade japonesa tem valorizado cada vez mais. Preciso ressaltar aqui que essas modelos não são apresentadas como nikkei burajirujin, tradução direta de “brasileiros descendentes de japoneses”, cuja imagem se associa aos trabalhadores laborais não qualificados. As agências de modelos preferem apresentá-las como Haafu, que compreende as distintas nacionalidades, japonesa e brasileira, dos lados materno e paterno (Watarai, 2014WATARAI, Tamaki. Can a Mestiça be a Haafu?: Japanese-Brazilian Female Migrants and the Celebration of Racial Mixing in Contemporary Japan. Journal of Intercultural Studies, v.35, n.6, Taylor & Francis, 2014, pp.662-676.).
Assim, entra em jogo o passing, no qual as modelos brasileiras com ascendência nipônica se passam por Haafu. Sob essa celebração de Haafu na sociedade contemporânea japonesa, eu ouvia com frequência brasileiras relatando que foram elogiadas pela sua beleza.
O que se torna evidente nessas peculiaridades observadas nos japoneses e nos descendentes de japoneses é que o jogo de aproximação/distanciamento mencionado acima faz com que o “corpo brasileiro/ocidental” possa ser inscrito nos “corpos orientais”. Esse jogo ainda reforça a ideia do “corpo brasileiro” como as práticas discursivas por impelir as imigrantes brasileiras no Japão a produzir/investir no “corpo brasileiro”, não deixando, assim, nenhum espaço para oposição ao “corpo brasileiro/ocidental”.
“Ocidental” vs “Oriental”: criando outra hierarquia
Esse modo de leitura sobre os corpos dos nikkeis se repete mesmo quando eles migraram para o Japão. Descrevo agora o processo no qual o “Ocidente” é colocado como referência nos cursos de maquiagem. O “Ocidente” é referência nos cursos de maquiagem e é líder na indústria da beleza. Nas entrevistas, as brasileiras, mesmo algumas com ascendência nipônica, referem-se às mulheres com nacionalidade japonesa como orientais que precisam alcançar o padrão ocidental na indústria da beleza, inclusive do Brasil. É o que se lê abaixo no relato de Emília, uma instrutora de 34 anos, em resposta à pergunta quanto a se a minha maquiagem agradaria o promotor de um evento de beleza da comunidade brasileira, meu instrutor do curso de maquiagem, com quem Emília também fez um curso para se tornar instrutora. Foi por intermédio desse instrutor que conheci Emília; por ele, também, fui convidada a ser júri no concurso de beleza dentro desse evento. Emília tem ascendência japonesa e não é “mestiça” no sentido usado pela comunidade japonesa no Brasil. Ela tinha na época da entrevista uma filha com seu parceiro brasileiro, trabalhava durante a semana em uma fábrica e atendia as clientes na sua casa nos finais de semana. Ela mora no Japão desde 2002.
Vocês (referindo-se às mulheres japonesas com nacionalidade japonesa, incluindo a pesquisadora) são bem naturais, né. A maquiagem daqui é bem natural. Mas que, eu sempre falo para as meninas quando dou aula, “Quando você vai na farmácia, é muito difícil encontrar sombras opacas,” que não têm brilhos. Porque as japonesas, elas gostam de brilhos, mas elas não gostam de coisas fortes, ao contrário das ocidentais, né. As brasileiras, por exemplo, gostam muito de cores vibrantes. (Respondendo à reação da pesquisadora que não entendeu o termo “vibrante”) Coloridas, por exemplo, é um verde, um azul ou até mesmo a cor de rosa, mais vivo que você consiga visualizar do que o brilho [...]. Tanto que assim, a marca que as brasileiras gostam muito é Maybelline. Maybelline é uma marca americana, que tá muito forte no Japão hoje. Mas por quê? Porque as brasileiras consomem muito, as estrangeiras que vivem aqui consomem muito a Maybelline.
O relato de Emília me faz lembrar de que fui apresentada pelo nosso instrutor como japonesa do Japão, com a explicação do motivo da minha presença, que foi resumido em “aprender as ‘técnicas ocidentais’ deles”. Senti que as “técnicas” do meu país não eram interessantes para as maquiadoras brasileiras aprenderem. Sônia mencionou que as maquiagens feitas por japoneses não satisfazem os resultados esperados das clientes brasileiras, resumindo que a sua profissão é fazer a mulher “se sentir bem com espelho e se sentir bem ao ser fotografada”, mas seu relato mostra outro motivo, assim como a visão de outras brasileiras que não apreciam as técnicas do meu país.
Às vezes tem cliente que é só, por exemplo, “eu vou numa festa hoje, então quero uma maquiagem”. Ela veio, maquiei ela, e ela vai pra festa. Mas, querendo ou não, ela vai ser fotografada lá. Né? Então, tipo assim, a pessoa, ela vai pra uma ocasião especial, ela quer estar se sentindo bem, né. Em eventos tem sempre uma pessoa que vai ser olhada lá, vai ser fotografada, vai ficar uma recordação ali, né. E aqui já teve alguns casos assim, por exemplo, de não ter profissionais bons, às vezes acabam fazendo trabalho na pessoa, maquiagem que depois fica na foto e a pessoa não quer ver. Porque não se sente bem como é que ficou aquela maquiagem, né. Com amiga minha aconteceu, até foi japonês quem fez maquiagem nela, eu não sei o que aconteceu. Ela foi no salão japonês, fez o cabelo, fez a maquiagem, ficou tudo bonito. Só que, quando ela foi na formatura, só que, quando viu as fotos, ela falou que não dá pra usar nenhuma foto, porque acha que o produto que ele usou reflete no flash da câmera, então fica branco aonde bate. Então isso é importante no trabalho, porque hoje todo mundo tem uma câmera na mão, e carrega os smartfones, tudo que você faz quer fotografar, você quer registrar, tudo isso será lembrança pras pessoas. Então se eu faço uma maquiagem que ela gosta, ela vai ser uma boa recordação de mim.
As ocasiões nas quais as brasileiras procuram uma maquiadora são eventos comemorativos da comunidade, por exemplo, formaturas das escolas brasileiras, eventos das igrejas evangélicas brasileiras, como outra instrutora exemplificou. O resultado da maquiagem é “para brasileiro ver”. O relato de Emília abaixo confirma isso, e também confirma que não é “para japonês ver”.
(Respondendo à pergunta da pesquisadora do porquê a entrevistada, que explicou o efeito terapêutico de maquiagem especialmente para quem trabalha, não se maquia no trabalho) porque, (a pesquisadora repetiu a mesma pergunta) não, assim, não, não, não, assim, talvez eu, eu acho que, ali no trabalho, as pessoas não mereçam que eu me arrume (respondendo à reação da pesquisadora que não entendeu) talvez eu pense no meu subconsciente que ali no meu local de trabalho, as pessoas não mereçam que eu me arrume, eu maquiada assim, sabe. Porque eu uso máscara para trabalhar, então, assim, eu, teve uma época que eu ia, passava BB creme, passava máscara, ia trabalhar. Mas hoje em dia, eu ando tão cansada do meu trabalho na fábrica que eu vou de cara limpa mesmo, porque assim, sei lá, acho que no meu subconsciente, “meu chefe não merece que eu me arrume pra ele, não”, então eu não me arrumo, assim. Mas pra dar aula, pra atender minhas clientes, eu vou arrumadinha, né.
Essa situação também faz com que o “corpo brasileiro” seja uma prática significante para as imigrantes brasileiras no Japão. Ademais, dá suporte à hierarquia em que as brasileiras estão se diferenciando, gerando sentimentos de superioridade entre as conterrâneas.
A classificação do Japão como um país atrasado pelas maquiadoras brasileiras pode ser entendida pela análise de Oliven e Pinheiro-Machado (2012)OLIVEN, Ruben George; PINHEIRO-MACHADO, Rosana. From “Country of the Future” to “Emergent country”: Popular Consumption in Brazil. In: SINCLAIR, John; PERTIERRA, Anna Cristina (eds.) Consumer Culture in Latin America. New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp.53-65. sobre o consumo de marcas pelas classes populares. As brasileiras preferem as marcas ocidentais. As maquiadoras também são consumidoras ativas, investindo nos seus próprios corpos, já que o corpo da maquiadora serve como cartão de visita, um modelo a ser seguido por clientes (Watarai, 2016WATARAI, Tamaki 渡会環. Meikuappu sareru burajirujin josei no seikatsu sekai メイクアップされるブラジル人女性の生活世界 [O mundo-da-vida maquiado e imigrantes brasileiras]. In: KAWAI, Yuko 河合優子. (org.) Kōsaku suru tabunka shakai: ibunka komyunikēshon wo toraenaosu 交錯する多文化社会:異文化コミュニケーションを捉え直す [A sociedade multicultural e interseccionalidade: reconsiderar a comunicação intercultural]. Quioto, Nakanishiya, 2016, pp.84-118 (em japonês).). No começo da pesquisa, precisei aprender os nomes das marcas, ainda que já fosse uma grande consumidora de produtos de maquiagens. Com o conhecimento das marcas, as imigrantes brasileiras provam que elas conhecem bem a tendência atual no mercado global e se declaram politicamente como cidadãs do mundo. Mas esse mundo no qual elas alegam ser seu lugar de pertencimento é “ocidental”, representado por “grandes marcas” e “tendências” que aprendemos no decorrer do curso.
Preciso ressaltar aqui outro fato que faz do Japão um país atrasado na percepção das brasileiras: a preocupação e cuidados com a aparência. No entanto, despropositadamente aplicam no Japão uma prática baseada nos padrões estabelecidos pela sociedade brasileira. Como mencionado antes, “as brasileiras são vaidosas” (expressão usada por Emília), este discurso difuso entre as maquiadoras justifica a valorização e a busca por uma beleza ideal, construindo a ideia de que a vaidade é algo inerente entre as brasileiras. Acredita-se que é uma exigência estética “ocidental”, na qual elas encontram seu lugar de pertencimento. Entretanto, essa percepção, na verdade, é impulsionada pelo culto ao corpo e pelo crescimento da indústria da beleza brasileira.
A maioria dos brasileiros no Japão são descendentes de japoneses, motivo pelo qual eles conseguem o visto especial para morar e trabalhar no país. Entretanto, o culto ao “corpo brasileiro” não exige que as maquiadoras tenham um “corpo brasileiro” entendido como fenótipo, mas produzir, investir e trabalhar para adquirir esse “corpo brasileiro”. Em suma, o que possibilita essas inversões de hierarquias entre o Brasil e o Japão são as ideias racializadas inscritas no “corpo brasileiro”, reiteradas quando a responsabilização pelo seu corpo é exigida das alunas de maquiagem, que estavam insatisfeitas com as hierarquias impostas nas suas experiências migratórias e desejavam manter sua identidade de classe cultivada no Brasil.
Considerações finais
Produzir/investir no “corpo brasileiro” se manifesta como uma prática significante nos descolamentos migratórios entre o Brasil e o Japão, pelo qual as imigrantes brasileiras procuram manter suas identidades de classe cultivadas no Brasil ou se consideram parte dessa classe, buscando suas realizações pessoais. Como vimos, essa prática é mantida e reforçada pelo poder aquisitivo adquirido na migração laboral.
Ademais, esse culto ao corpo se intensifica nos cursos de maquiagem, já que as participantes se submetem a um processo de responsabilização pelos seus corpos com a instrução “você é o cartão de visita”. Com essa expressão, o instrutor detalhadamente começou a ensinar que os profissionais deveriam cuidar do odor, falar corretamente o português, manter uma distância física do cliente e zelar pela vestimenta. A atitude e a aparência apresentadas ao cliente e a impressão que neles se deixa – ou seja, tudo que é transmitido por nossa corporalidade – podem afetar o valor do serviço. Alexander Edmonds (2010)EDMONDS, Alexander. Pretty Modern: Beauty, Sex and Plastic Surgery in Brazil. Durham and London, Duke University Press, 2010. aponta o aumento incessante da preocupação com a aparência física no Brasil ao passo que mais brasileiros se engajam no setor terciário.
O comprometimento com a estética corporal cria entre as alunas e maquiadoras brasileiras uma sensação de superioridade em relação ao Japão, país que as categoriza como classe menos favorecida. Essa inversão da sua posição subordinada ocorre quando se repete no universo dos decasséguis, paralelo ao da sociedade japonesa, a comparação do “Ocidente” com o “Oriente”, questão sempre observada entre os nikkeis no Brasil, sendo o primeiro o mais desejado. A inversão se torna completa quando o Brasil se identifica com o “Ocidente”.
Ao aprenderem as técnicas de maquiagem dos países “ocidentais”, as alunas brasileiras tomam consciência das diferenças entre os corpos e as exigências do autocuidado com a aparência física que as mulheres dos dois países possuem. Ademais, cada país exige uma postura adequada diferente quanto ao zelo pelo corpo. Com essas diferenças, as alunas brasileiras identificam o Brasil com o “Ocidente”. Entretanto, isso é feito de uma maneira generalizada e destituída de questionamentos quanto ao seu próprio corpo físico. No final, cria-se entre elas um sentimento de pertencimento ao “ocidental”.
As experiências das imigrantes brasileiras tratadas neste artigo sugerem que “o corpo brasileiro” possibilita a subjetivação dessas mulheres, mas isso acontece somente sob as hierarquias existentes, racializadas e construídas de forma desigual em termos socioeconômicos, cujas existências são maquiadas para se subjetivarem. Ou seja, a posição das imigrantes brasileiras inseridas na camada baixa de um país desenvolvido não são invertidas de fato, nem mesmo com a alienação estética do corpo oriental no Brasil, tampouco sob o olhar dos japoneses para as imigrantes brasileiras.
Entretanto, está sendo criada uma nova hierarquia entre elas, com os critérios que se baseiam em saber ou não investir no futuro, o que tem efeitos dentro do grupo de imigrantes brasileiros.
Para finalizar, é necessário lembrar também que a subjetivação dessas mulheres em relação às suas corporalidades se realiza, sobretudo, por meio do ato de consumir. Tal prática pode oferecer outro exemplo de tendência de restrição do direito das cidadãs somente na esfera de consumo, o que tem sido alertado pelas discussões feministas (Tanaka, 2012TANAKA, Toko 田中東子. Media bunka to jendā no seijigaku: Dai san ha feminizumu no siten kara メディア文化とジェンダーの政治学:第3波フェミニズムの視点から [Cultura mediática e política de gênero: do ponto de vista da terceiro onda do feminismo]. Quioto, Sekaishisosha, 2012 (em japonês).).
Referências bibliográficas
- BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. cadernos pagu (26), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.329-376 [https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100014 - acesso em: 20 abr 2021].
» https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100014 - BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tabelas - 2019 Características adicionais do mercado de trabalho. 2019 [https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?=&t=resultados - acesso em: 27 ago 2020].
» https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?=&t=resultados - BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 19a edição, Rio de Janeiro-RJ, Civilização Brasileira, 2020.
- CENTRO de Estudos Nipo-Brasileilos. Burajiru ni okeru nikkeijinkō chōsa hōkokusho: 1987-1988 ブラジルに於ける日系人口調査報告書1987-1988 [Pesquisa da população de descendentes de japoneses no Brasil 1987-1988]. São Paulo-SP, 1990 (em japonês).
- CREIGHTON, Millie. Soto Others and Uchi Others: Imaging Racial Diversity, Imagining Homogeneous Japan. In: WEINER, Michael. (ed.) Japan’s Minorities: The Illusion of Homogeneity. London, New York, Routledge, 1997, pp.211-238.
- DEL PRIORE, Mary. Corpo a corpo com a mulher: pequena história das transformações do corpo feminino no Brasil. São Paulo-SP, Editora SENAC, 2000.
- EDMONDS, Alexander. Pretty Modern: Beauty, Sex and Plastic Surgery in Brazil. Durham and London, Duke University Press, 2010.
- ENNES, Marcelo Alario; RAMOS, Natália. Immigrants and Body Modifications in the Consumer Society. Management Science and Engineering, v.12, n. 3, Quebec, Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures, 2018, pp.65-76 [http://dx.doi.org/10.3968/10924 - acesso em: 20 abr 2021].
» http://dx.doi.org/10.3968/10924 - ENNES, Marcelo Alario; RAMOS, Natália. Cirurgias estéticas étnicas e migração em Portugal e Espanha. Mediações: Revista de Ciências Sociais, v.22, n. 1, Londrina-PR, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, 2017, pp.183-212 [http://dx.doi.org/10.5433/2176-6665.2017v22n1p183 - acesso em: 20 abr 2021].
» http://dx.doi.org/10.5433/2176-6665.2017v22n1p183 - FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. Dublin, Penguin Random House, 2021.
- FRANÇA, Thais; PADILLA, Beatriz. Imigração brasileira para Portugal: entre o surgimento e a construção médiatica de uma nova vaga. Cadernos de Estudos Sociais, v.33, n. 2, Recife-PE, Fundação Joaquim Nabuco, 2018, pp.207-237 [https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1773 - acesso em: 25 ago 2020].
» https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1773 - FRY, Peter. Estética e política: relações entre “raça”, publicidade e produção da beleza no Brasil. In: GOLDENBERG, Mirian. (org.) Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2002, pp.301-326.
- GARCÍA CANLINI, Néstor. Consumers and Citizens: Globalization and Multicultural Conflicts. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001.
- GOLDENBERG, Mirian. Os novos desejos. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2011.
- GOLDENBERG, Mirian; RAMOS, Marcelo Silva. A civilização das formas: o corpo como valor. In: GOLDENBERG, Mirian (org.). Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro-RJ, Record, 2002, pp.19-40.
- GOMES, Mariana Selister. Dos museus dos descobrimentos às exposições do império: o corpo colonial em Portugal. Revista Estudos Feministas, v.27, n. 3, Florianópolis-SC, Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, 2019, pp.1-14 [https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n357903 - acesso em: 20 abr 2021].
» https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n357903 - HARAWAY, Donna. J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge, 1991.
- HATUGAI, Érica Rosa. Um corpo como fronteira: parentesco e identificações entre descendentes nipônicos “mestiços”. Dissertação (Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2018 [https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - acesso em: 19 jun 2021].
» https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10673 - ISHI, Angelo. Searching for Home, Wealth, Pride and “Class”: Japanese Brazilians in the “Land of Yen”. In: LESSER, Jeffrey (ed.). Searching for Home Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalism. Durham and London, Duke University Press, 2003, pp.75-102.
- ISHIKAWA, Eunice Akemi イシカワエウニセアケミ. Nihon ni okeru nikkei burajirujin josei: kokusai idō ni tomonau henyō 日本における日系ブラジル人女性:国際移動に伴う変容 [Mulheres nikkey no Japão: mudanças pelas migrações internacionais]. Intriguing Asia (117), Tóquio, 2008, pp.47-53 (em japonês).
- ISHIMORI, Karina Midori. Viver num corpo estrangeiro: sentidos e significados do ter e ser um corpo oriental para adolescentes nikkeis insatisfeitos com suas fenotipias. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social), Universidade Católica de São Paulo, 2005.
- IWAMURA, Wiliam Massahiro 岩村ウィリアン雅裕. Zainichi burajiru seinen to shōhi shakai 在日ブラジル人青年と消費社会 [Residentes jovens brasileiros no Japão e a sociedade de consumo]. Bulletin of the Graduate School of Education and Human Development. Educational Sciences, v.55, n.1, Nagoya University, 2008, pp.89-99 (em japonês).
- JAPAN Ministry of Justice. Kokuseki, chiiki betsu zairyū gaikokujin sū no suii 国籍・地域別在留外国人数の推移 [transição de número de residentes estrangeiros segundo nacionalidade e província], 2020a [http://www.moj.go.jp/content/001317545.pdf - acesso em: 20 ago 2020] (em japonês).
» http://www.moj.go.jp/content/001317545.pdf - JAPAN Ministry of Justice. Todōfuken betsu nenrei danjo betsu zairyū gaikokujin sono5 burajiru 都道府県別 年齢・男女別 在留外国人(その5 ブラジル)[número de residentes estrangeiros (brasileiros) segundo província, idade e sexo], 2020b [https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20190&month=24101212&tclass1=000001060399 - acesso em: 30 ago 2020] (em japonês).
» https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20190&month=24101212&tclass1=000001060399 - KAJITA, Takamichi; TANNO, Kiyoto; HIGUCHI, Naoto 梶田孝道・丹野清人・樋口直人. Kao no mienai teijūka: Nikkei burajirujin to kokka, shijō, imi nettowāku 顔の見えない定住化:日系ブラジル人と国家・市場・移民ネットワーク [Residentes invisíveis: Nipo-brasileiros diante do estado, do mercado e da rede migratória]. Nagoia, The University of Nagoya Press, 2005 (em japonês).
- LESSER, Jeffrey. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity in Brazil. Durham, Duke University Press, 1999.
- LIDOLA, Maria. Of Grooming Bodies and Caring Souls: New-Old Forms of Care Work in Brazilian Waxing Studios in Berlin. In: ALBER, Erdmute; DROTBOHM, Heike (eds.) Anthropological Perspectives on Care: Work, Kinship, and the Life-Course. New York, Palgrave Macmillan, 2015, pp.69-90.
- LUGONES, María. Colonialidad y Género. Tabula Rasa (9), Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2008, pp.73-89 [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200006&lng=en&nrm=iso - acesso em: 19 abr 2021].
» http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200006&lng=en&nrm=iso - MALHEIROS, Jorge; PADILLA, Beatriz. Can stigma become a resource?: The mobilization of aesthetic–corporal capital by female immigrant entrepreneurs from Brazil. Identities: Global Studies in Culture and Power, v.22, issue 6, Taylor & Francis, 2015, pp.687-705.
- MCCLINTOCK, Anne. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York, Routledge, 1995.
- MILES, Robert; BROWN, Malcolm. Racism (2nd ed.). London, Routledge, 2003.
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Brasileiros no mundo: estimativas populacionais das comunidades. 2016 [http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/Estimativas%20RCN%202015%20-%20Atualizado.pdf - acesso em: 4 set 2020]
» http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/Estimativas%20RCN%202015%20-%20Atualizado.pdf - MOROKVASIC, Mirjana. Migration, gender, empowerment. In: LENZ, Ilse; ULLRICH, Charlotte; FRESCH, Barbara (eds.). Gender Orders Unbound: Globalisation, Restructuring and Reciprocity. Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, 2007, pp. 69–97.
- OLIVEN, Ruben George; PINHEIRO-MACHADO, Rosana. From “Country of the Future” to “Emergent country”: Popular Consumption in Brazil. In: SINCLAIR, John; PERTIERRA, Anna Cristina (eds.) Consumer Culture in Latin America. New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp.53-65.
- OTAWA, Naoki; YAMAGUCHI, Takeshi 大多和直樹・山口毅. Shinro sentaku to shien: gakkō sonritsu kōzō no genzai to kyōiku no akauntabiriti 進路選択と支援:学校存立構造の現在と教育のアカウンタビリティ [Opções e apoios a caminhos futuros: estrutura atual das escolas e a responsabilidade da educação]. In: HONDA, Yuki 本田由紀. (org.) Wakamono no rōdo to seikatsu sekai: karera ha donna genjitsu wo ikiteiruka 若者の労働と生活世界:彼らはどんな現実を生きているか [Empregos dos jovens e seus mundos-de-vida: em qual realidade eles vivem?]. Tóquio, Otsukishoten, 2007, pp.149-184 (em japonês).
- PADILLA, Beatriz; FERNANDES, Gleiciani Maria de Oliveira; GOMES, Mariana S. Ser brasileira em Portugal: imigração, género e colonialidade. Atas do 1° seminário de estudos sobre imigração brasileira na Europa, Barcelona, 2010, pp.113-120.
- PADILLA, Beatriz; FERNANDES, Gleiciani Maria de Oliveira; GOMES, Mariana S. Ser brasileña en Portugal: inmigración, género y colonialidad. In: MAGLIANO, Maria José; MALLIMACI BARRAL, Ana Inés (comps.) Las mujeres latinoamericanas y sus migraciones. Villa María, Eduvim, 2017, pp.141-166.
- PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, v.11, n.2, Goiânia-GO, Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, 2008, pp. 263-274 [https://doi.org/10.5216/sec.v11i2.5247 - acesso em: 26 abr 2021].
» https://doi.org/10.5216/sec.v11i2.5247 - PONTES, Luciana. Mulheres brasileiras na mídia portuguesa. cadernos pagu (23), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2004, pp.229-256 [https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200008 - acesso em: 25 ago 2020].
» https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200008 - QUIJANO, Anibal. Colonialidad del poder y clasificación Social. Journal of World-Systems Research, VI, (2), University of Pittsburgh, 2000, pp.342-386 [https://doi.org/10.5195/jwsr.2000.228 - acesso em: 19 abr 2021].
» https://doi.org/10.5195/jwsr.2000.228 - ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Novas opções, antigos dilemas: mulher, família, carreira e relacionamento no Brasil. Temas em Psicologia, v.12, n.1, Ribeirão Preto-SP, Sociedade Brasileira de Psicologia, 2004, pp.2-17 [http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v12n1/v12n1a02.pdf - acesso em: 25 ago 2020].
» http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v12n1/v12n1a02.pdf - SAID, Edward S. Orientalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.
- SCHPUN, Mônica. História de uma invenção identitária: a estética nipo-brasileira dos descendentes de imigrantes (temporalidade migratória, etnia e gênero). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, pp.1-13 [http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - acesso em: 11 ago 2018].
» http://nuevomundo.revues.org/index3685.html - STATISTIC BUREAU OF JAPAN. Summary Table Summary Table Population of 15 years old and over by labour force status, employed persons, unemployed persons, persons not in labour force and labour underutilization [http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/results/quarter/dt/index.html - acesso em: 24 ago 2020].
» http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/results/quarter/dt/index.html - SUDO, Naoki 数土直紀. Nihonjin no kaisō ishiki 日本人の階層意識 [A consciência do povo japonês sobre as hierarquias de classe]. Tóquio, Kōdansha, 2010 (em japonês).
- TANAKA, Toko 田中東子. Media bunka to jendā no seijigaku: Dai san ha feminizumu no siten kara メディア文化とジェンダーの政治学:第3波フェミニズムの視点から [Cultura mediática e política de gênero: do ponto de vista da terceiro onda do feminismo]. Quioto, Sekaishisosha, 2012 (em japonês).
- WATARAI, Tamaki. Can a Mestiça be a Haafu?: Japanese-Brazilian Female Migrants and the Celebration of Racial Mixing in Contemporary Japan. Journal of Intercultural Studies, v.35, n.6, Taylor & Francis, 2014, pp.662-676.
- WATARAI, Tamaki 渡会環. Meikuappu sareru burajirujin josei no seikatsu sekai メイクアップされるブラジル人女性の生活世界 [O mundo-da-vida maquiado e imigrantes brasileiras]. In: KAWAI, Yuko 河合優子. (org.) Kōsaku suru tabunka shakai: ibunka komyunikēshon wo toraenaosu 交錯する多文化社会:異文化コミュニケーションを捉え直す [A sociedade multicultural e interseccionalidade: reconsiderar a comunicação intercultural]. Quioto, Nakanishiya, 2016, pp.84-118 (em japonês).
-
Fontes
-
The Magazine for Cosmetic, Toiletry, Drug & Allied Industries. (março 2009, agosto 2009) (em japonês).
-
The Wall Street Journal. (6 de abril de 2012).
-
Veja. (14 de dezembro de 2011).
-
2
Além dessas 18 pessoas, entrevistei uma instrutora peruana que aprendeu maquiagem na comunidade brasileira e começou a dar cursos dentro e fora da comunidade. Devido à proximidade cultural e linguística, peruanos, bolivianos e latino-americanos de outras nações, cujos números de habitantes são bem menores que os brasileiros, são consumidores ativos no comércio étnico brasileiro.
-
3
No momento, a empresa oferece um portal digital no qual se mantem a categoria Saúde e Beleza.
-
4
Por exemplo, as seguintes revistas ressaltam a dinâmica da venda direta no mercado brasileiro de cosméticos: The Magazine for Cosmetic, Toiletry, Drug & Allied Industries (março 2009, agosto 2009), The Wall Street Journal (6 de abril de 2012).
-
5
Agradeço ao Angelo Ishi por ter me explicado sobre o “boom” de cursos profissionalizantes na comunidade brasileira no Japão (28 de abril de 2013).
-
6
Junto com a informação acima, Angelo Ishi também explicou que na segunda metade dos anos 90, quando o plano dos decasséguis de permanecer por um curto período no Japão tornou-se inalcançável, alguns começaram a oferecer em seus dias de folga serviços que já haviam realizado no Brasil. Nessa época, começou a troca de cartões de visita entre imigrantes, por meio da qual as pessoas se apresentam, utilizando a identidade de classe perdida na vida de decasségui.
-
7
Neste artigo, tentei manter os termos utilizados pelas minhas interlocutoras.
-
8
A dinâmica de consumo pela nova classe média sempre recebeu muita atenção da mídia, mas, além do consumo, ela procura descrever o perfil dessa classe. Por exemplo, o artigo da Veja da edição de 14 de dezembro de 2011 reconheceu a batalha dessa classe para melhorar suas vidas, mas apontou que ela só consegue melhorar a situação a curto prazo, diferenciando-a da classe média tradicional, que sabe investir no seu futuro. A Veja concluiu que o que houve no Brasil não foi a expansão da classe média, mas sim a emergência de uma nova classe.
-
9
Nádia Treillard observou a hierarquização entre as brasileiras na França. Apresentação da Nádia Treillard no II Congresso de Associação de Brasilianistas na Europa no dia 18 de setembro de 2019, em Paris, França.
-
10
No curso do qual participei, tivemos aulas nos domingos, quando a maioria das fábricas não está em funcionamento, o que facilita a participação das brasileiras. A duração do curso foi de dois meses, e cada aula tinha duração de cinco horas. Nas aulas, houve venda de produtos, e a decisão de comprá-los ou não era tomada naquele momento.
-
11
Quanto à participação feminina no mercado de trabalho, no Japão temos 68,5 milhões de pessoas acima dos 15 anos que exercem algum ofício, e a metade da população em idade ativa é formada por mulheres (51,7%). No entanto, os homens representam 55,6% da parcela da população que efetivamente trabalha. Além disso, 78% dos homens empregados (exceto quem ocupa cargos executivos) são trabalhadores regulares, enquanto que 53,3% das mulheres empregadas são trabalhadores não regulares. Os dados mostram também que os homens representam 75,5% dos cargos executivos (Statistic Bureau of Japan, 2020). No mercado de trabalho brasileiro, os homens representam 56,3% da parcela da população que efetivamente trabalha (IBGE, 2019).
-
12
Os nomes reais dos meus interlocutores e o da revista foram substituídos por pseudônimos a fim de preservar suas identidades.
-
13
Entre descendentes de japoneses, a porcentagem de casamentos interétnicos é alta. Em 1987, quando o Centro de Estudos Nipo-Brasileiros realizou a pesquisa que cobriu todas as famílias nikkeis no Brasil (inclusos japoneses do Japão que permaneciam ou iriam permanecer no país por mais de 3 meses, exceto habitantes na ilha de Fernando de Noronha), constatou-se que a porcentagem de casamentos interétnicos entre nissei (segunda geração) era de 6%; entre sansei (terceira geração), de 42%; e entre yonsei (quarta-geração), de 61% (Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, 1990). Essa pesquisa foi a última e única realizada a esse nível.
-
1
Este trabalho foi subsidiado pelas JSPS KAKENHI Grant Number JP16K01995 e JSPS KAKENHI Grant Number 24530657.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Dez 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
09 Nov 2020 -
Aceito
23 Set 2021