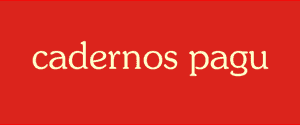Resumo
Assumindo uma abordagem multidisciplinar, este artigo consiste em avaliar em que medida a sororidade tornou-se uma parte essencial das demandas dos movimentos feministas contemporâneos e como o livro Novas Cartas Portuguesas (1972) ajuda-nos a compreender a importância dessa questão. O corpus selecionado levanta problemáticas que encaminham a uma leitura convergente entre dois núcleos centrais de interpretação: a solidariedade entre mulheres e as estratégias de busca pela libertação da clausura.
Estudos Feministas; Estudos de Gênero; Literatura Portuguesa; Novas Cartas Portuguesas; Sororidade
Abstract
Taking a multidisciplinary approach, this article intends to evaluate the extent to which sorority has become an essential part of the demands of contemporary feminist movements and how the book New Portuguese Letters (1972) helps us to understand the importance of this issue. The selected corpus raises questions that lead to a convergent reading between two central cores of interpretation: the solidarity among women and the strategies of search for the liberation of the cloister.
Women’s Studies; Gender Studies; Portuguese Literature; New Portuguese Letters; Sorority (Sisterhood
Uma palavra recentemente incluída nos principais dicionários de língua portuguesa vem sendo entoada com veemência por mulheres que lutam pela igualdade de gênero. Disseminada na internet (principalmente através da recente expansão de correntes, como MeToo, Time’s Up e NiUnaMenos), o conceito de sororidade é inventado quando se toma consciência de que a noção de fraternidade tem como raiz frater, irmão. Nesse sentido, se o lema da Revolução Francesa – Liberdade, Igualdade, Fraternidade – indica etimologicamente que a ideia de união e harmonia é exclusiva aos irmãos (homens, portanto), a sororidade consiste numa resposta igualmente etimológica, já que é composta pelos termos latinos soror, -oris: irmã, -dade. Mas, ao contrário da irmandade entre freiras e monjas que se casam com Deus e a Ele juram fidelidade, a sororidade é um pacto político de gênero entre mulheres que, reconhecendo-se como interlocutoras, são fiéis a si mesmas e às outras mulheres, sem hierarquia. Embora esteja etimologicamente relacionada ao laço afetivo que idealmente deveria haver entre irmãs ou a uma rede de apoio presumivelmente cultivada por freiras nos conventos, a sororidade, numa dimensão ética e política, tornou-se um tema e uma prática do feminismo contemporâneo.
Oriunda da Igreja, essa palavra pode ser definida pela relação de amizade criada com a intenção de se opor à (suposta) rivalidade existente ente mulheres, incentivada – e naturalizada – pelo sistema patriarcal. Contudo, a sororidade não é uma fraternidade ou simplesmente uma irmandade entre mulheres. Trata-se de um movimento que demanda uma voz própria. E não é estranho que, ao longo da História, só recentemente nós tenhamos começado a ouvir essa palavra, cujo sentido nem sempre é conhecido, já que, ao contrário de fraternal e fraternidade (frater), qualquer coisa que esteja ligada à ideia de feminino é sistematicamente apagada. Genericamente, a sororidade pode ser explicada como uma solidariedade feminina – que não é recente, como nos mostra, por exemplo, o movimento sufragista – numa organização que se forma pela reciprocidade e amizade entre mulheres que nem sequer precisam ser amigas, mas que compartilham o mesmo ideal e trabalham para alcançar o mesmo objetivo. O significado desse “tema largo das mulheres e sua origem, à condição de freira e bruxa sob [...] forma versada e demanda à madre” (Barreno, Horta, Costa, 1974:125) deriva de uma espécie de acordo entre mulheres que, de diversas maneiras, experimentam ou experimentaram a opressão patriarcal, em alguma(s) de suas formas.
Além de constituir um instrumento para a conquista da igualdade entre mulheres e homens, a sororidade é uma forma de reação à fraternidade masculina e um caminho para enfraquecer a misoginia. A disseminação do termo deve-se, em parte, à emergência da chamada terceira vaga do feminismo, protagonizada por mulheres jovens em sua maioria, conectadas às redes sociais e às ferramentas tecnológicas, que articulam ideias e práticas. Através da escuta e da cumplicidade, mulheres na busca de um sentido libertário encontraram na sororidade um caminho para eliminar a ideia de inimizade e competitividade histórica no contexto patriarcal. Desta forma, o feminismo propõe que esse conceito vá além da solidariedade, uma vez que esta consiste numa partilha de experiências que mantém as condições de apoio, enquanto a sororidade indica a modificação das experiências relacionais:
De irmãs indecisas [...] eis que nos fizémos, de queixas nossas umas a outras, da coragem disso, de nos acusar e suspeitar, passando da acusação a nossas mães a nós ali presentes e suportando isso, eis que nos fizémos de todas mãe e filha e irmãs decididas a dizer-nos exactamente porque órfãs e doridas e carentes. A família. (Barreno; Horta; Costa, 1974:124).
Nesse aspecto, a escolha do corpus deve-se, como aponta Anna Klobucka (2009KLOBUCKA, Anna. O formato mulher. A emergência da autoria feminina na poesia portuguesa. Braga/Coimbra, Angelus Novus, 2009.:14), ao fato de “as Novas Cartas forja[re]m ‘uma metodologia’ original e fértil”, tratando-se de uma obra precursora pela sua unidade ao debater a “antropologia [...] dos conventos” (Barreno; Horta; Costa, 1974:127). Sendo o livro uma clara denúncia de situações discriminatórias que passam também pelo sexo e pela sexualidade, Novas Cartas Portuguesas ultrapassam, contudo, as questões relacionadas ao corpo e à corporeidade ou aos discursos institucionalizados sobre o corpo, tornados centros de múltiplas discussões e investigações acerca do feminismo, das identidades e dos papeis sexuais. Assim teve início a obra que tinha por “projecto inicial [...] seguir de perto Mariana e as cartas” (Barreno; Horta; Costa, 1974:35) de amor que a freira seiscentista escreveu ao marquês de Chamilly1 1 A vocação religiosa de Soror Mariana Alcoforado é posta à prova quando conhece o cavaleiro francês Noël Bouton, marquês de Chamilly, que estava em Portugal durante a guerra da Restauração (1640-1668). Entre os dois surge um amor impossível, do qual as Cartas Portuguesas são o seu testemunho. Publicadas pela primeira vez em francês, em 1669, por Gabriel de Guilleragues, as Cartas até hoje são alvo de grande controvérsia no que diz respeito à sua autoria. Tornou-se ponto pacífico a polêmica em torno da existência de Mariana Alcoforado e do Marquês de Chamilly e do fato de ser este o destinatário das suas cartas de amor. Mas a atribuição da autoria dos textos a Mariana e a sua autenticidade ainda são temas postos em discussão. , “o sedutor francês cúmplice de Mariana à sua dupla clausura, física e simbolicamente circunscrita, de reclusão conventual e lealdade nacional [que] permaneceu a pairar no centro da história da freira” (Klobucka, 2006KLOBUCKA, Anna. Mariana Alcoforado: formação de um mito cultural. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006.:27):
Tudo começou quando as três escritoras – já então estabelecidas no seu meio – prosa, jornalismo, poesia – começaram a encontrar-se regularmente. Com origens idênticas, todas tinham 35 anos, eram casadas e mães. Todas tinham sido educadas por freiras.
Durante um ano, encontraram-se regularmente, uma vez por semana, para entregar às outras o que tinham escrito durante a semana anterior. Os contributos não eram assinados, mas sim datados, de modo a dar uma unidade cronológica ao livro colectivo. O estilo e a forma eram escolhidos arbitrariamente, misturando-se cartas com poemas sensuais e análises sobre a situação das mulheres. No livro, foram introduzidas personagens fictícias para retratar intrigas de família e destinos de vida em países estrangeiros (Edfeldt, 2015EDFELDT, Chatarina. Sororidade transnacional como acto político: a recepção de Novas Cartas Portuguesas na Suécia. In: AMARAL, Ana Luísa; FREITAS, Marinela. Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o mundo. Lisboa, Dom Quixote, 2015, pp.365-419.:416).
De modo análogo, foi sob a égide da clausura eclesiástica que Mariana Alcoforado (1640-1723) viveu desde os doze anos de idade, de maneira muito similar a uma internação involuntária. Porém, isso não significa que três séculos mais tarde as mulheres já não vivessem em regime semelhante ao da clausura, imposto pelos códigos morais que dita(va)m expectativas comportamentais estereotipadas. No trânsito entre os séculos XVII e XX, permanece em comum entre ambos a ideia de enclausuramento: “de cal ou de calçada – há sempre uma clausura pronta a quem levanta a grimpa contra os usos” (Barreno; Horta; Costa, 1974:13). Embora ambos os textos – Cartas Portuguesas (1669) e Novas Cartas Portuguesas (1972) – tenham sido construídos em contextos de “sociedades disciplinares” (Foucault) – uma vez que Mariana Alcoforado viveu reclusa por decisão familiar no Convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, e as Novas Cartas foram escritas durante o período ditatorial do Estado Novo em Portugal –, é através do feminino que se abre espaço para a resistência contra a ordem hegemônica, para a ruptura e para a liberdade:
Seria moral da história dizer-se: se a freira e o convento se dão mal, muda-se a freira ou o convento. Mudou-se a freira? E como se muda a freira sem mudar o convento? Com que cara fica um convento onde uma freira escreve cartas de amor, atestando a falência de uma clausura onde entram e saem cavaleiros franceses? (Barreno; Horta; Costa, 1974:33).
Este veio de liberdade que surge de dentro do claustro só se torna possível pelo gesto da escrita literária: “Se tome Mariana que em clausura se escrevia, adquirindo assim sua medida de liberdade e realização através da escrita; mulher que escreve ostentando-se de fêmea enquanto freira, desautorizando a lei, a ordem, os usos, o hábito que vestia” (Barreno; Horta; Costa, 1974:91). Estas questões, cada vez mais atuais e urgentes, devido ao aumento das desigualdades e das violências real e simbólica, são prementes no livro de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que “forjam (...) formas alternativas ou contra-hegemónicas de dizer o mundo e de dizer o ‘eu’, que é ‘nós’, e que ousa assim articular-se através da linguagem” (Amaral; Freitas, 2015:11), “forja[ndo]-se agora, em jogo de dentro e fora, a vontade de inquirir sob o modo e objecto que a cada uma é mais próprio – tu, de dentro da pele de Mariana, me queres saber as dores e a condição – deixá-la vir e vem e sua história na História por acréscimo” (Barreno; Horta; Costa, 1974:125).
Compostas por 120 textos fictícios (entre cartas, poemas, narrativas, ensaios e citações), as Novas Cartas Portuguesas desestabilizam as fronteiras entre os gêneros epistolar, narrativo e poético, desorganizando e reelaborando os limites da catalogação. Ao fugirem a uma classificação sistemática, elas salientam uma pluralidade desconcertante que as reconduz a um território amplo, por onde transitam entre a ficção, a memória, a autobiografia, a confissão, a poesia, o documento. Desde o início, as Novas Cartas Portuguesas são duplamente ficcionais, uma vez que constituem a releitura das Cartas Portuguesas atribuídas à freira Mariana Alcoforado, que acabam por se tratar, segundo a teoria de Dubois (1988)DUBOIS, E. T. A mulher e a paixão. Das «Lettres Portugaises» (1669) às «Novas Cartas Portuguesas» (1972). Revista Colóquio/Letras, n. 102, Lisboa, Mar. 1988, pp.35-43., de uma obra de ficção, ou também acabam por “provar que Mariana nunca foi mais que seu convento e que o senhor Chamilly apenas lhe foi pretexto de vir escrevendo a nosso encontro” (Barreno; Horta; Costa, 1974:38). As Novas Cartas Portuguesas não questionam a autoria2 2 Como foi referido na nota anterior, não é intenção deste artigo abordar a polêmica sobre a questão da autoria das Cartas Portuguesas atribuídas à Mariana Alcoforado. Entretanto, cabe salientar que a condição existencial e discursiva da freira de Beja sobressai nas interpretações que questionam as Lettres Portugaises e a figura da sua presumível autora. Enquanto Mariana é vista como um vulto singular contra o pano de fundo da autoria feminina seiscentista, protagonista ou pseudônimo de um grupo de monjas literatas, é justamente esta figura, cuja existência é posta em xeque, que serve de fonte matricial para a composição das Novas Cartas Portuguesas, um livro em que, “[p]ela primeira vez na história do movimento feminista e da sua expressão literária[,] a cumplicidade entre as mulheres foi ao mesmo tempo sujeito e objecto de toda a [sua] trama [...]. Aí reside a sua espantosa originalidade” (Barreno;Horta;Costa, 2010: xxxi). Para uma análise mais extensa sobre a polêmica envolvendo a autoria das Cartas Portuguesas, ver Klobucka (2006) e Dubois (1988). de Mariana Alcoforado, ainda que este assunto seja abordado através do anonimato e da sororidade literária que as três escritoras instauram pela experiência da autoria coletiva, compondo uma nova trindade, agora feminina e feminista. A interação com textos clássicos, ou mesmo a sua imitação, pode constituir ponto favorável na composição contemporânea: ao olhar multidisciplinar que se lança ao passado seiscentista interessa privilegiar as abordagens que examinam a apropriação das Cartas Portuguesas pelas “três Marias”. Abordando a teoria feminista e a crítica da epistolografia feminina, os registros multidisciplinares complementam-se por uma investigação pautada no diálogo sócio-político e histórico-literário, visando a investigar a produção da escrita por mulheres e a sua recepção contemporânea. Nas palavras de Anna Klobucka (2006KLOBUCKA, Anna. Mariana Alcoforado: formação de um mito cultural. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006.:25),
a história da freira portuguesa também ilustra a possibilidade (...) de que, uma vez formuladas e trazidas para o domínio do discurso público, essas “tradições” nem sempre permaneçam estagnadas e constrangidas nos seus espartilhos ideológicos originais, tornando-se, frequentemente, capazes de desenvolver uma vitalidade simbólica própria, altura em que uma distinção funcional entre tradições “genuínas” e “inventadas” se revela algo inútil. Uma demonstração particularmente convincente desta afirmação poderá ser encontrada no exemplo do manifesto feminista Novas Cartas Portuguesas (1972), da autoria colectiva de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, cuja interpretação revisionista da história da Soror Mariana, à semelhança de muitas outras reescritas de narrativas estabelecidas a partir de uma perspectiva anteriormente marginalizada, impeliu o mito para novos e emocionantes rumos.
De outro modo, também se pode dizer o quanto é fundamental para a concepção das Novas Cartas a escolha das Cartas Portuguesas “como texto matriarcal, justamente pelo peso simbólico de que se revestia a figura de Mariana e pela imagem feminina que delas emergia” (Amaral, 2010:XVI). Partindo das cinco cartas, cuja compilação data de 1669, de Soror Mariana Alcoforado ao Cavaleiro de Chamilly, as “três Marias” constroem nove cartas entremeadas de poemas e subvertem o protocolo que usualmente preside à literatura epistolar. Num livro em que poemas são cartas, e não se sabe quem assina cada texto, os limites desaparecem, afinal, “[é] também de resistência à catalogação que são feitas Novas Cartas Portuguesas, que assim desmantelam as fronteiras entre os géneros poético e epistolar, empurrando os seus limites até pontos de fusão” (Amaral, 2005:81).
Sem a assinatura de cada autora, o texto torna-se um “desolado concerto de três, instrumento de três cordas” (Barreno; Horta; Costa, 1974:35). O texto dessas três mulheres não gesta, como Penélope, o tempo de espera de Ulisses, mas expande-se para um radical exercício de libertação, quando se sabe que “il n’y a pas de femmes libres, il y a des femmes livrées aux hommes” (Barreno; Horta; Costa, 1974:264). De fato, a intervenção do autor na própria matéria ultrapassa a assinatura. Como disse Jacques Derrida, uma assinatura escrita pressupõe a não presença concreta daquele que assina. Mas essa marca “retém seu ter-sido presente num agora passado, que permanecerá um agora futuro, logo, um agora em geral, na forma transcendental da permanência” que “está de algum modo inscrita (…) [n]a forma de assinatura” (Derrida, 1991:35). O exercício da escrita é coletivamente compartilhado pelas três autoras, que, no entanto, não assinam individualmente nenhum dos textos: “nós três neste dar de mãos, nesta entrega, nesta independência nossa” (Barreno; Horta; Costa, 1974:29), “as três[] aranhas astuciosas fiando de nós mesmas nossa arte, vantagem, nossa liberdade ou ordem” (Barreno; Horta; Costa, 1974:45), “prevendo a corrosão nas hierarquias e costumes, instaurando a lei de uma nova irman(dade) – dão-se conta do risco?” (Barreno; Horta; Costa, 1974:39). A busca pelo anonimato, já que nunca se sabe qual das três é a autora de cada parte do livro, é outro aspecto que contribui para “uma das teses fundamentais do feminismo contemporâneo: a ‘sororidade’ das mulheres como nova formação social, a energia da sua solidariedade como força colectiva” (Pintasilgo apud Amaral e Freitas, 2015:13): “Cada uma por si espontânea, de aparência frágil, porém juntas logo o rigor, o manto, a terra, o susto que provocamos a homem que nos «saiba» e oiça. Já mesmo houve quem em modos de ameaça predissesse: «uma de vocês morre»” (Barreno; Horta; Costa, 1974:88-89).
Contudo, para além da resistência política e da sororidade literária, outras linhas de força delimitam esta obra. Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa enfrentaram um julgamento em 1973 devido aos trechos “imorais e pornográficos” (Amaral, 2005:80) de Novas Cartas Portuguesas. Como fica claro na célebre epígrafe3 3 Aqui vale informar que o subtítulo/epígrafe das Novas Cartas Portuguesas é também composto por uma contribuição coletiva de títulos das autoras: Maina Mendes (1969), de Maria Velho da Costa, Ambas as mão sobre o corpo (1970) e Minha Senhora de Mim (1971), de Maria Teresa Horta, e Os outros legítimos superiores (1970), de Maria Isabel Barreno. – “ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores” –, o livro faz críticas contundentes ao patriarcado4 4 Embora não seja intenção deste artigo descrever as contradições e os dissensos sobre a categoria Patriarcado nos feminismos, cabe ressaltar brevemente como as relações patriarcais tornam-se centrais para a análise comparativa entre as Cartas Portuguesas e as Novas Cartas Portuguesas. Por um lado, Avtar Brah evidencia “as limitações do conceito de patriarcado como dominação masculina não ambígua e invariável, não diferenciada por classe ou racismo”; por outro lado, o uso do termo “patriarcal” refere-se às “relações sociais particulares que combinam uma dimensão pública de poder, exploração ou status com uma dimensão de servilismo pessoal”. Colocando em confronto os conceitos “patriarcal” e “patriarcado” no estudo das interconexões entre gênero, classe e racismo, a autora explica que “[r]elações patriarcais são uma forma específica de relação de gênero em que as mulheres estão numa posição subordinada”. Contudo, “[s]eria muito mais útil compreender como relações patriarcais se articulam com outras formas de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’ porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela” (Brah, 2006:350). Para uma análise mais extensa sobre a crítica à categoria Patriarcado, ver Brah (2006) e Mohanty (2003). , que, embora circunscrito à vida portuguesa, a ela não se restringe nos aspectos que se referem aos questionamentos da condição da mulher:
Frágeis no entanto são os homens em suas nostalgias, medos, rogos, prepotências, fingidas docilidades. Frágeis são os homens deste país de nostalgias idênticas e medos e desânimos. Fragilidade em tentativas várias de disfarce: o desafiar touros em praças públicas, por exemplo, os carros de corridas e lutas corpo-a-corpo. Ó meu Portugal de machos a enganar impotência, cobridores, garanhões, tão maus amantes, tão apressados na cama, só atentos a mostrar picha (Barreno; Horta; Costa, 1974:100).
Embora o livro esteja restrito à realidade social portuguesa, a descrição dessa realidade “em que se reconhecem mulheres de todos os continentes e classes sociais” (Pintasilgo apud Amaral e Freitas, 2015:12) não se distancia, em sentido lato, de outros modelos sócio-culturais no que se refere a uma sociedade patriarcal marcada por uma política antidemocrática e repressiva. Ao fazer explodir a periodização histórica que compreende ambos os livros, este artigo acaba também por levantar a seguinte problematização: “Poderá a arte ser política sem deixar de ser intemporal?” (Rich, 1986RICH, Adrienne. Blood, Bread and Poetry: Selected Prose 1979-1985. New York, Norton, 1986.:186 apud Amaral, 2005:85). Não é, contudo, do século XVII ou da década de 1970 que se fala quando se fala de feminismo: o confronto dos tempos serve também para mostrar o quão continuamente perseguem, mascarados das mais diversas e mais apelativas linguagens, os discursos do contra-feminismo, profundamente apoiados num conservadorismo ideológico e político, habilmente disseminado pela mídia, como uma nova forma de fascismo, que incansavelmente o sustenta. Essas localizações temporais nos ajudam a reconhecer e reavaliar os avanços e os recuos do feminismo desde a sua primeira vaga ou o seu primeiro movimento.
Partindo das cartas atribuídas a Mariana Alcoforado, as Novas Cartas Portuguesas abordam questões que permanecem cruciais na agenda contemporânea, tais como guerras, conflitos, discriminação, violência, colonização, imigração e ausência de liberdade. Consolidando-se igualmente como um libelo contra a ideologia vigente no período anterior ao 25 de abril de 1974 e como um dos textos mais inovadores do século XX, as Novas Cartas põem em causa noções convencionais, como as de autoria e de gênero literário, e questões polêmicas e atualíssimas, como a do lugar da mulher na sociedade, o aborto e o feminicídio5 5 Mesmo antes da invenção da palavra feminicídio, atribuída a Diana Russell, que a teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas (ver também o livro Femicide: the politics of woman killing, de Diana Russel e Jill Radford), as Novas Cartas Portuguesas já nos lembravam de que esta prática não vem de hoje. Atente-se para esta longa citação do capítulo “Primeira Carta VI”: [...] Para nós os trazermos nesta espécie de crime, de violação das leis: mas não só hoje, recordamos Mariana então violando leis, embora nascesse em tempos de dissolução e Espanha de Filipes, Portugal castrado da sua virilidade: independência e rei de casta, nosso sangue, que escalar conventos era aventura de pouca monta, quando não reconhecido, visto, vingado por família. Hoje nos eis de outros crimes postas. Crimes também de paixão-honra vingados por nossos maridos, pela lei, se provado for que pecamos em adultério. Nossa vida, pois, em mãos deles dadas e prestes sempre a incorrermos em faltas que se julguem de morte permitidas. Qual a diferença do tempo de Mariana?: “Teve o crime passional, tipicamente meridional e muito espanhol, o seu apogeu e glorificação literária naqueles reinados que estudamos agora. O matar a mulher amada por infidelidade efectiva ou suposta, rara vez genuína, era vingança e quase sempre monstruosa manifestação de desejo. Muitas vezes o pretexto para matar seria notòriamente inventado e o crime tinha algo de bárbaro, êxtase supremo. A morte de mulheres pelos seus amantes, acontecia então com efeito, todos os dias”... (Barreno; Horta; Costa, 1974:133). . Escrito e publicado ainda durante o regime fascista de Marcello Caetano6 6 No início da década de 1970, Portugal vivia o cenário das guerras coloniais (1961-1974), do fim do período salazarista e da substituição por um novo regime ditatorial, que só terminaria com a Revolução dos Cravos em 1974. Instaurado após o golpe militar de 1926 por António de Oliveira Salazar, o regime ditatorial passou a ser dirigido, a partir de 1968, por Marcello Caetano, que deu continuidade à política colonialista e opressiva de seu antecessor. Como consequência dessas práticas, o país investiu boa parte do orçamento na manutenção dos esforços de guerra, ocasionando crise e decadência também no cenário econômico. O descontentamento da sociedade portuguesa, as deserções e emigrações motivaram o surgimento de um movimento revolucionário contra a ditadura, que resultou, em abril de 1974, na deposição de Marcello Caetano e no fim de uma política ditatorial que durou quase meio século. Nesse contexto de crises e conflitos, as variadas produções artísticas tenderam para o questionamento de valores sociais, sobretudo aqueles pautados por moldes e relações patriarcais. , o livro correu um “grande perigo”: “De nós acesso só a quem nos venha pôr de manso ou raiva tão acesa que mãos lhe consentiremos, porém sempre longe, e que das três não se tema o consentido: pois grande perigo leva, corre, até mesmo lavra de improviso” (Barreno; Horta; Costa, 1974:68).
Como bem nos lembra Anna Klobucka (2009KLOBUCKA, Anna. O formato mulher. A emergência da autoria feminina na poesia portuguesa. Braga/Coimbra, Angelus Novus, 2009.:13), “[a] história da escrita de autoria feminina em Portugal registou o seu momento mais proeminente de viragem simbólica e ideológica, cujas repercussões a longo prazo ainda estão muito longe de se esgotar, com a publicação, em 1972, e a não menos marcante supressão e subsequente reivindicação das Novas Cartas Portuguesas”. Alvo de uma perseguição política que o censurou, o livro foi traduzido na Europa e nos Estados Unidos, sendo, ainda hoje, uma das obras portuguesas mais traduzidas em todo o mundo. O processo instaurado às autoras pelo Estado Novo provocou um movimento de apoio nunca antes visto na história da literatura portuguesa. As manifestações em prol da causa das “três Marias” podiam ser percebidas pela cobertura do julgamento feita por meios de comunicação internacionais e pelos protestos feministas em embaixadas de Portugal no exterior, além da defesa pública das autoras e da sua obra empreendida por personalidades como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Doris Lessing. Várias ações internacionais fizeram com que o caso das “três Marias”, como ficou conhecido, fosse votado numa conferência patrocinada pela National Organization for Women (NOW), em Boston, como a “primeira causa feminista internacional”.
Pouco tempo depois, o 25 de Abril consagrou o livro no seguimento das ações que, de algum modo, prepararam e antecederam a revolução. Quase meio século depois, nos perguntamos se esse livro era assim tão datado. Sendo ele uma performance de discurso, uma atuação que extrapolou, e muito, a sua função puramente literária, começou por ser um exemplo de atitude de intervenção sem obliterar a significação insistente na literariedade. Por isso, é um livro que fez data, chamou a atenção para várias questões, não só feministas, marcou um tempo e foi para além dele, já que só recentemente começamos a ouvir falar, com mais veemência, do intercâmbio ao qual ele já se referia:
Também por isso nosso intercâmbio – e toda a amizade de mulheres – tem um tom de uterino, de troca lenta, sanguinária e carente, de situação de princípio retomada. Também, mas não só; também conta, pelo menos nos receios fundos, nossos e dos outros, o que a sociedade semeia de turvo e equívoco nas relações entre mulheres, juntas só para se entreterem, e divagarem no que as aflige e opõe e nunca no que constroem, juntas para que uma sentinela baste, e a sociedade semeia o equívoco que assustará e susterá a própria amizade entre mulheres (Barreno; Horta; Costa, 1974:107).
Nos últimos 50 anos, o movimento feminista no Ocidente conduziu a uma mudança cultural visível, sobretudo no trabalho, na educação, na estrutura da família, na política e no uso das mídias visuais e digitais, em sociedades que atravessaram tempos de ditadura, democracia e golpes de estado, possibilitando reformular uma indagação acerca da sororidade no contexto do feminismo contemporâneo. Com a intenção de seguir uma reflexão que possua interface com justiça de gênero numa perspectiva interseccional e em sintonia com os desafios ainda vigentes na discussão sobre as interrelações entre o (fim do) patriarcado e a sororidade, podem ser consideradas algumas correntes do feminismo, sobretudo o pós-feminismo, e outras palavras que, de algum modo, clarificam a natureza complexa do debate em torno deste tema, como: feminismos, contra-feminismo, contra-dicção, diferença, corpo. Partindo das conjecturas propostas pelas Novas Cartas Portuguesas, são revisitados os mesmos termos propostos, porém a partir da perspectiva da clausura e do cerceamento imposto à mulher através dos séculos. Neste sentido, é válido lembrar:
Que agora são outros tempos, embora de mesmas eras, e liberdade ostentamos apesar de presas nos sabermos? Nos deixamos ser? Apesar de até nos afirmarmos livres para nos perdermos, mas afinal sempre em função do amor, da paixão, de enganadas nos sabermos, utilizadas e a fim de deturparmos toda esta engrenagem imposta há tantos longos anos? Séculos. (Barreno; Horta; Costa, 1974:131).
Dada a relevância dos temas abordados – e a forma como são abordados – quase meio século depois, a revisitação das performances textuais das “três Marias” enquanto prática poética, memorial, analítica e confessional do “eu” e do “nós” propõe um prolongamento dos estudos literários e de gênero a fim de apresentar novo impulso às análises sobre as Novas Cartas, em intenso diálogo com as Cartas que as inspiraram. Afinal, assim pode ser esclarecida a proposta do livro: “De Mariana tirámos o mote, de nós mesmas o motivo, o mosto, a métrica dos dias. Assim inventámos já de Mariana o gesto, a carta, o aborto (Barreno; Horta; Costa, 1974:88).
O gesto da escrita, construído nesse espaço de reinvindicação de reconhecimento de direitos sociais, econômicos, culturais e jurídicos das mulheres, pode sugerir questões como estas: a (des)construção das identidades continua válida num livro como Novas Cartas Portuguesas que se mantém, num diálogo intenso, como matéria política e literária? O que mudou nesses quase cinquenta anos? Para responder a essas e outras questões, é importante perceber as relações que podem ser estabelecidas entre resistência política e construção literária:
O livro é o registo escrito de uma experiência muito mais vasta, comum, vivida, de criar uma sororidade através do conflito, da alegria e da mágoa partilhadas, da cumplicidade e da competição – uma troca lúdica não só de modos de escrita mas de modos de ser, alguns conscientes e outros nem tanto, todos eles se alterando ao longo do processo, e nós as três enfrentando, ainda hoje, a questão do como” (Barreno; Horta; Costa apud Amaral; Freitas, 2015:23).
A relevância dessas questões acentua-se quando são inseridas no contexto do feminismo contemporâneo, que vive um momento em que a situação social da mulher não é passível, em muitos aspectos, de grandes e significativas alterações. É fácil dizer que os feminismos excessivos não importam a uma sociedade equilibrada, mas inteiramente incorreto quando se trata da nossa, cujo equilíbrio é, no mínimo, arbitrário. Mas é oportuno insistir no fato de que a (re)leitura das Novas Cartas Portuguesas, essencialmente política na primeira metade dos anos 1970, pode, neste momento, ser mais acentuadamente feminista, assumindo uma atitude intelectual que leva em conta uma situação social, política, econômica e cultural que desfavorece a mulher.
Abordar um tema que não figura entre as correntes principais dos Estudos de Gênero nem sempre se converte numa fácil tarefa. O que aqui se procurou fazer foi propor uma sucinta introdução à reflexão em torno das relações entre sororidade e (fim do) patriarcado, na literatura e na política, além de repensar o conceito de sororidade no contexto do feminismo contemporâneo e, a partir dele, “[d]o poder com que «saltamos juntas» – o dizes – e do alimento que sempre de alguém tiramos para com ele nos vestirmos e envergadas de mundo lhe sabermos melhor o gosto e as fraudes com que sempre impediram à mulher o acesso a tudo” (Barreno; Horta; Costa, 1974:88). Tendo como principal objeto de leitura as Novas Cartas Portuguesas, este artigo buscou uma confluência entre dois tópicos essenciais: as estratégias de busca pela libertação e a sororidade literária e política, afinal, o termo que aqui se tornou palavra-chave é potencialmente notável a partir da perspectiva da clausura e do cerceamento infligido à mulher, política, jurídica, social, institucional, moral ou culturalmente ao longo dos tempos: “Considerai a cláusula proposta, a desclausura” (Barreno; Horta; Costa, 1974:13).
Num mundo onde “nenhuma fuga vos é possível” (Barreno; Horta; Costa, 1974:70), fica “dita a gravidade desta empresa, luta de vida, o que em nosso tempo e nosso sítio não é tido por legítimo, nem por defesa” (Barreno; Horta; Costa, 1974:53). Entretanto, como já foi dito, não só do tempo e do sítio de Mariana e das “três Marias” se fala quando se fala de feminismo, mas de realidades de “mulheres de todos os continentes e classes sociais” (Pintasilgo apud Amaral; Freitas, 2015:12). Por isso, o lugar da sororidade no feminismo contemporâneo pode parecer ambíguo na medida em que, por um lado, faz parte de uma agenda recente a chamada “terceira vaga”, e, por outro, identifica o feminismo em versão pós mais “com uma agenda liberal e individualista do que com objectivos colectivos e políticos, considerando que as principais reivindicações de igualdade entre os sexos foram já satisfeitas e que o feminismo deixou de representar adequadamente as preocupações e anseios das mulheres de hoje” (Macedo; Amaral, 2005MACEDO, Ana Gabriela; AMARAL, Ana Luísa. Dicionário da crítica feminista. Porto, Edições Afrontamento, 2005.:153). Porém, o feminismo aposta atualmente na reinvenção do movimento feminista e na urgência de fortalecê-lo, traduzindo-se, assim, numa multiplicidade de feminismos em que o conceito de sororidade é erigido como uma contra dicção em relação à lei das relações patriarcais.
A importância deste assunto se dá na medida em que estas questões não se encontram plenamente formalizadas dentro dos Estudos de Gênero. Entre o sentido etimológico do termo e as campanhas virtuais, sobretudo na última década, pode-se verificar um abismo que aqui se pretendeu reverter em força estruturante, através de um caminho cujas expressividade e poeticidade encontram novas possibilidades de interpretação. Uma vez que vivemos no contexto de uma variedade de feminismos plurais, a proposta ativa da sororidade e do seu discurso de oposição e resistência que recupera “la petite sœur de Beja” (Barreno; Horta; Costa, 1974:155) é, no mundo de hoje, de total pertinência.
Referências bibliográficas
- ALCOFORADO, Mariana. Cartas portuguesas atribuídas a Mariana Alcoforado. Ed. Bilíngue. Lisboa, Assírio & Alvim, 1998. Tradução: Eugénio de Andrade.
- ALCOFORADO, Mariana; FREITAS, Marinela. Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o mundo. Lisboa, Dom Quixote, 2015.
- BARRENO, Maria Isabel; COSTA, Maria Velho da; HORTA, Maria Teresa. Novas Cartas Portuguesas. Edição anotada org. Ana Luísa Amaral. Lisboa, Dom Quixote, 2010.
- BARRENO, Maria Isabel; COSTA, Maria Velho da; HORTA, Maria Teresa. Novas Cartas Portuguesas. São Paulo, Círculo do Livro, 1974.
- BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. cadernos pagu (26), Campinas, SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.329-376.
- DERRIDA, Jacques. Assinatura Acontecimento Contexto. In: Limited Inc. Campinas, Papirus, 1991. Tradução: Constança Marcondes Cesar.
- DUBOIS, E. T. A mulher e a paixão. Das «Lettres Portugaises» (1669) às «Novas Cartas Portuguesas» (1972). Revista Colóquio/Letras, n. 102, Lisboa, Mar. 1988, pp.35-43.
- EDFELDT, Chatarina. Sororidade transnacional como acto político: a recepção de Novas Cartas Portuguesas na Suécia. In: AMARAL, Ana Luísa; FREITAS, Marinela. Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o mundo. Lisboa, Dom Quixote, 2015, pp.365-419.
- KLOBUCKA, Anna. Mariana Alcoforado: formação de um mito cultural. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006.
- KLOBUCKA, Anna. O formato mulher. A emergência da autoria feminina na poesia portuguesa. Braga/Coimbra, Angelus Novus, 2009.
- MACEDO, Ana Gabriela. Pós-Feminismo, Revista de Estudos Feministas, 14(3), Florianópolis, set.-dez./2006, pp.813-817.
- MACEDO, Ana Gabriela; AMARAL, Ana Luísa. Dicionário da crítica feminista. Porto, Edições Afrontamento, 2005.
- MOHANTY, Chandra Talpade. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham & London, Duke University Press, 2003.
- PINTASILGO, Maria de Lourdes. Pré-prefácio e Prefácio a Novas Cartas Portuguesas. In: Barreno et al. Novas Cartas Portuguesas. Lisboa, Moraes editores, 1980, pp.XXVII-XXIX.
- RICH, Adrienne. Blood, Bread and Poetry: Selected Prose 1979-1985. New York, Norton, 1986.
-
1
A vocação religiosa de Soror Mariana Alcoforado é posta à prova quando conhece o cavaleiro francês Noël Bouton, marquês de Chamilly, que estava em Portugal durante a guerra da Restauração (1640-1668). Entre os dois surge um amor impossível, do qual as Cartas Portuguesas são o seu testemunho. Publicadas pela primeira vez em francês, em 1669, por Gabriel de Guilleragues, as Cartas até hoje são alvo de grande controvérsia no que diz respeito à sua autoria. Tornou-se ponto pacífico a polêmica em torno da existência de Mariana Alcoforado e do Marquês de Chamilly e do fato de ser este o destinatário das suas cartas de amor. Mas a atribuição da autoria dos textos a Mariana e a sua autenticidade ainda são temas postos em discussão.
-
2
Como foi referido na nota anterior, não é intenção deste artigo abordar a polêmica sobre a questão da autoria das Cartas Portuguesas atribuídas à Mariana Alcoforado. Entretanto, cabe salientar que a condição existencial e discursiva da freira de Beja sobressai nas interpretações que questionam as Lettres Portugaises e a figura da sua presumível autora. Enquanto Mariana é vista como um vulto singular contra o pano de fundo da autoria feminina seiscentista, protagonista ou pseudônimo de um grupo de monjas literatas, é justamente esta figura, cuja existência é posta em xeque, que serve de fonte matricial para a composição das Novas Cartas Portuguesas, um livro em que, “[p]ela primeira vez na história do movimento feminista e da sua expressão literária[,] a cumplicidade entre as mulheres foi ao mesmo tempo sujeito e objecto de toda a [sua] trama [...]. Aí reside a sua espantosa originalidade” (Barreno;Horta;Costa, 2010: xxxi). Para uma análise mais extensa sobre a polêmica envolvendo a autoria das Cartas Portuguesas, ver Klobucka (2006)KLOBUCKA, Anna. Mariana Alcoforado: formação de um mito cultural. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006. e Dubois (1988)DUBOIS, E. T. A mulher e a paixão. Das «Lettres Portugaises» (1669) às «Novas Cartas Portuguesas» (1972). Revista Colóquio/Letras, n. 102, Lisboa, Mar. 1988, pp.35-43..
-
3
Aqui vale informar que o subtítulo/epígrafe das Novas Cartas Portuguesas é também composto por uma contribuição coletiva de títulos das autoras: Maina Mendes (1969), de Maria Velho da Costa, Ambas as mão sobre o corpo (1970) e Minha Senhora de Mim (1971), de Maria Teresa Horta, e Os outros legítimos superiores (1970), de Maria Isabel Barreno.
-
4
Embora não seja intenção deste artigo descrever as contradições e os dissensos sobre a categoria Patriarcado nos feminismos, cabe ressaltar brevemente como as relações patriarcais tornam-se centrais para a análise comparativa entre as Cartas Portuguesas e as Novas Cartas Portuguesas. Por um lado, Avtar Brah evidencia “as limitações do conceito de patriarcado como dominação masculina não ambígua e invariável, não diferenciada por classe ou racismo”; por outro lado, o uso do termo “patriarcal” refere-se às “relações sociais particulares que combinam uma dimensão pública de poder, exploração ou status com uma dimensão de servilismo pessoal”. Colocando em confronto os conceitos “patriarcal” e “patriarcado” no estudo das interconexões entre gênero, classe e racismo, a autora explica que “[r]elações patriarcais são uma forma específica de relação de gênero em que as mulheres estão numa posição subordinada”. Contudo, “[s]eria muito mais útil compreender como relações patriarcais se articulam com outras formas de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’ porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela” (Brah, 2006:350). Para uma análise mais extensa sobre a crítica à categoria Patriarcado, ver Brah (2006)BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. cadernos pagu (26), Campinas, SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.329-376. e Mohanty (2003)MOHANTY, Chandra Talpade. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham & London, Duke University Press, 2003..
-
5
Mesmo antes da invenção da palavra feminicídio, atribuída a Diana Russell, que a teria utilizado pela primeira vez em 1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas (ver também o livro Femicide: the politics of woman killing, de Diana Russel e Jill Radford), as Novas Cartas Portuguesas já nos lembravam de que esta prática não vem de hoje. Atente-se para esta longa citação do capítulo “Primeira Carta VI”: [...] Para nós os trazermos nesta espécie de crime, de violação das leis: mas não só hoje, recordamos Mariana então violando leis, embora nascesse em tempos de dissolução e Espanha de Filipes, Portugal castrado da sua virilidade: independência e rei de casta, nosso sangue, que escalar conventos era aventura de pouca monta, quando não reconhecido, visto, vingado por família. Hoje nos eis de outros crimes postas. Crimes também de paixão-honra vingados por nossos maridos, pela lei, se provado for que pecamos em adultério. Nossa vida, pois, em mãos deles dadas e prestes sempre a incorrermos em faltas que se julguem de morte permitidas. Qual a diferença do tempo de Mariana?: “Teve o crime passional, tipicamente meridional e muito espanhol, o seu apogeu e glorificação literária naqueles reinados que estudamos agora. O matar a mulher amada por infidelidade efectiva ou suposta, rara vez genuína, era vingança e quase sempre monstruosa manifestação de desejo. Muitas vezes o pretexto para matar seria notòriamente inventado e o crime tinha algo de bárbaro, êxtase supremo. A morte de mulheres pelos seus amantes, acontecia então com efeito, todos os dias”... (Barreno; Horta; Costa, 1974:133).
-
6
No início da década de 1970, Portugal vivia o cenário das guerras coloniais (1961-1974), do fim do período salazarista e da substituição por um novo regime ditatorial, que só terminaria com a Revolução dos Cravos em 1974. Instaurado após o golpe militar de 1926 por António de Oliveira Salazar, o regime ditatorial passou a ser dirigido, a partir de 1968, por Marcello Caetano, que deu continuidade à política colonialista e opressiva de seu antecessor. Como consequência dessas práticas, o país investiu boa parte do orçamento na manutenção dos esforços de guerra, ocasionando crise e decadência também no cenário econômico. O descontentamento da sociedade portuguesa, as deserções e emigrações motivaram o surgimento de um movimento revolucionário contra a ditadura, que resultou, em abril de 1974, na deposição de Marcello Caetano e no fim de uma política ditatorial que durou quase meio século. Nesse contexto de crises e conflitos, as variadas produções artísticas tenderam para o questionamento de valores sociais, sobretudo aqueles pautados por moldes e relações patriarcais.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Dez 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
26 Jun 2019 -
Aceito
05 Maio 2021