Resumo
Este artigo apresenta elementos etnográficos sobre a migração transnacional de comunidades chilotas em territórios de Fuego-Patagônia entre 1880-1980. Enfatiza a representação da música, a culinária e a religiosidade popular de Chiloé como uma categoria de análise para compreender as experiências da migração relacionadas com a incorporação de tradições, circulação de mercadorias, formação de comunidades, centros culturais, espaços de ócio e ligas deportivas, elementos que expressam as identidades chilotas em lugares de residencia migrante. Os laços afetivos e identitários representados além das fronteras, correspondem a uma sequência de emoções, interações e relações, movediças entre lugares de origem e destino, de tal forma que a recriação dos espaços permitiu a construção imaginária de cenários relacionados com tradições que manifiestam a noção de residência e a conservação simbólica da “terra natal”. Esta investigação utilizou a Etnografia Multisituada como estratégia metodológica para desenvolver diferentes etapas do trabalho de campo entre novembro de 2015 e setembro de 2018. Tomou como base o conceito de campos sociais transnacionais para refletir sobre as migrações e circulação de significados culturais nos territórios mencionados. As conclusões fazem referência a diferentes formas de conceber o território como um espaço dinâmico de significados culturais visibilizados como parte da memória histórica no sul austral. De maneira que Fuego-Patagônia pode ser compreendido como um território no deslocado e também um espaço geográfico multinexo de relações socias e continuidades culturais.
Palavras-chave:
Migração transnacionais; Conexões culturais; Música; Gastronomia; Religiosidade
Abstract
This article presents ethnographic aspects of the transnational migration of chilotas communities in the Fuego-Patagonia territories between 1880-1980. It emphasizes the representation of music, gastronomy and the popular religiosity of Chiloé as a category of analysis for understanding the experiences of migration related to the incorporation of traditions, circulation of goods, formation of communities, cultural centers, places of leisure and sports leagues, all of which are elements that express chilotas identities in places of migrant residence. The affective and identity bonds represented beyond borders correspond to a sequence of emotions, interactions and shifting relationships between places of origin and destination, in such a way that the re-creation of spaces enabled the imaginary construction of sceneries related to traditions that manifest the notion of the home and the symbolic conservation of the "homeland". This research used Multisite Ethnography as a methodological strategy to develop different stages of field work between November 2015 and September 2018. It took as its starting point the concept of ‘transnational social fields’ to reflect migrations and circulation of cultural meanings in the mentioned territories. The conclusions concern different ways of conceiving the territory as a dynamic space of cultural meanings visualized as part of the historical memory in the far south. Thus, Fuego-Patagonia can be understood as a territory forged in movement and as a multi-nodal geographical space of social relations and cultural continuities.
Key words:
Transnational migration; Cultural conections; Music; Gastronomy; Religiosity
Resumen
Este artículo presenta elementos etnográficos sobre la migración transnacional de comunidades chilotas en territórios de Fuego-Patagonia entre 1880-1980. Enfatiza en la representación de la música, la gastronomía y la religiosidad popular de Chiloé como una categoria de análisis para comprender las experiencias de la migración relacionadas con la incorporación de tradiciones, circulación de mercancias, formación de comunidades, centros culturales, espacios de ócio y ligas deportivas, elementos que expresan las identidades chilotas en lugares de residencia migrante. Los lazos afectivos e identitarios representados más allá de las fronteras corresponden a una secuencia de emociones, interaciones y relaciones movedizas entre lugares de origen y destino, de tal forma que la recreación de los espacios permitió la construcción imaginaria de escenarios relacionados con tradiciones que manifiestan la noción del hogar y la conservación simbólica del “terruño”. Esta investigación utilizó la Etnografía Multisituada como estratégia metodológica para desarrollar diferentes etapas de trabajo de campo entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018. Tomó como base el concepto de campos sociales transnacionales para reflexionar las migraciones y circulación de significados culturales en los territórios mencionados. Las conclusiones hacen referencia a diferentes formas de concebir el território en tanto espacio dinámico de significados culturales visibilizados como parte de la memoria histórica en el sur austral. De manera que Fuego-Patagonia puede comprenderse como un território no dislocado, sino como un espacio geográfico multinexo de relaciones sociales y continuidades culturales.
Palabras clave:
Migración transnacional; Conexiones culturales; Música; Gastronomia; Religiosidad
Introdução
Llegué a Punta Arenas cuando era cabrito [joven], me fui de alambrador en el campo, la pega [trabajo] era dura pero el hecho de pensar en mi familia se me pasaba el dolor. Así estuve cinco meses sin parar, después me acostumbré. Siempre estuvo fija la idea de regresar a Chiloé con las lucas [dinero] que había ganado y comprar hartos quintales de harina, zapatos para mis hermanos y un campo. Después pensé traerlos a todos. Desde 1980 vivieron conmigo acá en Punta Arenas, mi madre a los dos años falleció, seguro fue por pena, extrañaba Chiloé. Paso el tiempo y eche de menos mi tierra, acá puede haber trabajo, dinero, lo que sea, pero no es lo mismo. Primero te sientes bien pero después ya no, por ejemplo si tú querí [sic] mariscos no puedes ir a mariscar, si querí [sic] pescado no puedes ir a pescar. En Chiloé si se puede todo eso, o crear un chancho o una gallina, acá no poh [sic]. Yo pienso que los que se trajeron a sus padres y se murieron fue por pena.
As narrativas de Arturo Hueicha, chilote originário de Achao e residente em Punta Arenas desvendam algumas chaves etnográficas para compreender as subjetividades e as intersubjetividades da migração transnacional. Desde o final do século XIX até a década de 1980, comunidades chilotas se deslocaram para territórios austrais do Chile e da Argentina, particularmente em direção às cidades de Punta Arenas, Porvenir, Rio Grande e Rio Gallegos. Os migrantes que reconhecemos como “viajeros golondrina” (Montiel 2010MONTIEL, Felipe. 2010. Chiloé. Historias de viajeros. Castro: Municipalidad de Castro.) eram homens que se aventuravam em busca de oportunidades em diferentes setores de trabalho em Fuego-Patagônia, como a extração de ouro, a indústria de lã, os frigoríficos, o petróleo e a mineração (Braun 2006BRAUN, Armando. 2006. Pequeña historia fueguina. Punta Arenas: Comercial Ateli y Cía Ltda-Southern Patagonia.; Coronato 2017CORONATO, Fernando. 2017. Ovejas y ovejeros en la Patagonia. Buenos Aires: Prometeo Libros. ; Martinic 2003MARTINIC, Mateo. 2003. “La minería aurífera en la región austral americana (1869-1950)”. Historia, 36:219-254. ). Esses migrantes eram assim conhecidos por causa das características da andorinha (Hirundus rusticos), ave migratória em sua constante mudança de habitat por temporadas.
Neste contexto, os migrantes foram atraídos para os referidos territórios pelo auge do trabalho, possibilitando um tipo de deslocamento intermitente em que os viajantes se converteram em migrantes de temporada entre os meses de dezembro e março, e o posterior retorno ao arquipélago em meados do mês de abril. As viagens realizadas pelos chilotes até o sul austral eram feitas por terra ou em navios, e traçadas em duas rotas itinerantes: rota larga e rota curta. A primeira consistia nas viagens a bordo de navios que cruzavam o Golfo de Penas rumo à Punta Arenas, Chile, e em muitos casos continuavam até o Estreito de Magallanes em direção à cidade de Porvenir, ou cruzavam a fronteira dirigindo-se a lugares como Rio Gallegos ou Rio Grande, Argentina. A segunda rota implicava uma série de viagens terrestres, incluindo navegação, até o porto de Aysén, Chile, atravessando para a zona de Chubut, Argentina, e continuavam até Santa Cruz, onde se localizavam estâncias e frigoríficos com maior concentração de trabalho (Saldívar 2017aSALDÍVAR, Juan. 2017a. “Chilote tenía que ser, vida migrante transnacional en territorios patagónicos de Chile y Argentina”. CUHSO, 27 (2):175-200. ).
Itinerários de viagem traçados em rotas que eram executadas pelos chilotes para lugares austrais
O arquipélago de Chiloé faz parte da X Região Los Lagos, encontrando-se localizado no sul do Chile, entre os paralelos 41º e 43º, com uma superfície de 9181 km². No último censo, contava com uma população de 167.659 habitantes (Instituto Nacional de Estadística de Chile 2012INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CHILE. 2012. “Resultados preliminares Censo de Población y Vivienda”. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas. Disponível em: https://www.ine.cl/.
https://www.ine.cl/...
) e está dividido em dez municípios: Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Castro, Chonchi, Queilen, Puqueldón, Quinchao e Quellón. As principais ocupações são a agricultura (cultivo de batata) e a pesca artesanal, estratégias econômicas de subsistência local desde a década de 60 até a atualidade (Ther Ríos 2011THER RÍOS, Francisco. 2011. “Configuraciones del Tiempo en el Mar Interior de Chiloé y su relación con la apropiación de los Territorios Marítimos”. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 23:67-80.). Depois dos anos 80, empresas de salmão se estabeleceram no arquipélago e o seu cultivo foi crescendo no litoral do mar interior de Chiloé (Saavedra Gallo 2015SAAVEDRA GALLO, Gonzalo. 2015. “Los futuros imaginados de la pesca artesanal y la expansión de la salmonicultura en el sur austral de Chile”. Chungara Revista de Antropología Chilena, 47 (3):521-538.). O abandono da migração chilota para a Fuego-Patagônia argentina se encontra vinculado à chegada de empresas salmoneiras no arquipélago em princípios da década de 80. As tradições histórico-culturais do arquipélago se encontram relacionadas com mitologias indígenas mapuche-hulliche (Pandolfi 2016PANDOLFI, Luca. 2016. Caleuche, Mitología de una Incomprensión. Gente Transformada, Gente que se Transforma, Representaciones Identitarias de los Williche de Chile. Quito: Abya-Yala.), ao passo que as tradições religiosas são importantes canais de socialização entre habitantes locais e o continente, fundamentalmente de caráter judaico-cristão, entre elas o Nazareno de Caguach como referente simbólico ampliado no sul austral de Fuego-Patagônia.
Os lugares etnografados foram os dez municípios do arquipélago de Chiloé, continuando nas cidades austrais de Punta Arenas e Porvenir (Chile), Rio Grande, Rio Gallegos e Ushuaia (Argentina), entre dezembro 2015 e setembro de 2018. O trabalho de campo foi realizado a partir da etnografia da viagem. Esta estratégia multissituada (Marcus 2001MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22):111-127.) nos permitiu observar tradições musicais, práticas comunitárias (sacrifício de porcos e coleta de mariscos), preparação da gastronomia e festas religiosas (Nazareno de Caguach) em Chiloé. Seguindo a viagem, participamos do trabalho com comunidades de pescadores artesanais pelo mar interior, em direção às ilhas de Desertores, Cailín e Caguach, onde conversamos com migrantes retornados de territórios austrais. Em outro momento, viajamos a bordo do navio Micalvi da armada chilena, o que nos permitiu localizar outros migrantes retornados que viviam no sul do arquipélago.
Também foram feitas viagens terrestres em lugares de Fuego-Patagônia, como as periferias de Punta Arenas, onde localizamos a comunidade 18 de Setembro, um bairro de chilotes, similar aos bairros Evita e Belgrano em Rio Gallegos. Ademais, cruzamos o Estreito de Magallanes em direção à ilha grande de Tierra de Fuego, onde observamos práticas artesanais de extração de ouro e corte de lã em estâncias de Porvenir, Rio Grande e Ushuaia. A coleta de informação consistiu na revisão de arquivos históricos,1 1 A revisão se desenvolveu na Biblioteca Pública de Castro, Biblioteca Pública de Chonchi (Chiloé), Museu Provincial de Tierra del Fuego em Porvenir, Arquivo Nacional Histórico em Santiago e Arquivo Histórico da Cidade de Buenos Aires. cartografias,2 2 Desenhadas em mapas de localização migrante com dados previamente extraídos mediante estratégias participativas entre comunidades locais. entrevistas em profundidade,3 3 Desenvolvidas mediante o uso de um gravador de voz onde a informação foi classificada em 120 áudios. biografias,4 4 Segundas intervenções entre informantes que decidiram participar em mais de uma ocasião, logrando-se 10 áudios de narrativas. análise visual5 5 Informação mediante coleções individuais de álbuns familiares. e etnografia virtual.6 6 Consistiu em seguir pessoas através da tela de um computador, em páginas web e zonas chat com grupos de migrantes (segunda geração) conectados de maneira simultânea.
Migrações golondrinas em Fuego-Patagônia
Os deslocamentos dos chilotes para os territórios austrais ocorreram depois das migrações de colonos europeus que povoaram regiões do país entre os séculos XIX-XX,7 7 Proposta de Deleuze e Guattari (1994) que faz referência a práticas que podem ir se alinhando de acordo com a desterritorialização e seus processos de territorialização. Ong e Collier (2005) retomam a proposta no sentido de pensar as configurações de sistemas globais como interseções e intercâmbios dinâmicos. incentivadas pelo projeto de colonização inspirado na Lei de Imigração Seletiva de 1845, que indicava a modernização através do progresso econômico e do povoamento de territórios. De acordo com o já colocado, consideramos uma classificação de quatro etapas migratórias na migração chilota.
A primeira se desenvolveu entre 1884 e 1909, com a febre do ouro em lugares como Rio Grande e Porvenir, impulsionada pelo romeno Julio Popper e seus trabalhadores iugoslavos e alguns chilotes, os quais exploraram os territórios da ilha de Tierra de Fuego, extraindo grandes quantidades de ouro e comercializando na Argentina e na Europa (Canclini 1993CANCLINI, Armando. 1993. Julio Popper. Quijote del oro fueguino. Buenos Aires: EMECÉ Editores, S.A..; Guevara 2016GUEVARA, David. 2016. Julio Popper. El alquimista de El Páramo. Tierra del Fuego, Argentina 1885-1893: Desde su Rumania natal al destino áureo in aeternum de su vida y obra. Río Grande: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Nacional. ; Vairo & Gatti 2000VAIRO, Carlos & GATTI, Francis. 2000. ¡Oro en Tierra del Fuego! La carrera del oro en el extremo del mundo. Ushuaia: Zagier & Urruty Publications.). Depois de 1910, a exploração de ouro continuou entre grupos de pirquineros (garimpeiros) chilotes que fundaram companhias auríferas e realizavam os trabalhos durante os meses de novembro a março. Em algumas ocasiões alargavam as temporadas de inverno e enfrentavam as baixas temperaturas do cordão Baquedano.8 8 Sierra Boquerón nas imediações da cidade de Porvenir, Chile. Segundo Héctor Almonacid, pirquinero chilote em Porvenir, a extração de ouro “se comenzó a explotar de 1930 en adelante hasta 1950, porque había una cantidad enorme de mineros chilotes”. A prática aurífera implicava largas temporadas de assentamentos provisórios nos lugares onde se extraía o minério, até a eventual construção de acampamentos conhecidos como ranchos de charpa. Também assegura Eugenio Giglio que “la migración chilota y croata [iugoslava] es casi paralela, llegaron incentivados por la fiebre del oro y, después se establecen, los croatas tuvieron estancias y los chilotes trabajaban en ellas como peones”.
A segunda etapa se iniciou com maior intensidade depois da década de 1920, motivada pelo apogeu da indústria de lã em cidades como Rio Gallegos e Rio Grande, para onde os chilotes se deslocavam em grupos para cobrir a temporada de corte nas estâncias austrais (Alonso 2014ALONSO, José. 2014. Menéndez rey de la Patagonia. Santiago: Catalonia.; Bou et al. 1995BOU, María Luisa, REPETO, Elida, DE BONIFETTI, Emilia, SUTHERLAND, Sarita, ALLEN, Anibal & STANIC, Dominga. 1995. A hacha, cuña y golpe. Recuerdos de pobladores de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Buenos Aires: Talleres Gráficos Recalli S.A. ; Martinic 1982MARTINIC, Mateo. 1982. La tierra de los fuegos. Punta Arenas: Artegraf Ltda.). Nessa mesma década, foi deflagrada a Greve de 21, concebida como um dos conflitos mais importantes na história da Patagônia, onde foram massacrados aproximadamente 500 trabalhadores rurais que pretendiam denunciar a exploração obreira chilena nas mãos de seus patrões argentinos (Bayer 1993BAYER, Osvaldo. 1993. La Patagonia rebelde. Buenos Aires: Grupo Editorial Zeta.; Borrero 2011BORRERO, José. 2011. La Patagonia trágica. Buenos Aires: Ediciones Peña Lillo Continente.). Apesar desse episódio, as vicissitudes provocadas pelos resultados da greve não frearam a migração massiva para a Patagônia. Segundo o historiador chilote Felipe Montiel, “el viajar se hizo una constante, fueron años de muchísima migración para trabajar la temporada de esquila en muchas estancias y también frigoríficos”. Dessa forma, Luis Gallardo, migrante retornado, concorda com Felipe Montiel afirmando que “la tradición migratoria hacia el sur era muy fuerte porque en Chiloé no había trabajo y nos teníamos que ir a Patagonia”. Mais uma vez, Felipe Montiel menciona que os migrantes
Se iban en comparsas, se juntaban varias personas de diferentes lugares y se ponían de acuerdo para formar los grupos de esquila [estes grupos ou comparsas eram integrados por] velloneros, gente que se dedicaba a sacar el vellón de la oveja, esquiladores, quienes pelaban las ovejas, prenseros, los que juntaban la lana, cocineros y otros [a maioria dos integrantes] eran parientes, amigos o familia directa, trabajaban la temporada, empezaban en diciembre y terminaban en enero o marzo.
A terceira etapa dá ênfase à migração dos chilotes que cumpriam o Serviço Militar, em que a maioria dos recrutas, jovens de 18 anos, foram conduzidos para quartéis de Punta Arenas depois da década de 1930. Nessa etapa, é importante destacar a brecha migratória que representava o cumprimento de seus deveres militares, uma vez que, ao terminarem as responsabilidades com o Serviço Militar, não mais regressavam a Chiloé e optavam por permanecer em Punta Arenas, incorporando-se a diferentes setores de trabalho. Desta maneira, Renato Andrade reconhece que sua chegada a Porvenir foi como “participante de la última promoción de chilotes para hacer el Servicio Militar en el regimiento blindado de Punta Arenas”. Seguiu afirmando que “uno de los efectos en la migración desde Chiloé fue producto del Servicio Militar, cada año viajaban entre 50 y 70 chilotes para los cuarteles de Punta Arenas y la mayoría no regresaba a la isla”. As constantes migrações foram cruciais para o posterior povoamento de cidades como Porvenir9 9 Segundo notas de campo, esses migrantes eram procedentes de áreas rurais de Achao, Chonchi e Queilen. e Bahía Chilota10 10 Segundo registros de campo, a maioria de seus habitantes é originária de Tenaún, Chiloé. e, como afirmava Eugenio Giglio, “además de los conscriptos, venían los que tenían parientes y también los temporeros que hacían las faenas de esquila, después una gran cantidad de familias chilotas se vinieron a Magallanes y potenciaron la migración hacia Tierra del Fuego”.
A quarta etapa considera as décadas de 1950 a 1980, nas quais as migrações ocorreram com maior intensidade em função de uma série de acontecimentos decorridos no arquipélago de Chiloé. O primeiro período correspondeu a uma baixa produção nos campos agrícolas provocada pela praga do “tizón” (Phytophthora infestans). Neste sentido, Tania Márquez menciona que “en los años 50, [se] echo a perder todo en la siembra de papa, la gente abandonaba los campos, dejaba las casas, se fueron todos a Patagonia”. A partir deste fato, aqueles que não haviam experimentado a migração o fizeram como parte de seus itinerários de trabalho, buscando solucionar economias de subsistência. Na década de 1960, o processo migratório foi marcado pelo terremoto que devastou Chiloé, desastre que provocou a “emigración de familias chilotas, campesinos pobres, hacia Patagonia […] Eran familias completas embarcándose en Castro para en la Argentina o Magallanes buscar mejores condiciones de vida” (Mancilla & Mardones 2010MANCILLA, Luis & MARDONES, Luis. 2010. El terremoto de 1960 en Castro. Temuco: Ediciones La Tijera. :177).
Em meados da década de 1970 aconteceu o Golpe de Estado, ocasionando também a mobilidade de comunidades chilotas para a Argentina. Neste diapasão, María Sepúlveda reconhece que “fue una etapa difícil para todos, muchas familias chilotas salimos buscando mejores condiciones de vida, no queríamos vivir en dictadura y Patagonia nos protegió”. No início da década de 1980, a chegada de empresas de cultivo de salmão a Chiloé “disminuyó la migración [para a Argentina] debido a las fuentes de trabajo que ofrecieron en toda la isla”. Este fato acabou consideravelmente com a tradição migratória para lugares de Fuego-Patagônia,11 11 Viver em Fuego-Patagônia implica uma série de categorias históricas, culturais e sociais. Estas podem ser entendidas através das tradições de trabalho que motivaram os chilotes a se aventurarem em lugares austrais, ocupar territórios e formar populações. Neste sentido, faz-se imprescindível imaginar Chiloé e Fuego-Patagônia como um território interatuado dotado de conhecimentos, práticas e saberes em movimento. além do que em Chiloé se iniciava a febre dos recursos marinhos, como o “loco” (Concholepas Concholepas), o ouriço (Echinoidea) e a merluza (Merluccius Merluccius).
Os deslocamentos iniciados pelos viajantes compreendiam dois trajetos que eram traçados em rotas conduzindo-os aos territórios fuego-patagônicos. A primeira era a rota curta, que consistia em deslocamentos terrestres em que se aventuravam de maneira individual ou coletiva em caminhadas, a cavalo ou em ônibus. Às vezes abriam caminhos de terra para encurtar o trajeto. O ponto de partida das viagens era a ilha de Chiloé em direção ao continente. Regularmente passavam pelas comunas de Chaitén e Futalefú até Coyhaique, onde cruzavam a fronteira em direção a Chubut e a seu posterior destino, Santa Cruz, Argentina. Cabe ressaltar que nos territórios austrais havia diferentes rotas migratórias, mas as que nos interessam são aquelas traçadas pelos migrantes em seus deslocamentos em direção a Santa Cruz, Argentina. Alguns desses migrantes decidiam residir em lugares fronteiriços de Chubut e Aysén. Em alguns casos, as trajetórias foram inspiradas pelo auge do trabalho e aqueles que decidiam fazer a viagem por determinada rota pretendiam vincular-se aos setores mineiros, em Rio Turbio, ou petroleiro, em Comodoro Rivadavia, antes de “fazer temporada” nas estâncias de Santa Cruz e Tierra del Fuego.
A segunda correspondia a uma rota larga, com deslocamentos em navios que partiam dos portos de Castro, Chonchi, Curaco de Vélez ou Achao para aventurar-se na navegação de três ou quatro dias com destino a Punta Arenas, cruzando o Golfo de Penas, onde, inclusive, podiam atrasar a viagem devido às numerosas tempestades que se formavam e impediam a navegação. As “líneas de vapores [eram identificadas com os nomes de] “Trinidad”, “Alondra”, “Taitao” e “Atlas” […] la navegación marítima constituía el principal medio de comunicación y transporte con el continente” (Montiel 2010MONTIEL, Felipe. 2010. Chiloé. Historias de viajeros. Castro: Municipalidad de Castro.:23). Além dos navios antes mencionados, existiam outros, como o Valparaíso, o Villarica, o Arica e o Navarino, alguns destes eram cargueiros e transportavam mercadorias desde o porto de Talcahuano até Punta Arenas.
Neste sentido, Luis Gallardo, migrante retornado, recorda que “el viaje en barco, era tremendamente difícil, en aquel entonces el Navarino demoraba muchas horas en pasar el Golfo de Penas y uno se mareaba porque íbamos en bodegas uno al lado del otro”. Estes navios tinham seus itinerários, “pasaban por los puertecillos si había carga o pasajeros; si no, seguían de largo. Tampoco eran puntuales. Había horas de espera […] los chilotes no reclamaban por nada. Para ellos, el bamboleo era normal y las incomodidades también” (Urbina 2002URBINA, Rodolfo. 2002. La vida en Chiloé en tiempos del fogón 1900-1940. Valparaíso: Universidad Playa Ancha Editorial.:353). Cabe frisar que esta rota era adequada para quem havia fixado seu projeto migratório em lugares como Punta Arenas, Porvenir e por seu posterior interesse em cruzar a fronteira para cidades argentinas como Rio Gallegos, Rio Grande e Ushuaia.
Uma das experiências vividas entre os viajantes era a iniciação na idade adulta. Tal experiência era condicionada pela tradição migratória, como um rito de passagem que os homens, jovens chilotes entre os 14 e 18 anos de idade, eram iniciados quando se submetiam a largas temporadas fora de seus lares em busca de trabalhos. Considerando esta tradição migratória, era o mesmo projeto vivenciado por seus pais ou avós. A idade adulta para os migrantes chilotes começava depois da primeira viagem, quando se convertiam em migrantes temporários. A classificação de ritos de passagem entre jovens chilotes se baseava em dois aspectos fundamentais: 1. trajetórias em grupo, para aqueles que viajavam acompanhados de pai, avô ou algum familiar, e 2. trajetórias individuais, para aqueles que se aventuravam nas travessias sem a companhia de familiares.
Estas categorias condicionavam outros jovens a iniciar o projeto migratório, da mesma forma que moldavam as condutas em seus retornos ao arquipélago. Por exemplo, aqueles que demonstravam haver logrado os objetivos teriam maiores possibilidades de seguir viajando e, portanto, de se legitimarem como trabalhadores temporários. A motivação dos migrantes era reunir o máximo de dinheiro acumulado de seus salários durante sua temporada de trabalho, o qual era destinado, em seu retorno, à compra de terrenos, à construção de ranchos ou ao investimento em gado. Aqueles que ainda jovens conseguiam reunir suficiente capital tinham maiores possibilidades de organizar grupos e obter ganhos econômicos. O status logrado por temporadas acumuladas também era um fator que proporcionava posição social e reconhecimento como homens de experiência.
Conexões culturais
De acordo com os antecedentes migratórios já discutidos, é relevante classificar as conexões culturais que foram construídas pelos migrantes chilotes em diferentes lugares de Fuego-Patagônia. Em um primeiro momento, entre os anos de 1880 e 1950, incorporaram-se elementos culturais de origem argentina em Chiloé, como os gêneros musicais de chamamé, chacarera, tonada e copla, melodias como “el gato” e versos do gaúcho Martín Fierro, além de instrumentos como o acordeon. A partir da circulação da música argentina, os gêneros musicais chilenos como a cueca, a valsa e a paya se combinaram, o que foi um fator determinante para a incorporação do acordeon aos ritmos regionais do arquipélago. Da mesma forma, a circulação de mercadorias como a erva mate, as primeiras rádios, telas para confeccionar roupas, calçados para uso exclusivo da agricultura, ferramentas para a construção de casas e ranchos, entre outros, também foram determinantes para uma primeira conexão entre ambos os territórios.
Isto permitiu a visibilização de identidades procedentes do sul austral materializadas nas formas de vestir e falar o gauchesco. Felipe Montiel assegurava que “los viejos que venían de la Argentina, fueron incorporando la bombacha, la boina, la bota encarrujada, el pañuelo al cuello, estos eran los viejos que venían de la zona gaucha”. Também foram incorporados conhecimentos no âmbito rural, onde Armando Bahamonde reconhece que “muchos galpones o ranchos en Chiloé están construidos a la usanza argentina”. O jogo de baralho conhecido como “el truco” foi um dos elementos culturais mais populares e propiciou as relações sociais quando se iniciavam as viagens pela rota larga. Este era “el pasatiempo en los [viagens] a bordo de vapores grandes que iban a Magallanes en esa otra suerte de […] emigrantes y temporeros” (Urbina 2002URBINA, Rodolfo. 2002. La vida en Chiloé en tiempos del fogón 1900-1940. Valparaíso: Universidad Playa Ancha Editorial.:358).
Num segundo momento, entre 1950 e 1980, com a intensificação da migração e a posterior formação de comunidades chilotas em territórios argentinos, incorporaram-se elementos culturais como os gêneros musicais de cueca, canções como o “chilote marino” e “Chiloé mi tierra”. Estas melodias eram acompanhadas com acordeon que os trabalhadores levavam, como recordava Hugo Antipani, com o objetivo de “aplazar la nostalgia en aquellos lugares y recordarse de su tierra”. Além da música, assegura Víctor Téllez, as cerimônias de morte foram adaptadas na Argentina e representadas na maneira de “velar los muertos en casas particulares, tal como se hacián en Chiloé, pagar a un resandero para que haga rezos fúnebres y llevar al difunto en procesión hasta el panteón”. Certamente, este tipo de manifestação causou o enraizamento de tradições religiosas como a veneração do Nazareno de Caguach, consideravelmente adorado em ambos os lados de Fuego-Patagônia, lugares onde se legitimou e se institucionalizou a tradição. Atualmente, os territórios austrais de Chile e Argentina gozam de certas conexões culturais desenvolvidas pelas comunidades de migrantes que reconstruíram a noção de terra natal e reafirmaram as identidades a partir de manifestações culturais, religiosas, a circulação de mercadorias, gastronomias, associações e clubes.
Música e identidade
Os antecedentes da música em Chiloé se relacionam com diferentes temporalidades e continuidades históricas em que se registram os ritmos fueguinos (tehuelche) e indígenas (huilliche), pré-hispânicos (pré-cordilheiranos), europeus (valsas, polcas, pasacalles), africanos (cueca, zamacueca) e contemporâneos (chacarera, chamamé) (Dannemann 1975DANNEMANN, Manuel. 1975. “Teoría folklórica. Planteamientos críticos y proposiciones básicas”. In: CONAC (Editor), Teorías del folklore en América Latina. Caracas: Instituto Iberoamericano de Etnología y Folklore-Biblioteca INIDEF. ). Estes ritmos acompanharam as tradições culturais chilotas nas datas comemorativas e nas celebrações das Festas Pátrias de 18 de setembro. Depois dos anos 30, a incorparação de gêneros como o chamamé e a chacarera argentina substituiu ritmos populares como as polcas e as mazurcas. Manuel Dannemann, musicólogo chileno, menciona que “la manifestación del folklor musical aparece [em Patagônia] con motivos de las fiestas celebradas al término de la faena de esquila [sendo] la cueca y el valse […] las milongas y el baile del malambo [ritmos que] muestran el considerable influjo folklórico argentino” (1975:286). De acordo com o exposto, Héctor Leiva, músico chilote, reconhece que “todos estos ritmos son residuos de la contradanza, hay elementos que repiten, uno ve bailar el gato en Argentina y lo ve aquí [Chiloé] y son similares”. Estes gêneros musicais foram reconhecidos em Chiloé como “rancheras argentinas” (similar à música sertaneja de raiz) e legitimados com maior ênfase pela procedência de áreas rurais onde se destacavam códigos culturais semelhantes ao arquipélago.
Neste sentido, Hugo Antipani, músico huilliche, menciona que, “a partir de los años 40’s en adelante, se incorporaron valses lentos tipo rancheras argentinas que llegaron con los migrantes que fueron a Patagonia [os quais também] trajeron la acordeón insertándola en el folklor chilote”. Cabe destacar que a influência do acordeon na massificação das rancheras argentinas em Chiloé e sua adaptação no arquipélago, recorda Sergio Colivoro, consistiu na incorporação “a la vida del migrante, en sus ratos libres tocaba acordeón, era una manera de escuchar música”. O instrumento foi legitimado entre as comunidades de migrantes e, depois, reconhece Héctor Leiva, “por las primeras agrupaciones folklóricas que ven el acordeón como un instrumento propio de Chiloé”. Dessa forma, identificamos no acordeón um instrumento-chave para a incorporação de ritmos argentinos, como, por exemplo, a valsa dos “chacareros”, o “gato” e outros (Saldívar 2018SALDÍVAR, Juan. 2018. “Vida patagónica, movilidad y circulación transnacional del acordeón en Chiloé, Chile”. LÍDER, 31:9-35.a). Sergio Colivoro afirma que o instrumento conseguiu não só se vincular à vida do migrante e suas famílias, como também transformar “tradiciones musicales ya establecidas, como el foxtrot, el paso doble, la cueca [contrapondo-se ritmicamente a] la guitarra y el violín [que], por su menor resonancia, fueron sustituidos, desapareciendo ritmos como la pericona”.
A apropriação de elementos musicais no arquipélago foi importante mediador na construção de uma comunidade transnacional em Fuego-Patagônia devido à massificação de identidades expressadas mediante composições de melodias que faziam referência a seus lugares de origem. Algumas canções foram criadas pelos migrantes durante as viagens a bordo de navios que os transportavam a Magallanes, para depois serem interpretadas em seus lugares de trabalho e recordadas em seus retornos à ilha. Na música de Ramón Yáñez, a canção “Somos de Chonchi” mostra os sentidos de pertencer a comunidades de viajantes durante suas trajetórias para Fuego-Patagônia.
En el vapor que viaja de Castro a Punta arenas, se van a la faena pa’ allá para Argentina, van los chonchinos, los quelloninos y los cailinos con los achainos. Un marinero pregunta de dónde son, y los de Chonchi responden con glamour, no somos de Tenac, somos de Chonchi, vamos pa’ la Argentina, somos de Chonchi, llevamos licor de oro, somos de Chonchi [coro] somos de Chonchi. La ruta que nos guía impronta a los canales para llegar contentos con rumbo a Magallanes, los quenacanos, ancuditanos y los caguachanos, cruzando Golfo de Penas comienzan a gritar y entonces los chonchinos se ponen a cantar.
Esta estrofe mostra as identidades culturais chilotas e também faz referência às redes migratórias que eram construídas entre grupos e famílias do mesmo lugar de origem, os quais logravam consolidar laços afetivos com maior facilidade naqueles lugares de residência.
Neste sentido, Hugo Antipani reconhece que “los chilotes que viajaban a la Patagonia componían canciones y se reunían para extrañar y recordarse de la tierra de origen”. Cabe destacar que os chilotes também se apropriaram dos versos do “gaúcho” Martín Fierro, que foram poderosos aliados na construção de uma identidade rural segundo a qual se desenvolviam as estâncias. A popularidade de Martín Fierro consistia na relação que estabelecia com os âmbitos rurais, quando descrevia emoções da nostalgia que caracterizavam os habitantes dos pampas argentinos, sobretudo aqueles que se encontravam em setores de trabalho, como estâncias e frigoríficos. Héctor Leiva compartilha uma estrofe dos versos de Fierro, “aquí me pongo a cantar, a compas de la vihuela, que me devela una pena extraordinaria como el ave solitaria que me canta y consuela [os chilotes que retornavam de Fuego-Patagônia] cantaban [os versos] como sonsonete, en décimas, otros lo recitaban solamente”.
De acordo com esta discussão, a reflexão sobre o lugar de origem é importante para entender processos iniciais entre dois pontos de referência, os quais são concebidos como geradores de identidades na migração transnacional. As relações entre indivíduos e contextos permitem a flutuação de redes através de cenários multissituados (Marcus 2001MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22):111-127.; Falzon 2009FALZON, Mark-Anthony. 2009. Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research. Famham/Burlington: Ashgate Publishing Limited. ). A música, então, possibilita mostrar paisagens identitárias, laços afetivos e emoções provocadas pela distância de seus lugares de origen, expressados em espaços de residência migrante. Neste sentido, é relevante situar a nostalgia como elemento estimulante “para entender las formas en que las personas móviles unificam los símbolos y reconstruyen y representan sus culturas, identidades y nuevas realidades sociales en el contexto transnacional” (Hirai 2012HIRAI, Sinjhi. 2012. “‘¡Sigue los símbolos del terruño!’: etnografía multilocal y migración transnacional”. In: ARIZA, Marina. & VELASCO, Laura. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional. Ciudad de México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales/El Colegio de la Frontera Norte, A.C. :33).
A construção transnacional da música chilota em territórios fuego-patagônicos nos conduz a uma reflexão sobre as dinâmicas culturais que transpassam os limites estabelecidos pelo Estado-nação. Neste contexto, é relevante considerar como os significados locais se unem em espaços cada vez mais globais através de processos históricos da cultura popular e suas reconfigurações políticas e econômicas. Steigenga, Palma e Girón (2008STEIGENGA, Timothy; PALMA, Irene & GIRÓN, Carol. 2008. “El transnacionalismo y la movilización colectiva de la comunidad maya en Júpiter, Florida. Ambigüedades en la identidad transnacional y religión vivida”. Migraciones Internacionales [on-line]. 4 (4):37-71. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php
. Acesso em 10/07/2016.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php...
) mencionam que a reconstrução do lugar de origem entre a comunidade de guatemaltecos em Júpiter, Flórida, relaciona-se com as práticas culturais em que se incorporaram ritmos e instrumentos musicais como a “marimba” e grupos folclóricos que enaltecem as tradições étnicas. De igual modo, Íñigo Sánchez (2008SÁNCHEZ, Iñigo. 2008. ¡Esto parece Cuba! Prácticas musicales y cubanía en la diáspora cubana de Barcelona. Tesis de Doctorado en Antropología Social, Barcelona, Universidad de Barcelona. ), estudando migrantes cubanos em Barcelona, descreve os espaços de ócio e a produção da música cubana como canais de conexão na reconstrução da noção da terra natal.
De acordo com Sánchez, a música é um canal de relações simbólicas que legitima os novos lugares de residência, como sucede entre a comunidade de migantes cubanos em Lima, Peru, os quais criaram e transformaram seu habitat, incorporando significados culturais através de redes transnacionais de músicos que chegam de Cuba para animar as festas nas salsotecas de Lima (Saldívar & Anticona 2015SALDÍVAR, Juan & ANTICONA, Juan. 2015. “¡Que viva changó! Música y religiosidad afrocubanas en el Perú en tres décadas (1980-2010)”. Revista de Ciencias Sociales, 149 (3):23-39. ). Alguns gêneros musicais têm sido transportados como siginificados culturais das comunidades locais e em certas ocasiões eles são recontextualizados em seus lugares de residência, como é o caso da capoeira brasileira em Madri e a reprodução de sua música entre coletivos de jovens (Guizardi 2011GUIZARDI, Lube Menara. 2011. “‘Como si fueran hombres’: los arquetipos masculinos y la presencia femenina en los grupos de capoeira de Madrid”. Revista de Antropología Experimental, 11:299-315. ). Os três casos nos fazem pensar nas condições da transnacionalidade (Lins-Ribeiro 1999LINS-RIBEIRO, Gustavo. 1999. “La condición de la transnacionalidad”. Maguaré, 14:74-113. ), compreendendo a continuidade do território naqueles lugares onde seguem desenvolvendo significados culturais, econômicos, ideológicos, sociais e religiosos similares a seus lugares de origem.
Mercadorias culinárias
Um dos períodos de maior migração chilota para os territórios austrais ocorreu entre as décadas de 50 e 60, depois da já mencionada praga do “tizón” da batata, que afetou consideravelmente as plantações no arquipélago. Este marco é um importante canal de conexão com a propagação da cozinha regional chilota, uma vez que provocou os assentamentos definitivos de famílias em lugares de Fuego-Patagônia. Essas migrações potencializaram a formação de comunidades e a organização de atividades culturais, como a celebração de festas pátrias e as tradições de derreter a gordura do porco (tradição de reitimiento), a coleta de mariscos e a matança de cordeiros, bem como as cerimônias religiosas e a forma de velar os mortos com música e comida para as pessoas que vão ao velório.
As transformações dos espaços habitados continuaram em diferentes âmbitos, sobretudo no povoamento de periferias em cidades como Punta Arenas, Chile, onde se concentra o bairro chilote 18 de Setembro, da mesma forma que ocorreu em Rio Gallegos, Argentina, na reconstrução dos bairros Evita e Belgrano. Estes lugares expressam lógicas culturais de residência nas formas de construir casas, igrejas para cultos do santo padroeiro, quadras para a prática de futebol, quitandas, mercados e restaurantes. As quitandas são espaços de comercialização de ingredientes culinários que chegam através de amigos e familiares que visitam Chiloé. Hugo Antipani aponta que “cuando uno viaja a Punta Arenas se lleva harina tostada, ajo chilote, cecina, queso, miel, salmón ahumado”, ingredientes básicos da cozinha chilota para elaboração de gastronomias, como “chochoca, milcao, chapalele, cazuela, curanto, empanadas de manzana”. Os ingredientes culinários chilotes passam por diferentes rotas, alguns são exportados desde cidades chilenas como Punta Arenas para lugares argentinos como Rio Gallegos e Rio Grande. Uma das particularidades é a constante reelaboração dos produtos nos lugares de residência migrante, onde as comunidades buscam completar os ingredientes para a preparação de pratos tradicionais como curantos, milcaos, cordero al palo e outros.
As circulações de significados culinários se relacionam com o que Shinji Hiraí (2012), estudando migração de mexicanos na Califórnia, Estados Unidos, reconhece como mercados da nostalgia. Este autor faz referência a uma série de códigos culturais compartilhados e estendidos por comunidades que manifestam tradições culturais em diferentes âmbitos da vida social migrante. As conexões que geram os mercados são vínculos afetivos entre lugares de origen e residência. Dessa forma possibilitam “encontrar productos [e] recordar sus terruños […] y sentir que están en su ‘casa’” (Hiraí 2012:280). Vejamos a imagem de uma quitanda, Mercado Marisol, na cidade de Rio Grande, Argentina, onde se comercializam produtos gastronômicos de origem chilote, como carne de porco defumada, conservas, farinha tostada, alho chilote, empanadas, milcaos, além de outros produtos.
A vida social dos objetos, como afirma Appadurai (1991APPADURAI, Arjun. 1991. “Las mercancías y la política del valor en la vida social de las cosas”. In: APPADURAI, Arjun (ed.), Perspectiva cultural de las mercancías. Ciudad de México: Grijalbo. ), relaciona-se com as biografias dos sujeitos, os quais lhes dão valor de acordo com suas origens. Os ingredientes elaborados em Chiloé são legitimados como genuínos e sempre obtêm maior valor em relação aos que são preparados em lugares de residência migrante. Entretanto, a circulação de ingredientes tem sido um fator determinante na ressignificação da terra natal para as comunidades de chilotes residentes em Fuego-Patagônia. Nesse sentido, Arturo Hueicha menciona que a fundação de seu restaurante “Donde Hueicha”, localizado no bairro 18 de Setembro, em Punta Arenas, “fue pensando en todos los chilotes que vivimos fuera de nuestros hogares, para mantener vivas nuestras tradiciones, las comidas de nuestro pueblo nos acercan a nuestras raíces”. O mesmo informante assegura que a maioria dos ingredientes que utiliza para a elaboração de comidas é de Chiloé, mas também “pueden conseguirse aquí en Punta Arenas, yo faeno mis chanchos y ahumo la carne, preparo curanto, mi esposa hace conservas, milcaos y empanadas, mis hijos salen a mariscar y a pescar”.
Além do restaurante de Arturo, outros também comercializam gastronomias chilotas, como o Centro de Hijos de Chiloé e El Mercado Chilote. Em Rio Gallegos se encontra o popular restaurante-bar El Canelo, ponto de reunião dos chilotes residentes. Em Rio Grande alguns restaurantes, como o QRU e o Centro Recreativo El Petiso Andrade, também são lugares de encontro da comunidade migrante. Em Ushuaia, o restaurante emblemático onde se reúne a comunidade é o Chiko Restaurant, situado na rua 25 de maio.
Os restaurantes, as quitandas e os mercados em Fuego-Patagônia podem ser reconhecidos como espaços transnacionais que permitem estabelecer conexões com Chiloé através das dinâmicas na circulação de ingredientes culinários e laços afetivos que representam as identidades dos sujeitos migrantes naqueles lugares de residência. Estes mecanismos de emergência na reconstrução da terra natal se fazem evidentes por meio da recriação dos espaços imaginados, seguindo códigos culturais que fortalecem os vínculos afetivos da memória coletiva. Contudo, Steigenga, Palma e Girón mencionam que “en muchos casos, las reconstrucciones del ‘hogar’ son mas imaginadas que reales. La nostagia [e] las cambiantes identidades transnacionales interrumpen […] las concepciones del hogar reconstruido” (2008:40). As práticas culturais desenvolvidas pela comunidade legitimam identidades a partir do consumo, da repetição e da continuidade. Os restaurantes são meios simbólicos que reforçam as identidades e ampliam os imaginários para seguir protegendo as tradições locais.
Nesse sentido, situamos diferentes pontos de reflexão relacionados com as cozinhas nacionais em contextos migratórios e fazemos referência aos restaurantes como pontos estratégicos de reunião e construção de redes migratórias. Assim como os chilotes se reúnem em restaurantes austrais, as comunidades de cubanos frequentam restaurantes como o Ilé Habana em Santiago, Chile (Saldívar 2018SALDÍVAR, Juan. 2018. Con los ancestros en la espalda. Etnografía transnacional de la santería-Ifá cubana en Santiago, (Chile) y La Paz, (Bolivia) 1990-2015. Santiago: RIL Editores-Universidad de Los Lagos Editorial. b). Esses espaços se legitimam como “lugares de migrantes”, mas também permitem acesso a outras comunidades, como é o caso dos migrantes peruanos que transformaram o centro da cidade de Santiago, Chile, em uma “Lima chica”, onde atualmente se encontra El Caracol, centro das comunidades haitianas, dominicanas, colombianas e equatorianas (Luque 2003LUQUE, José. 2003. “Transnacionalismo político. Identidad nacional y enclave étnico. El caso de los inmigrantes peruanos en Santiago, Chile”. Ponencia. Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Ciudad de México, México.; Stefoni 2013STEFONI, Carolina. 2013. “Formación de un enclave transnacional en la ciudad de Santiago de Chile”. Migraciones Internacionales, 7 (1):161-187. ). Para o caso dos Estados Unidos, José Antonio Vázquez (2015VÁZQUEZ MEDINA, José Antonio. 2015. De la nostalgia culinaria a la identidad alimentaria transmigratoria: la preparación de alimentos en restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Tesis de Doctorado en Alimentación y Nutrición, Barcelona, Universidad de Barcelona.) afirma que a transnacionalização da cozinha mexicana foi um dos canais que propiciaram a reconstrução imaginária da terra natal para os residentes mexicanos em cidades como Chicago, Nova York e Los Angeles.
No Brasil, a comunidade japonesa residente em São Paulo incorporou ingredientes locais para a reprodução da culinária nipônica, como os peixes nativos da Amazônia incluídos nas receitas e nos ingredientes orientais (De Almeida Kato et al. 2016DE ALMEIDA KATO, Hellen; DE SOUZA OLIVEIRA, Luana; DA SILVA, Maciel & AIRES DE FREITAS, Alexandre. 2016. “A cozinha de fusão encontra o rio: peixes nativos amazônicos como alternativa para a culinária japonesa”. Applied Tourism, 1 (2):97-114. ). Os conhecimentos sobre gastronomias étnicas em contextos migratórios preservam-se através de saberes e, de alguma forma, buscam ser reproduzidos em receitas que se convertem em dispositivos que permitem diminuir a nostalgia, reafirmar e unificar as identidades nacionais. Sobre isso, Arjun Appadurai (1988APPADURAI, Arjun. 1988. “How to make a National Cuisine: Cookbook in contemporary India”. Comparative Studies in Society and History, 30 (1):3-24. ) reconhece a nostalgia culinária através dos livros de cozinha escritos por exilados na Índia, que demonstravam emoções quanto aos seus lugares de origem.
Tradições religiosas: O Nazareno de Caguach
Os primeiros indícios na extensão da tradição religiosa de Nazareno de Caguachxii em Fuego-Patagônia surgiram em Punta Arenas, no final da década de 70, como parte das tradições culturais manifestadas entre comunidades de emigrados chilotes em Magallanes, Chile. Nesse sentido, Arturo Hueicha, chilote radicado em Punta Arenas, descreve que a tradição do Nazareno foi iniciada a partir da prática religiosa em casas particulares por “Doña Pancha y su hermano Francisco [os quais propuseram] a vecinos hacer un rezo en una casa, eso fue en el mes de agosto de 1979”. Seguiram com a devoção e, “luego en el 80 cambiaron el rezo para otro lado, en otra casa”. Assim, de maneira individual, tal prática foi se expandindo até que “se enteró el obispo Tomás González que había nacido esta devoción en las casas, hizo que la gente fuera a la iglesia de Fátima en el Barrio 18”.
A exaltação do Nazareno continuou durante os próximos anos. Hueicha recorda que “éramos quince personas, luego se unieron más, fuimos 200 y el otro año 800, la primera vez fue un rezo nomás y el domingo un rosario, al tercer año hacíamos novena y salimos en procesión con instrumentos”. Ao longo desse processo toda essa exaltação causou um fervor religioso e, de novo, Hueicha lembra que “en 1987 el obispo Tomás mandó hacer un Nazareno con un escultor en Castro [Chiloé], nosotros aquí lo armamos y vestimos, luego lo presentamos a la comunidad”. Dessa forma, a integração religiosa fortificou os laços entre a comunidade de migrantes e possibilitou certas dinâmicas que se manifestaram em atividades coletivas, como a construção do Santuário de Jesús Nazareno, situado atualmente no setor alto da cidade, no povoado 18 de Setembro, conhecido como bairro dos chilotes.
Cabe registrar que a prática religiosa de Nazareno não somente se encontra inserida em lugares de Magallanes, mas também em outros espaços de Fuego-Patagônia, sendo os territórios austrais da Argentina flexíveis habitats de significado que protegeram a tradição. Nesse cenário, José Paredes, residente chilote em Rio Gallegos, reconhece que a devoção “primero llegó a Punta Arenas, luego a Puerto Natales, después en Rio Turbio y Rio Gallegos, pero la festividad es más grande en Punta Arenas y Rio Gallegos, porque son las [cidades] más pobladas por chilotes”. A cidade de Rio Gallegos é considerada como um ponto de referência na massificação da devoção, principalmente por concentrar comunidades de migrantes de diferentes gerações que ali se estabeleceram. Nesse ambiente, María Hernández, chilena residente em Rio Gallegos, revela que “la devoción del Nazareno llegó de Chiloé, pero también de Punta Arenas, porque la mayoría tenemos familia del otro lado, casi siempre estamos en contacto y esto trascendió”. As intensas relações entre ambos os lados da frontera possibilitaram que “en septiembre del año 2000, el padre obispo Tomás González se pone en contacto con el obispo de Ancud [Chiloé], Juan Luis Iser de Arce, que de inmediato este último encarga al escultor chilote Miltón Muñoz a que realice una réplica del Nazareno de Cahuach” (Comunidad Cristiana de Rio Gallegos s.f 35). A transcedência da devoção foi validada com a chegada da imagem, no dia 22 de abril de 2001, quando “una delegación de chilotes residentes en Punta Arenas, encabezada por Omar Nahuel, coordinador de la orden de Caballeros de Jesús Nazareno, cumplen con la misión encomendada por el padre obispo Tomás González, la entrega de la donación de la imagen” (Comunidad Cristiana de Rio Gallegos s.f 35COMUNIDAD CRISTIANA DE RÍO GALLEGOS. 0000 s/f. “Novenario con Jesús Nazareno” [separata]. Río Gallegos: Comunidad Cristiana Jesús Nazareno.).
A festa do Nazareno, em Rio Gallegos, inicia-se a partir de 21 de agosto e termina no último domingo do mesmo mês. Segundo Eva Flórez, chilena, irmã/filha da Caridade São Vicente de Paulo, a organização da festa se estrutura a partir de comissões, “unos hacen los trajes o consiguen quien apadrine, otros en la difusión, promoción, afiches, liturgia, determinar horarios de la novena, rezos, cantos, coros, se abre la alcancía del Nazareno y con ese dinero se organiza la fiesta”. A mesma informante assegura que não podem faltar “las banderas de Argentina y de Chile, se toca folklor chileno y argentino, cueca y chacarera”. No caso da música, recorda Eva, a festa é animada por bandas, “llegan seis o siete acordeones, el bombo, la guitarra, en ese aspecto son muy celosos los chilotes […] el estar en un lugar extraño todos estos migrantes se unieron porque los ligaba la tradición y querían vivir un Chiloé pequeñito en Río Gallegos”. A tradição mostra a representatividade identitária chilota na celebração religiosa, “se inicia con la novena, es la misma estructura que en Caguach, en todos los misterios del rosario hay oraciones iniciales y cantos tradicionales que se entonan allá [Chiloé] pero también se cantan aquí”. A propósito disso, Don Hilario, chilote, membro da comunidade religiosa, menciona que “se conservaron todas las características [locais] de la devoción y las otras parroquias [de apoio] son como las otras islas que llegan a Caguach, esas islas o parroquias llegan con letreros o pancartas que los identifican”.12 12 A incorporaçao do Nazareno na ilha Caguach, Chiloé, relaciona-se com a chegada dos franciscanos em 1769, onde Frei Hilario Martínez foi o iniciador da devoção. As controvérsias na doação de imagens são atribuídas a uma série de passagens, em que a mais conhecida é a fila de lanchas que organizaram as cinco ilhas para sortear as imagens, a ilha Caguach tendo obtido o Nazareno. Atualmente, a festa do Nazareno que se celebra em Chiloé recorda a origem da devoção realizando as competições em lancha como parte da continuidade da tradição religiosa. Em Rio Gallegos, a preservação da tradição incorpora os significados simbólicos das competições representados em procissões que saem de outras igrejas e se encontram na igreja de Nazareno. Para maior detalhe ver Saldívar (2017b).
Neste caso, destacam-se influências musicais ao estilo chilote, incorporando uma série de instrumentos como bumbo, guitarra, violino e acordeon. A composição de versos, estrofes e melodias faz referência a lugares de origem que, por sua vez, legitimam práticas e geram relações multinexas. Vejamos o exemplo da canção “Rencuentro”, do compositor chileno Sergio Ricardo Hueicha, dedicada a Jesus Nazareno de Rio Gallegos.
Jesús Nazareno parece que fue ayer que tú llegaste a Gallegos, entregando amor y fe, tu gente te venera igual que allá en Chiloé. Devotas y devotos rezan y cantan también, Nazareno, Nazareno, yo te canto, te venero, y tu gente te saluda en este suelo extranjero. Cantando y rezando vamos en tu procesión, guitarras y acordeones entonando una canción. El día de tu llegada, que fue el 22 de abril, la emoción del reencuentro fue muy grande para mí. Nazareno, Nazareno, yo te canto, te venero, y tu gente te saluda en este suelo extranjero.
O estribilho mostra aspectos relevantes na discussão sobre migração e religião vividas, correspondendo a emoções e nostalgias quase sempre provocadas por experiências e efervescências das práticas religiosas em terras estrangeiras. A propósito, vejamos uma estrofe do hino a Nazareno de Rio Gallegos, entoado por Eva Flórez:
Querido Nazareno te bendecimos, te adoramos, llegaste a Río Gallegos para reunir a tus hermanos, Jesús Nazareno aquí estás tú en la Provincia de Santa Cruz, la iglesia que te recibe es de María de Nazaret, por eso estamos contentos que hayas venido de Chiloé, el pueblo que te recibe hoy te venera de corazón y aquí en Río Gallegos todos seguimos tu tradición.
Estas ações de gestão coletiva na extensão das tradições religiosas representam redes de poder que não somente cruzam fronteiras, mas também consolidam espaços em lugares de acolhida migrante, convertendo a comunidade em uma referência da terra natal. Dessa forma, “la relación entre identidad y acción colectiva es más compleja y ambigua de lo que parece a primera vista. En muchos casos, las reconstrucciones del “hogar” son más imaginadas que reales” (Steigenga, Palma & Girón 2008STEIGENGA, Timothy; PALMA, Irene & GIRÓN, Carol. 2008. “El transnacionalismo y la movilización colectiva de la comunidad maya en Júpiter, Florida. Ambigüedades en la identidad transnacional y religión vivida”. Migraciones Internacionales [on-line]. 4 (4):37-71. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php
. Acesso em 10/07/2016.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php...
:40), sobretudo quando “la nostalgia, las dificultades familiares y las cambiantes identidades transnacionales interrumpen y pueden trasformar las concepciones del hogar reconstruido” (2008:40). Entretanto, além do trabalho coletivo na reconstrução da terra natal, existiram outros fatores que institucionalizaram a tradição, como a construção de igrejas e a consolidação de líderes religiosos. É relevante destacar que estes porta-vozes da comunidade são os que estabelecem vínculos assíduos além-fronteiras, com intenções de realizar tarefas religiosas e de conectar os lugares de origem e destino. A festa do Nazareno, então, é também uma festa da comunidade, que mostra ícones representativos de chilenidad ou, mais forte ainda, de chilotenidad.
À vista disso, a religiosidade permite reações identitárias que, além de serem entendidas como efervescências coletivas, manifestam-se como atributos da nostalgia e formas de viver o transnacionalismo. Além disso, a terra natal se converte no lugar onde estão instalados, residência temporal ou permanente, distante dos contextos culturais em que cresceram aqueles que transladaram a tradição. Por isso, Steigenga, Palma e Girón argumentam que “las imágenes del hogar abarcan elementos físicos, culturales, ideológicos, familiares, religiosos, nacionales y locales que se combinan para crear un sentido de pertenencia e identidad en un ambiente confuso y a veces hostil” (2008:48). Estes lugares imaginados são, precisamente, os novos habitats de significado que se mantêm como parte dos cenários cotidianos na vida transnacional de comunidades chilotas em territórios de Fuego-Patagônia.
Neste caso, podemos refletir sobre as etnografias transnacionais que descrevem tradições religiosas em contextos migratórios. Os trabalhos de Shinji Hiraí (2009HIRAI, Sinjhi. 2009. Economía política de la nostalgia. Un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Casa Juan Pablos.) fazem referência à transnacionalização de Santo Toribio Romo, o padroeiro dos migrantes mexicanos em lugares da Califórnia, Estados Unidos. O caso de Toribio Romo (Jalostitlán, México) é similar ao de Nazareno de Caguach (Caguach, Chile), pois ambos são considerados como símbolos dominantes de uma comunidade em particular e que foram “transportados” para lugares de residência migrante. Os processos de assemblage13 13 Proposta de Deleuze e Guattari (1994) que faz referência a práticas que podem ir se alinhando de acordo com a desterritorialização e seus processos de territorialização. Ong e Collier (2005) retomam a proposta no sentido de pensar as configurações de sistemas globais como interseções e intercâmbios dinâmicos. obedecem a uma série de dinâmicas desenvolvidas pelos migrantes como parte de suas atividades comunitárias para a reconstrução da terra natal, valendo-se dos significados religiosos como dispositivos de efervescências identitárias.
Estas formas de viver o transnacionalismo religioso permitem que “las imágenes y la devoción a los santos ‘emigran’ [para diferentes lugares] donde se les montan altares y se organizan festividades tradicionales en simultaneidad con sus fiestas en [seus lugares de origem]” (De la Torre & Levitt 2017:134DE LA TORRE, Renée & LEVITT, Peggy. 2017. “Religión y reescalamiento: ¿cómo santo Toribio colocó a Santa Ana en el mapa transnacional religioso?”. Desacatos, 55:128-151. ). Além das tradições judaico-cristãs, algumas práticas religiosas afro-americanas também foram transnacionalizadas, como é o caso do candomblé em Portugal, onde seus principais precursores foram os migrantes brasileiros, os quais instalaram seus “terreiros” em diferentes cidades do país (Guillot 2009GUILLOT, Maia. 2009. “Du mythe de l´unité luso-afro-brésilienne: le candomblé et l´umbanda au Portugal”. Lusotopie, 16 (2):205-219. ). Na América Latina, práticas religiosas como a santeria e ifá cubanas se enraizaram em cidades como Lima, no Peru, La Paz, na Bolívia e Santiago, no Chile através de diferentes processos migratórios de cubanos que se relacionam também com a expansão de ilês (casa-templo), botânicas, espaços de ócio e cerimônias-rituais de seus principais consumidores (Saldívar 2015SALDÍVAR, Juan. 2015. “Viviendo la religión desde la migración, transnacionalización de la santería cubana en Lima, Perú; La Paz, Bolivia y Santiago, Chile (1980-2013). Reflexiones, 94 (2): 133-144. ).
Discussão: vida e ser transnacional
As discussões sobre a perspectiva transnacional são recorrentes na Antropologia, principalmente aquelas vinculadas aos limites do Estado-nação. Existe uma literatura que relaciona as migrações internacionais com a noção de modernidade, visibilizando o barateamento dos meios de transporte, o surgimento das tecnologias de comunicação e a circulação de capitais econômicos e culturais (Hannerz 1996HANNERZ, Ulf. 1996. Transnational connections. London/New York: Routledge .). No entanto, é precisamente Nina Glick-Schiller quem nos sugere desmistificar “el surgimiento de la migración transnacional, [atribuindo-o somente] al desarrollo de nuevas tecnologías [pois] esta interpretación carece de base histórica, [de maneira que é relevante] recurrir a un enfoque reflexive que ubique histórica y geográficamente el paradigm de migración transnacional” (2008:29-30GLICK SCHILLER, Nina. 2008. Nuevas y viejas cuestiones sobre localidad: teorizar la migración transnacional en un mundo neoliberal. In, SOLÉ, Carlota, PARELLA, Sonia y CAVALCANTI, Leonardo (Coord.),Nuevos retos del transnacionalismo en el estudio de las migraciones. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración-Grafo S.A.). Nesse sentido, quando as pessoas se deslocam e cruzam fronteiras nacionais, elas reconstroem sua noção de terra natal nos lugares onde se estabelecem. Esta perspectiva nos faz questionar como são construídas as experiências de vida e ser transnacional nas dimensões dos contextos migratórios contemporâneos.
Seguindo com a discussão, este artigo pretendeu mostrar as subjetividades e as intersubjetividades da migracão chilota, considerando as etapas históricas de início de seus projetos migratórios, deslocamentos, formacão de comunidades e construcão de campos sociais transnacionais em Fuego-Patagônia. Para uma maior compreensão do fenômeno migratório chilote, recorremos ao conceito de campos sociais transnacionais, uma vez que ele nos permite caracterizar etnograficamente as dinâmicas culturais refletidas na circulação de pessoas, mercadorias, tradições, emoções e significados simbólicos. Estes elementos permitiram compreender que vida e ser transnacional vão além das fronteiras políticas como um processo em constante mudança nos níveis nacional e local (Basch et al. 1994BASCH, Linda; GLICK SCHILLER, Nina & SZANTON BLANC, Cristina. 1994. Nation Unbornd. Transnational projects, postcolonial predicaments and the deterritorialized Nation-State. Basel: Gordon and Breach Science Publishers. ). Desse modo, os fatos encontrados entre Chiloé e Fuego-Patagônia mostraram as singularidades de um campo transnacional chilote através das conexões históricas, continuidades identitárias e tradições culturais reforçadas nos espaços de itinerância migrante. Esse campo social é compreendido como “un conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos” (Levitt & Glick-Schiller 2004LEVITT, Peggy & GLICK-SCHILLER, Nina. 2004. “Perspectivas transnacionales sobre la migración: conceptualizar la simultaneidad”. Migración y Desarrollo, 3:60-91.:66)
As particularidades que distinguem estes campos sociais se aprofundam para que se compreenda como os migrantes se incorporam nos países de residência e como seus vínculos alcançam seus lugares de origem, influenciados por seus “contínuos laços” que se constroem e se estendem além das fronteiras nacionais. A nostalgia atua como um regime de sentimento (Besserer 2014BESSERER, Federico. 2014. “Régimenes de sentimientos y la subversión del orden sentimental: Hacia una economía política de los afectos”. Nueva Antropología, 81:55-76. ; Bonnett 2016BONNETT, Alastair. 2016. The geography of nostalgia. Global and local perspectives on modernity and loss. London/New York: Routledge. ; Boym 2015BOYM, Svetlana. 2015. El Futuro de la Nostalgia. Madrid: A. Machado Libros.) que provoca a criação de laços afetivos e a unificação das comunidades, logrando a recriação simbólica da terra natal através de espaços de ócio, celebração de festas, circulação de mercadorias, entre outros. As cozinhas nacionais se destacam em alguns dos espaços de ócio como restaurantes e pátios de comida, especialmente aqueles que se legitimaram e se institucionalizaram como lugares de chilotes que, além de oferecerem gastronomia, mostram tradições musicais que permitem imaginar e viver sua terra de origem. Os centros culturais são os pontos de reunião onde acontecem eventos, tais como shows de música folclórica, festivais de cueca chilena e concursos de gastronomia chilota. As tradições religiosas, como a de Nazareno de Caguach, enaltecem o calendário festivo da comunidade onde participam os residentes locais e os migrantes de diferentes nacionalidades. As radiodifusoras comunitárias também são canais de preservação da memória cultural, uma vez que estabelecem conexões simbólicas com a terra natal, como, por exemplo, as canções, as radionovelas, as notícias sobre o arquipélago, as mensagens em forma de avisos sobre nascimentos ou falecimentos de entes queridos e aniversariantes.
Em outros contextos geográficos, os mosaicos culturais têm sido potenciais inibidores da nostalgia através da participação e da formação de comunidades transnacionais. Sobre a comunidade de porto-riquenhos residentes nos Estados Unidos, menciona Jorge Duany que as identidades culturais se resguardam a partir da preservação de tradições e, também, nas formas de enfrentar o cotidiano. Um destes mecanismos é a construção de bairros transformados em “casitas, pequeñas estructuras de madera que recuerdan las viviendas rurales de la Isla, en los terrenos abandonados del sur del Bronx y el Lower East Side de Manhattan” (2002:63). Esses espaços representam as periferias e fazem referência a “un lugar idílico, rememorados nostálgicamente como una densa comunidad de parientes, amigos, vecinos y paisanos” (Duany 2002:63DUANY, Jorge. 2002. “Nación, migración, identidad. Sobre el transnacionalismo a propósito de Puerto Rico”. Nueva Sociedad, 178:56-. ).
Os sentimentos com que se defrontam os migrantes em seus lugares de residência mostram quase sempre a recriação dos espaços imaginados de onde provêm. Neste sentido, Federico Besserer e Michael Kearney (2006BESERRER, Federico & KEARNEY, Michael. 2006. “El poder clasificador y filtrador de las fronteras”. In: BESSERER, Federico & KEARNEY, Michel (comps.), San Juan Mixtepec. Una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Juan Pablos Editor.) descrevem as formas experimentadas pelas comunidades mexicanas procedentes de San Juan Mixtepec, Oaxaca, na Califórnia, Estados Unidos, reconhecendo-as como “oaxacalifornia”, um espaço transnacional que reúne o poder classificador e filtrador das fronteiras. A noção da porosidade do território indicada pelos autores é compreendida através da construção de uma comunidade à margem do Estado-nação, ao se sentirem excluídos tanto de seu país de origem quanto do país de destino. Neste sentido, as fronteiras deixam de ser estáticas para converterem-se em lugares dinâmicos e flexíveis de negociações culturais e intercâmbios multidirecionais (Glick-Schiller et al. 1992GLICK SCHILLER, Nina; BASCH, Linda & SZANTON, Blanc (Eds.). 1992. Toward a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered. New York: New York Academy of Sciences.; Hannerz 1996HANNERZ, Ulf. 1996. Transnational connections. London/New York: Routledge .; Kearney 1994KEARNEY, Michael. 1994. Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global Perspective. Boulder: Westview Press. ; Levitt 2001LEVITT, Peggy. 2001. The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press. ).
Palavras finais: culturas, pessoas e lugares transnacionais
Neste artigo, argumentamos como as migrações de chilotes em diferentes etapas históricas construíram conexões transnacionais em Fuego-Patagônia através da formação e do ativismo das comunidades que ressignificaram a noção de terra natal em seus lugares de residência. Esses pocessos foram guiados por uma série de códigos culturais que permitiram a criação de um sentido de pertencer além das fronteiras. A noção de terra natal reconstruída apresenta-se na recriação dos espaços através da celebração de festas, reprodução de música regional, circulação de ingredientes culinários e tradições religiosas. As atividades culturais lograram a criação de uma comunidad transnacional chilota que representa as conexões com seus lugares de origem no arquipélago. Essas conexões situam Chiloé e Fuego-Patagônia como um espaço não deslocado, isto é, como uma continuidade histórica e simbólica do território de origem que permite a criação de relações políticas, econômicas e culturais entre pessoas e lugares. Por exemplo, isto pode ser observado na chegada do santo padroeiro (Nazareno de Caguach), também na conservação da cozinha regional a partir da circulação e da elaboração de ingredientes gastronômicos e na celebração de festas pátrias. As instituições, como os centros culturais, associações e clubes, fomentam nos migrantes as inspirações para seguir custodiando as tradições locais através da constante repetição de receitas culinárias, criação de calendários festivos e continuação das crenças além (através) das fronteiras (De la Torre & Gutiérrez 2005DE LA TORRE, Renée & GUTIÉRREZ, Cristina. 2005. “La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas” Desacatos, 18:53-70. ; Levitt 2007LEVITT, Peggy. 2007. “Rezar por encima de las fronteras: cómo los inmigrantes están cambiando el panorama religioso”. Migración y Desarrollo, 8:66-88. ).
A noção de terra natal reconstruída implica uma série de negociações políticas visibilizadas na participação comunitária, na motivação por empreender projetos, como a construção da igreja e a chegada do santo padroeiro, a celebração de datas de fundação dos lugares de origem e residência e em outras ocasiões até com a colaboração de comunidades estrangeiras. Segundo nossas experiências etnográficas, a reconstrução da terra natal está a cargo dos líderes comunitários, os quais se valem de suas experiências pessoais para a continuação das tradições culturais. Este é o caso de Arturo Hueicha, chilote residente em Punta Arenas que, depois de ter perdido sua mãe recém-chegada do arquipélago, colaborou de maneira intensa com a comunidade de migrantes na preservaçao das tradições religiosas do Nazareno e na extensão de cozinhas regionais no seu restaurante Donde Hueicha.
Uma vez que consideramos como sujeitos de estudo homens e mulheres que experiementaram a migração de maneira física, as conexões com seus lugares de origem dependem em muitos casos daqueles que ficaram em “casa”, atores que participam de uma série de atividades a distância. É relevante destacar como essas migrações provocaram a continuação do território, não como um espaço deslocado, mas como um corpo integrado em meio a uma multiplicidade de formas e linhas entrelaçadas. Neste sentido, definimos os campos sociais transnacionais dos chilotes como: a) Território vivido, espaço para onde confluem atores e contextos mediante significados da vida cotidiana na construção de sentidos de ser parte; e b) Espaço cosmopolítico, região pluriversa dotada de experiências, tradições, relações e intercâmbios circunstanciais de largo alcance que ultrapassaram premissas do Estado-nação.
De acordo com nossas pesquisas etnográficas, destacamos as propostas do antropólogo sueco Ulf Hannerz sobre culturas trasnacionales, aquelas que são “transportadas” para lugares em movimento. Nesse sentido, Hannerz (1996) sugere pensar a cultura como um recipiente de significados interconectados que ultrapassam os limites do Estado-nação, instalando-se em espaços globais. Adiante, o autor nos recomenda pensar na noção de ecúmene global, conduzindo-nos à reflexão sobre dinâmicas culturais que se desenvolvem a largas distâncias, identificando a circulação de significados simbólicos entre um ou mais lugares geográficos. As categorias que permeiam o ecúmene global são as conexões que se constroem entre pessoas e lugares, em que os deslocamentos físicos e a intensificação dos territórios provocam o extravasamento de relações socioculturais.
Assim, poderíamos compreender a circulação de significados culturais a partir de quatro âmbitos: a) Expressões: formas de representação ou manifestação cultural, ou seja, como as pessoas vivem e experimentam a vida transnacional; b) Estado-nação: permite a regulação e o controle de sucessões históricas, políticas e econômicas; c) Mercados: circulação de fluxos que provocam a dinamização de culturas locais em espacos cada vez mais globais; e d) Movimentos: cenários mutantes que se reconfiguram de maneira dinâmica através das políticas, das economias e dos fluxos da população que transitam por e habitam em mais de um lugar imaginado. Estas conexões se tornam mais influentes através da dinamização de práticas, extensão de tradições e circulação de mercadorias que dissolvem as fronteiras, desbordam os limites preconcebidos e intensificam as relações entre diferentes cenários.
Referências bibliográficas
- ALONSO, José. 2014. Menéndez rey de la Patagonia Santiago: Catalonia.
- APPADURAI, Arjun. 1991. “Las mercancías y la política del valor en la vida social de las cosas”. In: APPADURAI, Arjun (ed.), Perspectiva cultural de las mercancías Ciudad de México: Grijalbo.
- APPADURAI, Arjun. 1988. “How to make a National Cuisine: Cookbook in contemporary India”. Comparative Studies in Society and History, 30 (1):3-24.
- BASCH, Linda; GLICK SCHILLER, Nina & SZANTON BLANC, Cristina. 1994. Nation Unbornd. Transnational projects, postcolonial predicaments and the deterritorialized Nation-State Basel: Gordon and Breach Science Publishers.
- BAYER, Osvaldo. 1993. La Patagonia rebelde Buenos Aires: Grupo Editorial Zeta.
- BESSERER, Federico. 2014. “Régimenes de sentimientos y la subversión del orden sentimental: Hacia una economía política de los afectos”. Nueva Antropología, 81:55-76.
- BESERRER, Federico & KEARNEY, Michael. 2006. “El poder clasificador y filtrador de las fronteras”. In: BESSERER, Federico & KEARNEY, Michel (comps.), San Juan Mixtepec. Una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Juan Pablos Editor.
- BONNETT, Alastair. 2016. The geography of nostalgia. Global and local perspectives on modernity and loss London/New York: Routledge.
- BORRERO, José. 2011. La Patagonia trágica Buenos Aires: Ediciones Peña Lillo Continente.
- BOU, María Luisa, REPETO, Elida, DE BONIFETTI, Emilia, SUTHERLAND, Sarita, ALLEN, Anibal & STANIC, Dominga. 1995. A hacha, cuña y golpe. Recuerdos de pobladores de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina Buenos Aires: Talleres Gráficos Recalli S.A.
- BOYM, Svetlana. 2015. El Futuro de la Nostalgia Madrid: A. Machado Libros.
- BRAUN, Armando. 2006. Pequeña historia fueguina Punta Arenas: Comercial Ateli y Cía Ltda-Southern Patagonia.
- CANCLINI, Armando. 1993. Julio Popper. Quijote del oro fueguino Buenos Aires: EMECÉ Editores, S.A..
- COMUNIDAD CRISTIANA DE RÍO GALLEGOS. 0000 s/f. “Novenario con Jesús Nazareno” [separata]. Río Gallegos: Comunidad Cristiana Jesús Nazareno.
- CORONATO, Fernando. 2017. Ovejas y ovejeros en la Patagonia Buenos Aires: Prometeo Libros.
- DANNEMANN, Manuel. 1975. “Teoría folklórica. Planteamientos críticos y proposiciones básicas”. In: CONAC (Editor), Teorías del folklore en América Latina Caracas: Instituto Iberoamericano de Etnología y Folklore-Biblioteca INIDEF.
- DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. 1994. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia Valencia: Editorial PRE-TEXTOS.
- DE LA TORRE, Renée & LEVITT, Peggy. 2017. “Religión y reescalamiento: ¿cómo santo Toribio colocó a Santa Ana en el mapa transnacional religioso?”. Desacatos, 55:128-151.
- DE LA TORRE, Renée & GUTIÉRREZ, Cristina. 2005. “La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías simbólicas” Desacatos, 18:53-70.
- DUANY, Jorge. 2002. “Nación, migración, identidad. Sobre el transnacionalismo a propósito de Puerto Rico”. Nueva Sociedad, 178:56-.
- FALZON, Mark-Anthony. 2009. Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research Famham/Burlington: Ashgate Publishing Limited.
- GLICK SCHILLER, Nina; BASCH, Linda & SZANTON, Blanc (Eds.). 1992. Toward a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered New York: New York Academy of Sciences.
- GLICK SCHILLER, Nina. 2008. Nuevas y viejas cuestiones sobre localidad: teorizar la migración transnacional en un mundo neoliberal. In, SOLÉ, Carlota, PARELLA, Sonia y CAVALCANTI, Leonardo (Coord.),Nuevos retos del transnacionalismo en el estudio de las migraciones Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración-Grafo S.A.
- GUEVARA, David. 2016. Julio Popper. El alquimista de El Páramo. Tierra del Fuego, Argentina 1885-1893: Desde su Rumania natal al destino áureo in aeternum de su vida y obra Río Grande: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Nacional.
- GUILLOT, Maia. 2009. “Du mythe de l´unité luso-afro-brésilienne: le candomblé et l´umbanda au Portugal”. Lusotopie, 16 (2):205-219.
- GUIZARDI, Lube Menara. 2011. “‘Como si fueran hombres’: los arquetipos masculinos y la presencia femenina en los grupos de capoeira de Madrid”. Revista de Antropología Experimental, 11:299-315.
- HANNERZ, Ulf. 1996. Transnational connections London/New York: Routledge .
- HIRAI, Sinjhi. 2012. “‘¡Sigue los símbolos del terruño!’: etnografía multilocal y migración transnacional”. In: ARIZA, Marina. & VELASCO, Laura. (coords.), Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional Ciudad de México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales/El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
- HIRAI, Sinjhi. 2009. Economía política de la nostalgia. Un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Casa Juan Pablos.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CHILE. 2012. “Resultados preliminares Censo de Población y Vivienda”. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas. Disponível em: https://www.ine.cl/
» https://www.ine.cl/ - DE ALMEIDA KATO, Hellen; DE SOUZA OLIVEIRA, Luana; DA SILVA, Maciel & AIRES DE FREITAS, Alexandre. 2016. “A cozinha de fusão encontra o rio: peixes nativos amazônicos como alternativa para a culinária japonesa”. Applied Tourism, 1 (2):97-114.
- KEARNEY, Michael. 1994. Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global Perspective Boulder: Westview Press.
- LEVITT, Peggy & GLICK-SCHILLER, Nina. 2004. “Perspectivas transnacionales sobre la migración: conceptualizar la simultaneidad”. Migración y Desarrollo, 3:60-91.
- LEVITT, Peggy. 2007. “Rezar por encima de las fronteras: cómo los inmigrantes están cambiando el panorama religioso”. Migración y Desarrollo, 8:66-88.
- LEVITT, Peggy. 2001. The Transnational Villagers Berkeley: University of California Press.
- LINS-RIBEIRO, Gustavo. 1999. “La condición de la transnacionalidad”. Maguaré, 14:74-113.
- LUQUE, José. 2003. “Transnacionalismo político. Identidad nacional y enclave étnico. El caso de los inmigrantes peruanos en Santiago, Chile”. Ponencia Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Ciudad de México, México.
- MANCILLA, Luis & MARDONES, Luis. 2010. El terremoto de 1960 en Castro Temuco: Ediciones La Tijera.
- MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, 11 (22):111-127.
- MARTINIC, Mateo. 2003. “La minería aurífera en la región austral americana (1869-1950)”. Historia, 36:219-254.
- MARTINIC, Mateo. 1982. La tierra de los fuegos Punta Arenas: Artegraf Ltda.
- MONTIEL, Felipe. 2010. Chiloé. Historias de viajeros Castro: Municipalidad de Castro.
- ONG, Aihwa & COLLIER, Stephen. 2005. Global Assemblages: Technology, politics and ethics as anthropological problems Malden: Blackwell.
- PANDOLFI, Luca. 2016. Caleuche, Mitología de una Incomprensión. Gente Transformada, Gente que se Transforma, Representaciones Identitarias de los Williche de Chile Quito: Abya-Yala.
- SAAVEDRA GALLO, Gonzalo. 2015. “Los futuros imaginados de la pesca artesanal y la expansión de la salmonicultura en el sur austral de Chile”. Chungara Revista de Antropología Chilena, 47 (3):521-538.
- SALDÍVAR, Juan. 2018. Con los ancestros en la espalda. Etnografía transnacional de la santería-Ifá cubana en Santiago, (Chile) y La Paz, (Bolivia) 1990-2015 Santiago: RIL Editores-Universidad de Los Lagos Editorial.
- SALDÍVAR, Juan. 2018. “Vida patagónica, movilidad y circulación transnacional del acordeón en Chiloé, Chile”. LÍDER, 31:9-35.
- SALDÍVAR, Juan. 2017a. “Chilote tenía que ser, vida migrante transnacional en territorios patagónicos de Chile y Argentina”. CUHSO, 27 (2):175-200.
- SALDÍVAR, Juan. 2017b. “Etnografía histórica del Nazareno de Caguach en Chiloé, Chile”. Revista Austral de Ciencias Sociales, 33:77-88.
- SALDÍVAR, Juan. 2015. “Viviendo la religión desde la migración, transnacionalización de la santería cubana en Lima, Perú; La Paz, Bolivia y Santiago, Chile (1980-2013). Reflexiones, 94 (2): 133-144.
- SALDÍVAR, Juan & ANTICONA, Juan. 2015. “¡Que viva changó! Música y religiosidad afrocubanas en el Perú en tres décadas (1980-2010)”. Revista de Ciencias Sociales, 149 (3):23-39.
- SÁNCHEZ, Iñigo. 2008. ¡Esto parece Cuba! Prácticas musicales y cubanía en la diáspora cubana de Barcelona Tesis de Doctorado en Antropología Social, Barcelona, Universidad de Barcelona.
- STEFONI, Carolina. 2013. “Formación de un enclave transnacional en la ciudad de Santiago de Chile”. Migraciones Internacionales, 7 (1):161-187.
- STEIGENGA, Timothy; PALMA, Irene & GIRÓN, Carol. 2008. “El transnacionalismo y la movilización colectiva de la comunidad maya en Júpiter, Florida. Ambigüedades en la identidad transnacional y religión vivida”. Migraciones Internacionales [on-line]. 4 (4):37-71. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php Acesso em 10/07/2016.
» http://www.scielo.org.mx/scielo.php - THER RÍOS, Francisco. 2011. “Configuraciones del Tiempo en el Mar Interior de Chiloé y su relación con la apropiación de los Territorios Marítimos”. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 23:67-80.
- URBINA, Rodolfo. 2002. La vida en Chiloé en tiempos del fogón 1900-1940 Valparaíso: Universidad Playa Ancha Editorial.
- VAIRO, Carlos & GATTI, Francis. 2000. ¡Oro en Tierra del Fuego! La carrera del oro en el extremo del mundo Ushuaia: Zagier & Urruty Publications.
- VÁZQUEZ MEDINA, José Antonio. 2015. De la nostalgia culinaria a la identidad alimentaria transmigratoria: la preparación de alimentos en restaurantes mexicanos en Estados Unidos Tesis de Doctorado en Alimentación y Nutrición, Barcelona, Universidad de Barcelona.
-
1
A revisão se desenvolveu na Biblioteca Pública de Castro, Biblioteca Pública de Chonchi (Chiloé), Museu Provincial de Tierra del Fuego em Porvenir, Arquivo Nacional Histórico em Santiago e Arquivo Histórico da Cidade de Buenos Aires.
-
2
Desenhadas em mapas de localização migrante com dados previamente extraídos mediante estratégias participativas entre comunidades locais.
-
3
Desenvolvidas mediante o uso de um gravador de voz onde a informação foi classificada em 120 áudios.
-
4
Segundas intervenções entre informantes que decidiram participar em mais de uma ocasião, logrando-se 10 áudios de narrativas.
-
5
Informação mediante coleções individuais de álbuns familiares.
-
6
Consistiu em seguir pessoas através da tela de um computador, em páginas web e zonas chat com grupos de migrantes (segunda geração) conectados de maneira simultânea.
-
7
Proposta de Deleuze e Guattari (1994DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. 1994. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Editorial PRE-TEXTOS. ) que faz referência a práticas que podem ir se alinhando de acordo com a desterritorialização e seus processos de territorialização. Ong e Collier (2005ONG, Aihwa & COLLIER, Stephen. 2005. Global Assemblages: Technology, politics and ethics as anthropological problems. Malden: Blackwell. ) retomam a proposta no sentido de pensar as configurações de sistemas globais como interseções e intercâmbios dinâmicos.
-
8
Sierra Boquerón nas imediações da cidade de Porvenir, Chile.
-
9
Segundo notas de campo, esses migrantes eram procedentes de áreas rurais de Achao, Chonchi e Queilen.
-
10
Segundo registros de campo, a maioria de seus habitantes é originária de Tenaún, Chiloé.
-
11
Viver em Fuego-Patagônia implica uma série de categorias históricas, culturais e sociais. Estas podem ser entendidas através das tradições de trabalho que motivaram os chilotes a se aventurarem em lugares austrais, ocupar territórios e formar populações. Neste sentido, faz-se imprescindível imaginar Chiloé e Fuego-Patagônia como um território interatuado dotado de conhecimentos, práticas e saberes em movimento.
-
12
A incorporaçao do Nazareno na ilha Caguach, Chiloé, relaciona-se com a chegada dos franciscanos em 1769, onde Frei Hilario Martínez foi o iniciador da devoção. As controvérsias na doação de imagens são atribuídas a uma série de passagens, em que a mais conhecida é a fila de lanchas que organizaram as cinco ilhas para sortear as imagens, a ilha Caguach tendo obtido o Nazareno. Atualmente, a festa do Nazareno que se celebra em Chiloé recorda a origem da devoção realizando as competições em lancha como parte da continuidade da tradição religiosa. Em Rio Gallegos, a preservação da tradição incorpora os significados simbólicos das competições representados em procissões que saem de outras igrejas e se encontram na igreja de Nazareno. Para maior detalhe ver Saldívar (2017bSALDÍVAR, Juan. 2017b. “Etnografía histórica del Nazareno de Caguach en Chiloé, Chile”. Revista Austral de Ciencias Sociales, 33:77-88. ).
-
13
Proposta de Deleuze e Guattari (1994) que faz referência a práticas que podem ir se alinhando de acordo com a desterritorialização e seus processos de territorialização. Ong e Collier (2005) retomam a proposta no sentido de pensar as configurações de sistemas globais como interseções e intercâmbios dinâmicos.
-
14
* Este artigo corresponde à terceira etapa de investigação do Projeto FONDECYT N. 3160798. Agradecemos à Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), Departamento de Ciencias Sociales e ao Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) da Universidad de Los Lagos (Chile).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
30 Maio 2019 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2019
Histórico
-
Recebido
06 Ago 2018 -
Aceito
31 Jan 2019
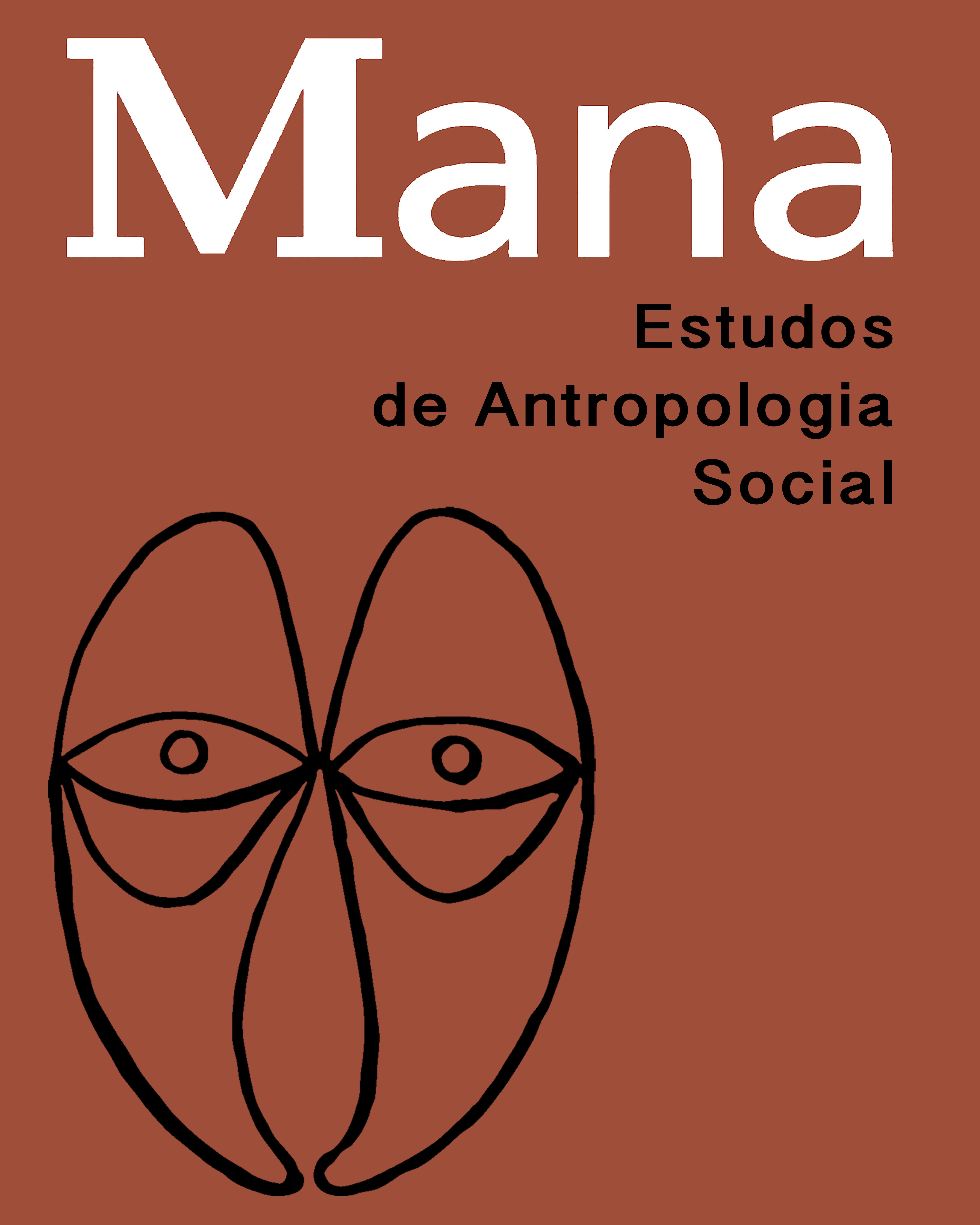





 Fonte: Elaborado por Allan Iwama
Fonte: Elaborado por Allan Iwama
 Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar
Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar
 Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar
Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar
 Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar
Fonte: Fotografia: Juan M. Saldívar