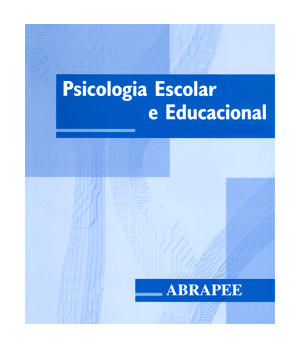Resumo
Neste estudo, analisamos valores, ideias e práticas que regulam a lógica de encaminhamentos escolares realizados por profissionais da educação e da saúde. Investigamos os encaminhamentos de uma escola para um centro de avaliação, ambos do sistema educacional público do município de São Paulo. Entrevistamos professores, gestores e profissionais da saúde, examinamos relatórios de encaminhamentos com as queixas escolares e outros documentos. Os dados indicaram que a escola tende a encaminhar alunos que discrepam do desempenho ou comportamento considerado padrão. No contexto estudado, isso não significou desresponsabilizar-se de sua função pedagógica, embora aparentemente sim, ao culpabilizarem alunos e famílias pelas dificuldades escolares. Em suas representações, escola e centro revelam insatisfação mútua. Os educadores têm restrições ao trabalho dos profissionais do centro e vice-versa e ambos parecem desconhecer como integrar os respectivos saberes para solucionar os encaminhamentos escolares.
Palavras-chave:
Queixa escolar; escolas; representação
Resumen
En este estudio, se analizó valores, ideas y prácticas que regulan la lógica de encaminamientos escolares realizados por profesionales de la educación y de la salud. Se investigó los encaminamientos de una escuela para un centro de avaluación, ambos del sistema educacional público del municipio de São Paulo. Entrevistamos profesores, gestores y profesionales de la salud, examinamos informes de encaminamientos con las quejas escolares y otros documentos. Los datos indicaron que la escuela tiende a encaminar alumnos que discrepan del desempeño o comportamiento considerado patrón. En el contexto estudiado, eso no significó ano responsabilizarse de su función pedagógica, aunque aparentemente sí, al culpabilizar alumnos y familias por las dificultades escolares. En sus representaciones, escuela y centro apuntan insatisfacción mutua. Los educadores tienen restricciones a la labor de los profesionales del centro y vice-versa y ambos parecen desconocer cómo integrar los respectivos saberes para solucionar los encaminamientos escolares.
Palabras clave:
Queja escolar; escuelas; representación
Abstract
In this study, we analyze values, ideas and practices that regulate the logic of school referrals carried out by education and health professionals. We investigated the referrals from a school to an external Evaluation Center, both of the public education system of the city of São Paulo. We interviewed teachers, administrators, and health professionals. We also examined referral reports containing school complaints and other documents. Data revealed that the school tends to refer students who do not meet standard performance and behavior expectations. In this particular context, it did seem that the school was blaming the students and their families for their pedagogical difficulties. However, it is important to remember that the school was not denying its responsibility for pedagogical shortcomings. In their representations, both the school and the evaluation center admit harboring mutual feelings of resentment. The school raises objections concerning the work of the professionals at the center and vice versa. The school and the evaluation center seem to be equally clueless as to how to integrate their knowledge in order to truly help the referred students.
Keywords:
School complaints; schools; representation
Introdução
Neste texto, pretendemos discutir dados de uma pesquisa cuja finalidade foi investigar as motivações e o percurso dos encaminhamentos de crianças com aparentes dificuldades escolares realizados entre uma escola e um centro de avaliação e direcionamento a serviços especializados, ambos pertencentes ao sistema municipal de educação de São Paulo. Já há extensa bibliografia relacionada aos encaminhamentos escolares, dando conta das circunstâncias que levam as escolas a buscar nos serviços de saúde, soluções ou justificativas para as dificuldades de certos alunos, como nos trabalhos de Souza (1996Souza, M. P. R. (1996). A queixa escola e a formação do psicólogo (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, SP.), Machado (1996Machado, A. M. (1996). Reinventando a avaliação Psicológica. (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.), Abreu (2006Abreu, M. H. R. M. (2006). Medicalização da Vida Escolar (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.), Guarido (2008)Guarido, R. L. (2013). “O que não tem remédio remediado está”. Medicalização da vida e algumas implicações da presença do saber médico na educação (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP., Mesquita (2009Mesquita, R. C. (2009). A Implicação do Educador diante do TDAH: Repetição do Discurso Médico ou Construção Educacional? (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educaçãoda Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.) e Pereira (2010)Pereira, J. G. (2010). A Crítica à medicalização da Aprendizagem na Produção Acadêmica Nacional(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, SP.. Nessa literatura, verificamos como os mitos do fracasso escolar, descortinados por Patto (1996Patto, M. H. S. (1996). A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo.), se reatualizam nas práticas escolares, na bem conhecida “medicalização na educação”. Integrando essa bibliografia, há ainda quem analise as dificuldades escolares associadas aos encaminhamentos, privilegiando o campo da biomedicina, tal como nos estudos de Rotta, Ohlweiler e Riesgo (2006Rotta, N. T.; Ohlweiler, L.; Riesgo, R.S. (2006). Transtornos de Aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre. Artmed.) e Barkley (2002Barkley, R. (2002). Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): Guia completo e autorizado para os pais, professores e profissionais de saúde. Porto Alegre: Artmed.).
Na presente pesquisa nos interessou analisar como essas diferentes perspectivas circulam entre os profissionais envolvidos nos encaminhamentos escolares, especificamente, identificar as representações que regulam as práticas de encaminhamento na escola e no centro de avaliação. Para identificar as representações, apoiamo-nos em Moscovici que as concebe como “valores, ideias e práticas” produzidas por grupos sociais. Para esse autor, as representações são sociais, um sistema de valores, ideias e práticas com função dupla: a de estabelecer uma ordem que possibilite às pessoas orientar-se no mundo, controlá-lo e a de permitir a comunicação entre elas, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar (Moscovici, 2012Moscovici, S. (2012). Representações Sociais: investigações em Psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes ., p. 21). Assim, as representações são produtos de interações e comunicações, dentro de determinada cultura; são formas de conhecimentos produzidas e sustentadas por grupos sociais, em dada conjuntura histórica (Moscovici, 2012Moscovici, S. (2012). Representações Sociais: investigações em Psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes ., p.35).
Minayo (2009Minayo, M. C. S. (2009). O conceito de Representações Sociais dentro da sociologia clássica. In Guareshi, P. A.; Jovchelovitch, S. (Eds.), Textos em representações sociais(pp. 89-111). Petrópolis, RJ: Vozes .) nos lembra que as representações sociais se manifestam em palavras e condutas e se institucionalizam, e a linguagem é sua forma de mediação. Gracia (2005Gracia, T. I. (2005). O Giro Linguístico. In Iñgues, L. (Ed.), Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais (pp. 19-49). Petrópolis, R.J.: Vozes.), por sua vez, enfatiza que a linguagem representa nosso conhecimento do mundo, nossos enunciados às representações do mundo e instrumentos para fazer as coisas; a linguagem não só faz pensamento como faz realidade. Tendemos assim, como Trindade e Souza (2009Trindade, Z. A.; Souza, L. G. (2009). Gênero e Escola: Reflexões sobre Representações e Práticas Sociais. In Almeida, A. M. O.; Jodelet, D. (Eds.), Interdisciplinaridade e diversidade de paradigmas (pp. 225-244). Brasília, D.F: Thesaurus Editora.) destacam, a valorizar os mundos conversacionais que se constroem ao redor das injunções institucionais, mundos que guardam enorme complexidade - tradições do passado e contradições e novidades do presente.
Referenciadas nessas perspectivas, priorizamos, na pesquisa, o campo conversacional para identificar valores, ideias e práticas que sustentam a lógica e a manutenção dos encaminhamentos escolares por educadores e profissionais da saúde. Procuramos, nas narrativas dos profissionais, pontos de intersecção, convergências e divergências, em relação aos encaminhamentos escolares, na expectativa de ampliar a compreensão dos conhecimentos produzidos e sustentadas por ambos os grupos.
Método
Delimitamos dois espaços no trajeto dos encaminhados: uma Escola de Ensino Fundamental e um serviço de avaliação e direcionamento a outros serviços especializados - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (Cefai) - ambos do sistema educacional público do município de São Paulo (SP) e situados na região leste da capital1 1 Mediante a apresentação da assinatura dos Termos de Autorização de ambas as instituições, o projeto de pesquisa foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número: 28555014.0.0000.5505 e obteve parecer de aprovação para seu desenvolvimento, em 28/05/2014, com o número 664.993. .
O Cefai é responsável por acompanhar alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação, público atendido pela educação especial, mas na época em que a pesquisa foi desenvolvida, em 2014, ele também dispunha de uma Equipe Multidisciplinar, pertencente ao Programa Inclui2 2 Instituído pelo Decreto nº 51.778, de 14 de setembro de 2010 para dar suporte à inclusão nas escolas municipais da Secretaria Municipal de São Paulo. , cuja função era avaliar os alunos encaminhados, indicar atendimento na rede médica e orientar profissionais e escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e da modalidade de educação de jovens e adultos da rede municipal. Nosso foco de interesse esteve nessa equipe de triagem, para quem as escolas eram orientadas a encaminhar seus alunos com problemas de escolarização.
Assim, participaram da pesquisa, integrantes da Equipe Multidisciplinar (Equipe Multi) - a Psicóloga (Psico), a Fonoaudióloga (Fono) e a Assistente Social (AS). Além delas, participaram a Coordenadora do Centro (CC) e profissionais indicadas por ela: uma professora, especialista em educação especial (Professora de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - Paai), e uma Assistente Técnica (Assistente Técnica da Diretoria de Orientação Técnico- Pedagógica - ATE), totalizando seis participantes na instituição Cefai.
Para selecionar a escola pesquisada, tentamos identificar no Cefai a escola com maior número de solicitações, em determinado tempo, mas não foi possível por ter havido perda de dados, segundo a Equipe. Assim, a própria Equipe indicou a escola que considerou ter encaminhado mais alunos ao Cefai, no ano de 2013.
Essa escola de ensino fundamental está localizada na periferia da região leste da cidade e contava, no ano de 2014, com 49 docentes e, aproximadamente, 600 alunos divididos entre os turnos matutino e vespertino3 3 Dados obtidos no site da prefeitura, no Projeto pedagógico da Escola e no depoimento do diretor. . A equipe de gestão dispunha de Diretor, dois assistentes de direção e dois coordenadores. Selecionamos, para participar da pesquisa, o Diretor, uma Coordenadora Pedagógica e uma Assistente de Direção e duas professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, apontadas pela coordenação, em razão de terem encaminhado alunos para o Cefai, no ano de 2013. Desse modo, somando os profissionais dos dois espaços, a pesquisa contou com 11 participantes.
Na pesquisa, procuramos compreender como a escola identifica crianças e jovens que considera com algum problema que possa justificar suas dificuldades escolares e como realiza o encaminhamento para a triagem. Ao mesmo tempo, investigamos como o Cefai, ao receber a criança ou o jovem, responde à escola. Para tanto, analisamos documentos institucionais em ambos os espaços, fizemos observações e registros, durante o trabalho de campo e realizamos entrevistas com os participantes selecionados. O período da pesquisa, contando desde os primeiros contatos para o aceite das instituições envolvidas, compreendeu de dezembro de 2013 a novembro de 2014.
No Cefai, analisamos a agenda de atendimento do ano de 2013, na qual constavam os nomes dos alunos, das respectivas escolas de origem e os registros desses atendimentos. Não nos foi autorizado o acesso aos prontuários dos alunos encaminhados. Na escola, analisamos o Projeto Pedagógico (PP) e o Regimento Escolar, para melhor caracterizar a unidade, bem como lemos os relatórios dos encaminhamentos de alunos para o Cefai, para onde, em 2013, foram destinados 12 alunos.
Foram 17 visitas à escola e oito ao Centro4 4 Na escola, as visitas ocorreram com permanências que variaram de 30 minutos a 5 horas e, no Centro, duraram entre 1 e 3 horas. , durante as quais ocorreram leitura de documentos, observações das rotinas de trabalho, contatos informais com os participantes, registrados em um caderno de campo e entrevistas. As entrevistas foram realizadas com base em roteiros semiestruturados (Lüdke & André, 1986Lüdke, M.; André, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. São Paulo: EPU.) que buscaram explorar opiniões ou representações sobre os problemas escolares e os encaminhamentos. Primeiramente, foram realizadas as entrevistas com os profissionais do Cefai e, posteriormente, com os profissionais da escola selecionada. As entrevistas, gravadas em áudio e transcritas para análise e categorização, foram individuais, exceto quando solicitado para que não ocorresse dessa forma, como aconteceu com a Equipe Multi, que pediu para que a entrevista fosse conjunta, justificando que o tempo de suas integrantes era restrito para a participação. Da mesma forma, a entrevista com a Coordenadora do Cefai, que se iniciou individualmente, foi realizada, a pedido dela, junto com a Assistente Técnica Educacional, sob o argumento de que era ela quem estava diretamente envolvida com o público pesquisado.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e, como lembra Gomes (2010Gomes, R. (2010). Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In Minayo, M. C. S. (Ed.), Pesquisa social. Teoria, método e criatividade(pp. 79-108). Petrópolis, RJ: Vozes., p. 79), o foco de uma pesquisa dessa natureza “não é contar opiniões ou pessoas”, mas “a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema”. Assim, organizamos as respostas por similitude de conteúdo, verificando convergências e divergências e, a partir dessa organização, elaboramos categorias às quais foram agregados dados referentes às análises dos documentos institucionais, as observações e os registros feitos durante o trabalho de campo.
No presente relato, pela limitação do espaço, vamos discutir, com apoio da literatura pertinente, os dados produzidos na Escola e no Centro relativos a fluxo dos alunos encaminhados, algumas características dos encaminhados, motivos do encaminhamento e expectativas quanto aos resultados.
Resultados e Discussões
O fluxo dos alunos
Ao analisar os documentos da Escola, verificamos no Regimento Escolar de 2013 que “o aluno identificado com alguma necessidade específica que mereça avaliação deve ser encaminhado para serviços específicos”. Procuramos levantar como esse fluxo ocorria, segundo as participantes da escola e do Centro e confrontamos seus depoimentos e conversas. Selecionamos alguns trechos esclarecedores sobre como o fluxo é percebido.
No relato das duas professoras participantes5 5 Identificadas, respectivamente, por P1 e P2. Ambas são professoras dos anos iniciais e, na época da pesquisa, estavam na escola havia 04 anos, mas com experiência profissional anterior. A P1 tinha 25 anos de exercício docente e a P2 04 anos, mas foi, por 15 anos, funcionária de secretaria escolar na SME. , pudemos observar que elas seguem uma hierarquia, pois, quando identificam algum “problema de aprendizado” em seus alunos informam a gestão e aguardam a decisão.
...então, dificilmente eu chamo a mãe, dificilmente eu peço para encaminhar, eu falo do problema do aprendizado, aí fica com eles aí da gestão se querem ou não encaminhar... eu não pensei em encaminhamento, eu pensei que pudesse ter uma ajuda e eles que encaminharam. (P1)
... eu passo para a coordenação, faço o meu relatório e encaminho para ela, ela analisa, acompanha o caso e conversa com a mãe e solicita. (P2)
Merece destaque o fato de que não reconhecem que o primeiro passo dado por elas é o que desencadeia o fluxo que poderá marcar a eventual diferença como problema. A Coordenadora Pedagógica (CP) menciona que a decisão é tomada entre coordenadores, mas, ao mesmo tempo, afirma que atende ao pedido ou à exigência do professor e destaca que a decisão final é da equipe externa à escola.
A professora fala comigo e eu e o outro coordenador decidimos e a gente leva, o professor pediu a gente leva e o Inclui decide se chama ou não, é eles que decidem eu só encaminho... Aí elas falam “Fulana, vamos mandar o relatório”, tudo bem, elas estão exigindo, vou mandar, porque depois vai que tenha mesmo alguma coisa, não vão ficar nas minhas costas... Há casos que é melhor a gente encaminhar para verificar, mesmo achando que vai vir negativo, né, mas vamos mandar... quando eu consigo convencer o professor eu não mando...
Sua fala mostra insegurança e apreensão e, por ter dúvida, envia o caso para frente, para partilhá-lo com outros profissionais. No entanto, o que precede o encaminhamento, as questões que o desencadeiam e seus efeitos sobre a vida do aluno são pouco discutidos na escola. Os supostos casos identificados parecem gerar reações semelhantes a quem pega uma batata quente e imediatamente passa adiante, sem esfriá-la.
Buscamos indagar o Diretor (D) e a Assistente de Direção (AD) se havia critérios e procedimentos definidos para os encaminhamentos e que tipo de discussão pautava a tomada de decisão por eles. A resposta do Diretor também indicou dúvidas e incertezas.
Tem essa discussão, mas é essa uma discussão que atravessa o fazer pedagógico aqui. A gente tem o Cefai, na hora que você tem o aluno, vamos fazer o encaminhamento, vamos fazer um diagnóstico ou pedir pro Cefai, se é um problema comportamental ou se tem alguma outra questão, mas como às vezes a gente não tem uma prática, um procedimento, a gente já tem dificuldade de lidar com isso, lidar com essas situações e tem situações que é claramente, vamos dizer assim, às vezes você tem um aluno que é difícil identificar. (D)
A AD, por sua vez, descreve como procede perante uma situação em que um aluno apresenta dificuldades escolares.
Então, esse menino já tinha sido encaminhado para o Inclui, aquela Equipe Multidisciplinar. Já tinha sido encaminhado para o Conselho Tutelar, em anos anteriores. Chamou-se a mãe... “olha, seu filho tá fazendo isso... tá acontecendo alguma coisa em casa?” Porque, às vezes, pode acontecer... um problema na família, aqui tem muitos filhos de pais presidiário... muito, muito... então desestrutura um pouco a família... o alcoolismo desestrutura muito a criança aqui na Escola ... ou tá acontecendo uma agressão dentro de casa... você vai percebendo... então um dos encaminhamentos que a gente faz é, com cuidado, chamar os responsáveis... e... ver o que está acontecendo...porque ele está fazendo aquilo... ver se tem algum problema de saúde... orientar pra levar até um posto de saúde... que ... ver se ele já fez um exame oftalmológico... se já fez um exame neurológico... a gente vai primeiro para saúde... não é saúde o caso do menino... então tá... não é familiar ... o caso do menino... sobrou para a aprendizagem... para dificuldade de aprendizagem...é... então, a gente vai eliminando algumas coisas... é por eliminação. (AD)
Em sua fala, fica claro que a escola como fator que possa contribuir para as dificuldades escolares vem por último; é por “eliminação” que “sobra” para a escola.
O que as várias afirmações dessa equipe escolar, relativas aos problemas de escolarização de determinadas crianças e que levam ao encaminhamento, podem revelar?
Aquino (1996Aquino, J. G. (1996). A desordem na relação professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In Aquino, J. G. (Ed.), Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas (pp. 39-55). São Paulo: Summus,, p. 95) afirma que “a lógica do encaminhamento ininterrupto é irmã gêmea da desincumbência profissional”, no entanto, gostaríamos de problematizar o significado dessa “desincumbência”. O que observamos no cenário escolar em questão foi a insegurança de educadores sobre como agir com aluno que escapa ao que é considerado padrão, “aluno que é difícil identificar”. A instituição escolar moderna trabalha com padrão médio de desempenho em função de seu modus operandi que impõe um currículo comum para ser desenvolvido em tempo e espaço definidos para conjuntos de alunos organizados pretensamente de modo homogêneo, considerando idade e nível de conhecimento e habilidades. Nesse contexto, os que não são bem-sucedidos parecem não lhe pertencer e a possibilidade de encaminhamento para equipes de saúde soa lógica, pois essas equipes têm, por ofício, atender e diagnosticar casos individualizados. São os “especialistas certos”, como diz a P1:
...a minha expectativa é que a criança realmente seja encaminhada para os especialistas certos e que ela chegue assim mais saudável e pronta para atender às minhas expectativas, que pra mim todo mundo estaria lendo e escrevendo maravilhosamente bem. (P1)
Crianças que não “atendem às expectativas” não se encaixam na rotina formativa e precisam de “especialistas certos”. De certa forma, a escola da sociedade industrial também se tornou uma escola industrial e não atender a expectativas é não se adaptar a uma espécie linha de montagem, demandando assim tratamento mais artesanal. Talvez uma questão a ser enfrentada na sociedade pós-industrial seja precisamente entender como desindustrializar a escola, de forma que não precise mais segregar os considerados fora do padrão.
No âmbito do Centro, os depoimentos das profissionais da Equipe Multi são convergentes com os apresentados pelas educadoras da escola, quando demonstram compreender que deverão cumprir o papel de justificar e ou resolver casos insolúveis para a escola, papel que algumas delas explicitamente recusam.
...acho que elas esperam... que venha uma criança traquina e a gente devolva como um anjo, acho que é isso... querem uma varinha de condão, eu sinto muito, nós não temos. (Psico)
Acho que quando elas encaminham elas estão pedindo mesmo um auxílio, porque elas não estão dando conta, a partir do momento que encaminha é porque não está dando conta na sala de aula. (Fono)
...eu atendo toda a demanda menos a da educação especial, eu faço tudo na minha itinerância, menos formação; eu chego lá e quais são as demandas que eu levanto: da saúde, menos o pedagógico... você fala “caramba” em nenhum momento se falou do pedagógico... Por isso que eu acho que o Cefai... vai continuar olhando para este público que não é da educação especial por muito, muito tempo... (Paai)
... elas também não sabem como lidar com isso, elas querem uma solução mágica do problema, então elas acham que a gente chegou: Ah! Somos da DOT 6 6 Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em cada Diretoria Regional de Educação, por sua vez, havia uma Divisão de Orientação Técnico-Pedagógica (DOT-P). Essa estrutura, no entanto, foi alterada pelo Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016. ! Então temos uma solução mágica para esse problema, não é assim. (ATE)
De modo semelhante, a Coordenadora do Centro (CC) se posiciona a respeito dos encaminhamentos que as escolas realizam.
... a escola precisa aprender a identificar a demanda que ela tem... não que não vai ter que encaminhar, em determinados momentos para UBS, vai para os especialistas, vai ter que dialogar com o Cefai, com a DOT, mas é de um outro viés, é um viés de alguém que já se apropriou daquela situação, e não o viés de alguém que parece que “vum, manda tudo para lá, resolvam”, porque nós não vamos resolver, nós vamos tentar ajudar... Então, o encaminhamento é necessário, é, mas fora do encaminhamento como é que a gente discute aqui, a pedagogia, né. (CC)
Na escola estudada, encontramos uma situação que talvez fique no meio do caminho apontado pela coordenadora: nem se trata de uma escola que se “apropriou da situação”, nem está no viés do “vum, manda tudo para os especialistas”. Os dados mostram que, de um universo de cerca de 600 crianças e adolescentes matriculados nessa escola, pouco mais de uma dezena de crianças foi encaminhada ao Cefai, em 2013. No entanto, o não encaminhamento não define a qualidade da atenção dada ao processo escolar do aluno considerado problema, pois há aqueles que ficam sem cuidado algum, como sugere a Coordenadora do Centro:
...você vai ter aquelas Escolas que não sabem o que fazer, ela vai estar mesmo meio perdida, então esse menino vai ficar no bolo: ‘Vai que Deus te ajude’. Não sabem como lidar... deixa que fica, deixa que fica, amanhã a gente cuida, mas não cuida. (CC)
Algo semelhante foi apontado pela Psicóloga da Equipe Multi ao falar que o fato de as escolas não terem encaminhado o aluno considerado problema não significa que mudou sua visão sobre ele, pois, “o problema pode continuar lá”.
Quando recebe os alunos, a Equipe Multi, se necessário, os encaminha a outros serviços de saúde ou de suporte educacional especializado de reabilitação, para Psicopedagogas particulares e para o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), como assinala a Assistente Social (AS).
...a gente encaminha a mãe para fazer atendimento no CRAS, quando é uma questão mais social, mas a maioria das crianças que vêm com dificuldade de aprendizagem e que eu vejo que não é tão assim, eu mando pro CRAS a criança, porque lá vai ter um psicólogo com mais tempo para ele fazer um outro tipo de avaliação. Porque lá no CRAS eles já peneiram tudo, já entra a parte social.... Aqui, nossos casos são mais de ordem comportamental. (AS)
Esse depoimento deixa ver o obscuro campo das dificuldades escolares: a escola encaminha a criança com dificuldade de aprendizagem e a AS nem sempre valoriza essa demanda ou até a desqualifica com um “não é tão assim” e direciona essa criança para o CRAS, onde “peneiram tudo” e tem um profissional com mais tempo para fazer avaliação.
Recusar o papel de solucionar casos considerados insolúveis ou redistribuir esses casos para os que têm “mais tempo” ou “peneiram tudo” nos induz a pensar que a instituição que recebe os alunos também vive ímpetos de passar a batata quente adiante.
Algumas características dos encaminhados
Os dados formalizados dos números dos atendimentos do Centro não foram obtidos, como já mencionado, no entanto, analisando a agenda do setor, verificamos os nomes dos alunos e a escola que os encaminhou e chegamos aos agendados, atendidos ou não, no ano de 2013. Das 104 escolas que encaminharam alunos, tanto de educação infantil como de ensino fundamental7 7 A Diretoria Regional de Ensino à qual a escola pesquisada pertence tem cerca de 150 escolas de educação infantil e 50 escolas de ensino fundamental. Portanto, no ano de 2013, em torno de 50% das escolas da região encaminharam alunos para avaliação. , identificamos quatro escolas de ensino fundamental com maior número de encaminhamentos: a primeira com 21 alunos encaminhados; a segunda (a escola pesquisada) com 16; a terceira com 15e a quarta com 13 alunos. A escola pesquisada não foi a que contou com o maior número de encaminhamentos e tem números semelhantes às outras duas. Essa constatação parece indicar que a equipe está atenta para a criança encaminhada, sem se deter ao contexto específico do encaminhamento.
Souza (2007Souza, B. P. (2007). Apresentando a orientação à queixa escolar. In Souza, B.P. (Ed.), Orientação à queixa escolar(pp.97-118). São Paulo: Casa do Psicólogo .) já apontou para tal circunstância, ao estudar os encaminhamentos de queixas escolares e verificar que os profissionais de saúde, para sua atuação, não raramente, têm prescindido do contexto escolar, ignorando os determinantes e as variantes da vida da criança no ambiente escolar. É fato, no entanto, que a reversão dessa prática tem sido estimulada e discutida por acadêmicos e profissionais da educação e saúde e seus princípios já foram incorporados em determinadas orientações legais8 8 Por exemplo, a Portaria 6566/14 - SME de 24 de novembro de 2014 - que dispõe sobre a implantação e a implementação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - NAAPA, nas Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o inciso III do artigo 5º, esse Núcleo tem entre suas atribuições “identificar dificuldades e necessidades da Equipe Escolar em relação aos educandos, público-alvo desse serviço”. (Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 25 de novembro de 2014, p. 12) . No grupo dos 12 alunos encaminhados pela escola em 2013, havia 08 do sexo masculino e 04 do sexo feminino. Embora o grupo estudado seja pequeno, essa proporção segue a apresentada em pesquisas que encontram relação entre fracasso escolar e gênero, ancoradas em crenças sociais sobre as diferenças psicológicas entre os sexos, crenças que consideram os meninos com dificuldades de escolarização maiores e rendimento escolar menor do que as meninas (Trindade & Souza, 2009Trindade, Z. A.; Souza, L. G. (2009). Gênero e Escola: Reflexões sobre Representações e Práticas Sociais. In Almeida, A. M. O.; Jodelet, D. (Eds.), Interdisciplinaridade e diversidade de paradigmas (pp. 225-244). Brasília, D.F: Thesaurus Editora.).
Constatamos que cinco eram alunos do Ciclo I, sete do Ciclo II9 9 Mantivemos a nomenclatura dos relatórios. Na escola estudada, o Ciclo I abrangia do 1º ao 4º ano e o Ciclo II do 5º ao 8º ano, pois se tratava de uma escola de ensino fundamental de 08 anos, na época da pesquisa. O Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013, no entanto, alterou essa nomenclatura para Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º anos): Ciclo Interdisciplinar (4º ao 6º anos) e Ciclo Autoral (7º ao 9º anos). e, desse total, havia dez alunos com idade entre 09 e 14 anos, faixa etária coincidente com a fase da adolescência que, conforme observamos na fala da Assistente de Direção, é representada como de agravamento de possíveis problemas no processo de escolarização.
Quando ele é pequenininho, o que você vai fazendo? Você vai contornando essa situação na sala de aula; até uns 10 ou 11 anos, essa situação é meio que contornada na sala de aula. Conforme ele começa a passar a ser adolescente, ele já percebe que ele começa a ter uma fala, um poder, ele já consegue sair sozinho; se ele se revoltar, gritar, brigar, então é aí que acontecem os confrontos maiores. (AD)
Essa representação da adolescência nos remete a Ruotti, Alves e Cubas (2006Ruotti, C.; Alves, R.; Cubas, V. O. (2006). Violência na escola: um guia para pais e professores. São Paulo: Andhelp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.), quando apontam que, como toda instituição, a escola é palco de conflitos e contradições e sua atuação pode reforçar ainda mais certos comportamentos dos estudantes, ou assumir o desafio de mudar a cultura escolar e o padrão de interação entre os grupos, dando-lhes condições de romper tais padrões. Pelo depoimento, contudo, a condição etária é tratada como justificativa natural para eventuais problemas de escolarização.
Motivos dos encaminhamentos
Procuramos nos relatórios o que levou a escola a encaminhar os alunos para a avaliação. Segundo consta nos registros, foi a CP quem redigiu, em conjunto como corpo docente, os 07 relatórios dos alunos do Ciclo II; os relativos aos cinco alunos do Ciclo I, foram escritos pelos seus respectivos professores e todos seguiram o modelo de relatório fornecido pelo Programa Inclui. Dividido em três partes - 1. Descrição da condição de saúde; 2. Necessidades educacionais do aluno; 3. Desenvolvimento do aluno -, podemos afirmar que forma e conteúdo vão na linha da descrição de funções, questionável até para o público a que se destina e, em certa medida, desconsideram a construção social da criança e o peso da interação e das relações cotidianas no seu modo de ser e de aprender, assim como sua história escolar. O que se pergunta e como se pergunta dá margem a registros de informações estanques. Assim, o instrumento, muitas vezes único diálogo entre escola e equipe de triagem, também gera efeitos na escola já que é a exigência protocolar e forma de acesso ao Programa Inclui. Além disso, as perguntas lançam mão de um repertório que transita entre os saberes médico, pedagógico e psicológico.
Nenhum dos 12 alunos desse grupo apresentava diagnóstico da área de saúde que indicasse deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) ou Altas Habilidades, público específico do Programa Inclui. Para nenhum aluno foi indicada alguma dificuldade motora e apenas para um deles foi apresentada a suspeita de “baixa visão”. Observamos que as queixas foram descritas como “distúrbio” ou “dificuldade” intelectual, de aprendizagem ou no processo de alfabetização. Em seis relatórios10 10 Referentes a dois alunos do 5º ano, dois do 6º, um deles de uma aluna, um do 7º ano e um do 8º ano. , na descrição da “queixa principal”, estava explicitamente escrito que o/a aluno/a não conseguia “se alfabetizar”. É digno de nota que o ato de alfabetizar seja referido como regulado pelas próprias crianças. No relatório de oito deles - sete pertencentes a meninos11 11 Assim distribuídos: dois alunos do 4º ano, dois do 5º ano, um do 6º, um do 7º ano e um do 8º ano. e um de uma aluna do 4º ano - foram acrescentados problemas disciplinares ou de comportamento, expressos por meio de qualificativos como “agressivo”, “resistentes” ou demonstrando “irritabilidade”. “Timidez, letargia e apatia” foram outros qualificativos associados a duas meninas, respectivamente do 3º e do 6º ano. Ao menino do 5º ano, apontado com “baixa visão”, foi lhe atribuído “comportamento servil” porque se “sente inferiorizado diante dos colegas”. Apenas em um relatório, de uma aluna do primeiro ano, não havia referências negativas.
A percepção de que, para as educadoras que preencheram os relatórios, a razão do insucesso na alfabetização ou de outras dificuldades escolares está na própria criança pareceu reforçada quando lemos o que foi preenchido no item do formulário “funções cognitivas”. Encontramos em 11 relatórios menção a: “não se concentra”; “não consegue focar a atenção”; “pouca capacidade de concentração”; “dificuldade na memória de curto prazo”; “não consegue se concentrar por muito tempo”; “dispersa-se com facilidade, não apresenta memorização de leitura das letras do alfabeto”. Machado (2013Machado, A. M. (2013). Uma nova criança exige uma nova escola: a criação do novo na luta micropolítica. In Collares, C. A. L.; Moysés, M. A. A.; Ribeiro, M. C. F. (Eds.), Novas capturas, antigos diagnósticos na era dos transtornos (pp. 191-201). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras.) ressalta a importância de atentarmos para os “efeitos que os escritos”, muitas vezes, podem gerar, como “verdades”, como se o que “apontamos que está faltando no outro não carrega nenhuma relação conosco, com nossas vidas, com a vida” (Machado, 2013Machado, A. M. (2013). Uma nova criança exige uma nova escola: a criação do novo na luta micropolítica. In Collares, C. A. L.; Moysés, M. A. A.; Ribeiro, M. C. F. (Eds.), Novas capturas, antigos diagnósticos na era dos transtornos (pp. 191-201). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras., p.196).
É notável que essas crianças sejam observadas através da lente da falta, pois entre os 12 alunos encaminhados, há apenas um único e breve registro dando conta do que a aluna de 1º ano é capaz de realizar: “brinca com as outras crianças”; “gosta de participar das atividades sala de leitura, sala de informática”.
Essas constatações, no entanto, têm de ser cotejadas com outra que observamos nos registros dos relatórios a respeito das expectativas da escola para que ela seja orientada para resolver um problema para o qual os meios de que dispõe não são satisfatórios. Em seis deles, há explicitamente um pedido de “orientação” de especialistas para que possam “ajudar” as crianças em suas dificuldades. Ao se verem diante de problemas ligados ao desempenho, ao comportamento e às condições físicas, emocionais e sociais de alguns de seus alunos, as professoras se sentem pressionadas a dar respostas. E o que verificamos é semelhante ao encontrado por Barbiani (2008Barbiani, R. (2008). Da sala de aula à sala de atendimento: a produção do usuário do Programa de Saúde Escolar do Município de Porto Alegre (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, SC.) em sua pesquisa, quando afirma que a escola, por meio das respostas e não-respostas aos quesitos providências, encaminhamentos e resultados, reconhece-se no limite de suas (im)possibilidades, o que justificaria o encaminhamento à rede de equipamentos.
Esse limite que se revela em pedido de ajuda, reconhecido pela Equipe Multi em seus depoimentos, gostaríamos de reiterar, talvez deva ser tomado não como despreparo profissional ou não apenas como despreparo, mas como uma questão constitutiva da escola de massa, da escola de ensino simultâneo em que um professor ensina várias crianças simultaneamente como se fossem semelhantes, pois, pelos critérios de organização da sala de aula, estão na mesma faixa etária e têm níveis de conhecimento supostamente próximos. Nessa sala, pretensamente homogênea, o profissional é preparado para trabalhar com alunos cujo desempenho corresponda a uma média esperada e aqueles que escapam ao esperado não são compreendidos como uma questão sua, mas como um problema da criança e, por isso, deve ser investigado por quem tem tradição de individualizar os casos. E, por isso, a expectativa é grande para que seja feito um diagnóstico para os que discrepam da média.
Expectativas quanto aos resultados
Constatamos tanto na escola quanto no Cefai, a mesma sensação de trabalho inacabado e de frustração. As narrativas são convergentes quando o assunto é o desfecho dos encaminhamentos.
As professoras entrevistadas explicitam sua descrença na resolutividade do encaminhamento, embora nenhuma delas tenha deixado de fazê-lo.
... agora, esses encaminhamentos, eles deveriam ter retorno... não me ajudou em nada... não tem discussão entre a gente, a gente só sabe que foi encaminhado, ou que relatório a gente manda... eu sei de uma coisa, está muito falho, esta questão está falha, de levar uma criança, encaminhar uma criança e os professores não terem um retorno do que fazer... se o meu relatório chegou na mão da coordenadora e não foi pra frente, minha expectativa está morta, espero retorno e não tem retorno. (P1)
...eu vou ser bem sincera, eu não consegui nenhum retorno, nenhum relatório ainda... então a gente não recebe retorno, não consegue o suporte para esta criança, eu não recebi nenhum... eu não me conformo, porque não tem acompanhamento. Por que não tem acompanhamento? Tem um monte de sigla aí, é Cefai, é não sei o quê, é CAPS, é... Tá, tá tudo aí. Começa, que felicidade! Começou e depois virou o quê? Nada. É, não tem retorno. (P2)
Ausência de retorno e de resolutividade foram afirmações igualmente feitas por parte da gestão escolar.
Foi passado um resultado dessa avaliação bem superficial, como se não tivesse problema, ou se o problema fosse só social, a parte de aprendizagem não foi muito vista, não se tocou, nem sei, porque foi uma Fonoaudióloga, uma psicóloga e uma assistente social.
...a gente não tem uma avaliação conclusiva de todos. Sinceramente, veio aqui fez as avaliações e depois foram feitos alguns encaminhamentos. (D)
Eu não vi retorno. Eu levei... outro aluno, eu acompanhei.
Não voltou nada. (AD)
Todas buscam respostas aos casos encaminhados, atribuindo o problema ora às profissionais do Centro de avaliação e ora aos alunos que não comparecem aos atendimentos o que também inviabiliza a avaliação.
Até hoje a gente está esperando do Carlos, se bem que ele não foi nas duas últimas sessões, talvez por isso não tenha nada pronto... Nenhum dos alunos foi até o fim. De todos os alunos que eu levei, abandonaram... talvez por isso não tenha nada pronto. (CP)
De fato, foi-nos esclarecido pela Equipe Multi que, ao finalizarem um caso, após o procedimento protocolar de 3 ou 4 atendimentos, é elaborado um documento, mas as faltas dos alunos comprometeram a finalização dos casos e, por isso, não foi realizado relatório para a escola estudada e a interlocução do programa com a instituição ficou comprometida.
...a gente não tem o fechamento disso. Era interessante a gente saber o que aconteceu também, uma coisa mais concreta... acho que fica solto, fica frouxo. O que a gente faz com isso? Aí que eu falo que entra a frustração. (Psico)
Não tivemos acesso direto aos direcionamentos dados pela Equipe a cada caso encaminhado, mas as profissionais nos informaram que encaminharam os alunos: dois para UBS (psicólogo), um para CAPS (psicólogo e psiquiatra) e um para o CEMA (oftalmologista); dois para a clínica de especialidades do Hospital Santa Marcelina (Fonoaudiologia); um para neurologia; um para o CRAS para obtenção do programa Bolsa Família, e três irmãos para o CREAS12 12 Centro de Referência Especializado de Assistência Social. e Conselho Tutelar. Segundo o depoimento das profissionais, os encaminhamentos foram sugeridos às famílias e aos alunos, mas consideraram todos os casos inconclusos, pois faltaram ou não compareceram para os atendimentos posteriores.
A interlocução dentro do próprio serviço também foi apontada como ineficaz pelas profissionais. Alegaram, por exemplo, que não tiveram retorno de casos discutidos com as Paai, especialmente após o segundo semestre de 2014, quando houve troca desses profissionais na equipe.
A intenção era a gente avaliar, sentar com a Paai responsável e ela traçar estratégias pedagógicas para auxiliar o professor, só que isso morre aqui, não está chegando nelas, para ter essa devolutiva. (Fono)
... Então, a escola (estudada), eu diria que é um caso, uma escola que grita, que eram casos bem pesados e a gente não sabe o que aconteceu... a gente não tem mais esse contato, com o que está acontecendo... a frustração do meu trabalho é essa, a gente faz um trabalho superbacana, bem amarrado e não tem retorno. Às vezes, o que a gente sabe, é engavetado, porque é aquela velha história, é mais uma criança... quando entrei aqui, vim com a maior sede, pois achava que a gente ia ter força para isso, mas quando eu fui na primeira reunião com a organização médica contratada 13 13 Trata-se de uma organização médica, cujo nome omitimos, responsável pela contratação e acompanhamento da Equipe Multidisciplinar que compõe o Programa. ... eu falei dessa criança na época, e ele falou “é uma Joana, vai ter mais de cem”’, eu falei “ok, mas ela está comigo ali, ela não está no meio das 99”, ele falou “não tem o que se fazer”. Então, é triste. Ou seja, eu vi, eu sei, e eu não posso fazer nada. (Psico)
Há, assim, diferenças entre as expectativas da escola, da empresa que gerenciava o Programa Inclui, na época, e da Psico. Enquanto a escola encaminha casos que fogem do padrão médio de desempenho escolar e deposita nos encaminhamentos suas expectativas para solucionar o problema, a organização médica que gerencia o Programa, segundo a Psico, lida com os casos como se fossem a regra do serviço - “as mais de cem joanas”. Essa divergência é apontada pela Psico como fator de frustração e tristeza, pois suas expectativas se mostram maiores do que as possibilidades que lhe são dadas.
De alguma forma as profissionais da Equipe Multi buscam ressaltar as qualidades do trabalho que realizam e reforçar a ineficiência dos demais, talvez para salvar o próprio trabalho inacabado. Reclamam da impertinência das escolas que pedem e encaminham, na avaliação delas, quem não deveria e, ao mesmo tempo, falam de casos “bem pesados”. A Equipe, nas entrevistas, ainda denuncia falhas e contradições institucionais como trocar de chefe com descontinuidade no trabalho, falta de respaldo, fluxo solto e falta de comunicação, desconhecimento. Enfim, a frustração, em especial da Psicóloga, que está há mais tempo no serviço, marcou as entrevistas.
A situação também demonstra que as profissionais entrevistadas sabem muito pouco sobre o que se passa nas escolas e acabam por reproduzir formas tradicionais de atendimento em que desconsideram a queixa escolar como expressão da complexa rede de relações que acontece na escola e como se constitui o longo processo de produção do fracasso escolar (Souza & Braga, 2014Souza, M. P. R.; Braga, S. G. (2014). Da Educação para a Saúde: trajetória dos encaminhamentos escolares de 1989 a 2005. In Dias, E. T. D. M.; Azevedo, L. P. L. (Eds.), Psicologia Escolar e Educacional: Pesquisas, Percursos e Intervenções. (pp. 41-63). Jundiaí-SP: Paco Editorial., p.13). Um dos efeitos dessa forma de atuação é o desencontro entre expectativas, perceptível nos depoimentos do Diretor e da Psicóloga sobre os mesmos casos de alunos. A psicóloga avaliou como um trabalho “superbacana, bem amarrado”, mas que “não tem retorno” e o Diretor avaliou como “superficial” e sem “avaliação conclusiva”.
Em síntese, encontramos, entre os participantes da pesquisa, profissionais e educadores empenhados e preocupados com as crianças e os jovens estudantes, mas frustrados e angustiados por não alcançarem as expectativas de resolutividade que criaram em torno do Programa.
Considerações finais
Investigamos os encaminhamentos de alunos de uma escola para um Centro de triagem e direcionamento a serviços especializados, ambos pertencentes à SME de São Paulo, analisando as representações que motivam esses encaminhamentos, as concepções e práticas dos educadores e profissionais da saúde envolvidos nesse trajeto bem como o percurso de ida e volta dos encaminhados. Entrevistamos profissionais de ambas as instituições, além de analisar relatórios dos alunos encaminhados e documentos institucionais. Buscamos nas narrativas dos participantes da pesquisa divergências e convergências relativas aos encaminhamentos.
A análise dos dados nos permitiu verificar que a forma como aconteceu os encaminhamentos, no contexto estudado, anuncia e denuncia representações de desqualificação mútua dos envolvidos - a escola que encaminha e o centro que recebe são reciprocamente considerados ineficientes. Essa desqualificação parece se ancorar na convicção de que cada um procura fazer sua parte, mas o outro não corresponde às expectativas.
A ideia de que a escola encaminha determinados alunos para os serviços especializados porque está pedindo ajuda, porque não sabe como agir, foi convergente entre os entrevistados, mas a partir de perspectivas diferentes.
Os educadores admitem que não sabem como lidar com essas crianças e, por suas manifestações, percebemos que não consideram estar na alçada deles. Pareceu-nos que não se trata de “desincumbência profissional”, mas da insegurança de educadores que não sabem atuar em casos de alunos cujo desempenho ou comportamento escapam ao considerado padrão. Um não saber agir que resulta natural no interior de uma instituição que trabalha com um currículo comum a ser desenvolvido em determinado tempo e espaço para um conjunto de alunos organizados em classes pretensamente homogêneas segundo idade e habilidades. Nesse modus operandi, os que não são bem-sucedidos, que não apresentam o padrão esperado ou o desempenho médio parecem não lhe pertencer e a possibilidade de encaminhamento para equipes de saúde soa lógico, pois essas equipes têm, por ofício, diagnosticar casos individualizados.Nas manifestações dos educadores participantes (por escrito, nos relatórios, ou nas entrevistas) observamos, por exemplo, o uso do verbo reflexivo “alfabetizar-se” como se o ato de alfabetizar fosse regulado pelas próprias crianças, um ato praticado e recebido por elas. Assim, para a escola, parece compreensível suspeitar que aqueles que “não se alfabetizam” devem ser investigados.
Os depoimentos das profissionais do Centro de triagem são convergentes com os apresentados pelas educadoras da escola, quando demonstram compreender que deverão cumprir o papel de resolver os casos insolúveis para a escola, papel que algumas delas explicitamente recusam e reclamam da impertinência das escolas que pedem e encaminham, na avaliação delas, quem não deveria. Nas entrevistas, também denunciam falhas e contradições institucionais como descontinuidade no trabalho pela troca de chefia, falta de respaldo, fluxo solto, falta de comunicação, desconhecimento.
As representações revelam expectativas frustradas, casos sem retorno, situações vistas como inconclusas, por ambos os lados. A rede de ideias que sustenta os encaminhamentos traz uma multiplicidade de representações que se ancoram na patologização do biológico, na culpabilização do aluno e de suas famílias. Apresentam ainda, concepções que culpabilizam professores e escola, especialmente, quando os que falam estão mais distantes da sala de aula e da própria escola.
Nessa lógica de encaminhar para a saúde o que não funciona bem na educação, as expectativas não são correspondidas. A instituição que deveria dar apoio, falha em seu apoio; que deveria trabalhar em rede, falha na consolidação da rede. E a escola se vê sem amparo, sem retorno, pois não encontrou no serviço disponível o socorro que queria.
Tendo como referência o grupo pesquisado, compreendemos que avaliar e encaminhar alunos com queixas escolares cria expectativas, mas não significa cuidar do problema, por serem requeridas ações, tanto da e na educação como da e na saúde, muito mais integradas e consistentes no âmbito de políticas públicas.
Os achados indicam que a Escola precisa de apoio de outras áreas para pensar o aluno considerado problema. O mesmo podemos dizer sobre os que estão do outro lado da ponte, o de quem recebe o encaminhamento escolar. Eles também precisam de apoio para criar um campo de discussões para não fazer mais do mesmo com a possibilidade de atuar em rede e somar competências.
Referências
- Abreu, M. H. R. M. (2006). Medicalização da Vida Escolar (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.
- Aquino, J. G. (1996). A desordem na relação professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In Aquino, J. G. (Ed.), Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas (pp. 39-55). São Paulo: Summus,
- Barbiani, R. (2008). Da sala de aula à sala de atendimento: a produção do usuário do Programa de Saúde Escolar do Município de Porto Alegre (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, SC.
- Barkley, R. (2002). Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): Guia completo e autorizado para os pais, professores e profissionais de saúde Porto Alegre: Artmed.
- Gracia, T. I. (2005). O Giro Linguístico. In Iñgues, L. (Ed.), Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais (pp. 19-49). Petrópolis, R.J.: Vozes.
- Gomes, R. (2010). Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In Minayo, M. C. S. (Ed.), Pesquisa social. Teoria, método e criatividade(pp. 79-108). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Guarido, R. L. (2013). “O que não tem remédio remediado está”. Medicalização da vida e algumas implicações da presença do saber médico na educação (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
- Lüdke, M.; André, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas São Paulo: EPU.
- Machado, A. M. (1996). Reinventando a avaliação Psicológica (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
- Machado, A. M. (2013). Uma nova criança exige uma nova escola: a criação do novo na luta micropolítica. In Collares, C. A. L.; Moysés, M. A. A.; Ribeiro, M. C. F. (Eds.), Novas capturas, antigos diagnósticos na era dos transtornos (pp. 191-201). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras.
- Mesquita, R. C. (2009). A Implicação do Educador diante do TDAH: Repetição do Discurso Médico ou Construção Educacional? (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Educaçãoda Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.
- Minayo, M. C. S. (2009). O conceito de Representações Sociais dentro da sociologia clássica. In Guareshi, P. A.; Jovchelovitch, S. (Eds.), Textos em representações sociais(pp. 89-111). Petrópolis, RJ: Vozes .
- Moscovici, S. (2012). Representações Sociais: investigações em Psicologia social Petrópolis, RJ: Vozes .
- Patto, M. H. S. (1996). A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldia São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Pereira, J. G. (2010). A Crítica à medicalização da Aprendizagem na Produção Acadêmica Nacional(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, SP.
- Rotta, N. T.; Ohlweiler, L.; Riesgo, R.S. (2006). Transtornos de Aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar Porto Alegre. Artmed.
- Ruotti, C.; Alves, R.; Cubas, V. O. (2006). Violência na escola: um guia para pais e professores São Paulo: Andhelp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
- São Paulo(município). Portaria Nº 6.566, de 24 de novembro de 2014 Dispõe sobre a implantação e implementação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - NAAPA, nas Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação Diário Oficial do Município de 25 de novembro de 2014, p. 12.
- Souza, B. P. (2007). Apresentando a orientação à queixa escolar. In Souza, B.P. (Ed.), Orientação à queixa escolar(pp.97-118). São Paulo: Casa do Psicólogo .
- Souza, M. P. R. (1996). A queixa escola e a formação do psicólogo (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, SP.
- Souza, M. P. R.; Braga, S. G. (2014). Da Educação para a Saúde: trajetória dos encaminhamentos escolares de 1989 a 2005. In Dias, E. T. D. M.; Azevedo, L. P. L. (Eds.), Psicologia Escolar e Educacional: Pesquisas, Percursos e Intervenções (pp. 41-63). Jundiaí-SP: Paco Editorial.
- Trindade, Z. A.; Souza, L. G. (2009). Gênero e Escola: Reflexões sobre Representações e Práticas Sociais. In Almeida, A. M. O.; Jodelet, D. (Eds.), Interdisciplinaridade e diversidade de paradigmas (pp. 225-244). Brasília, D.F: Thesaurus Editora.
-
1
Mediante a apresentação da assinatura dos Termos de Autorização de ambas as instituições, o projeto de pesquisa foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número: 28555014.0.0000.5505 e obteve parecer de aprovação para seu desenvolvimento, em 28/05/2014, com o número 664.993.
-
2
Instituído pelo Decreto nº 51.778, de 14 de setembro de 2010 para dar suporte à inclusão nas escolas municipais da Secretaria Municipal de São Paulo.
-
3
Dados obtidos no site da prefeitura, no Projeto pedagógico da Escola e no depoimento do diretor.
-
4
Na escola, as visitas ocorreram com permanências que variaram de 30 minutos a 5 horas e, no Centro, duraram entre 1 e 3 horas.
-
5
Identificadas, respectivamente, por P1 e P2. Ambas são professoras dos anos iniciais e, na época da pesquisa, estavam na escola havia 04 anos, mas com experiência profissional anterior. A P1 tinha 25 anos de exercício docente e a P2 04 anos, mas foi, por 15 anos, funcionária de secretaria escolar na SME.
-
6
Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em cada Diretoria Regional de Educação, por sua vez, havia uma Divisão de Orientação Técnico-Pedagógica (DOT-P). Essa estrutura, no entanto, foi alterada pelo Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016.
-
7
A Diretoria Regional de Ensino à qual a escola pesquisada pertence tem cerca de 150 escolas de educação infantil e 50 escolas de ensino fundamental. Portanto, no ano de 2013, em torno de 50% das escolas da região encaminharam alunos para avaliação.
-
8
Por exemplo, a Portaria 6566/14 - SME de 24 de novembro de 2014 - que dispõe sobre a implantação e a implementação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - NAAPA, nas Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o inciso III do artigo 5º, esse Núcleo tem entre suas atribuições “identificar dificuldades e necessidades da Equipe Escolar em relação aos educandos, público-alvo desse serviço”. (Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 25 de novembro de 2014São Paulo(município). Portaria Nº 6.566, de 24 de novembro de 2014. Dispõe sobre a implantação e implementação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem - NAAPA, nas Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação. Diário Oficial do Município de 25 de novembro de 2014, p. 12., p. 12)
-
9
Mantivemos a nomenclatura dos relatórios. Na escola estudada, o Ciclo I abrangia do 1º ao 4º ano e o Ciclo II do 5º ao 8º ano, pois se tratava de uma escola de ensino fundamental de 08 anos, na época da pesquisa. O Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013, no entanto, alterou essa nomenclatura para Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º anos): Ciclo Interdisciplinar (4º ao 6º anos) e Ciclo Autoral (7º ao 9º anos).
-
10
Referentes a dois alunos do 5º ano, dois do 6º, um deles de uma aluna, um do 7º ano e um do 8º ano.
-
11
Assim distribuídos: dois alunos do 4º ano, dois do 5º ano, um do 6º, um do 7º ano e um do 8º ano.
-
12
Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
-
13
Trata-se de uma organização médica, cujo nome omitimos, responsável pela contratação e acompanhamento da Equipe Multidisciplinar que compõe o Programa.
-
*
O presente artigo discute dados da pesquisa que embasou a dissertação de mestrado “Encaminhamentos escolares: ressonâncias e dissonâncias entre profissionais de educação e de saúde” apresentada ao Programa de Pós-Graduação Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo - campus Guarulhos.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Dez 2019 -
Data do Fascículo
Dez 2019
Histórico
-
Recebido
16 Dez 2018 -
Aceito
06 Jun 2019