Na edição anterior, trouxemos alguns aspectos da produção e da divulgação científica especializada. Tratamos da importância de entender os períodicos especializados considerando que “mais que uma conversa entre pares, os periódicos se constituem em espaços de legitimação da ciência extra campus, como lugar privilegiadado de diálogo entre a ciência e a sociedade” (LemD 2019-3). Neste texto gostaríamos de pensar a relação entre periódicos científicos, cultura científica e credibilidade.
Trazer a noção de cultura para junto da ciência, em tempos de movimentos como os de antivacina e de afirmação de que a Terra é plana, pode nos ajudar a compreender, para além do papel da ciência, o desenvolvimento econômico e social, também como forma de constituição simbólica de uma realidade, a partir de políticas públicas que valorizem o conhecimento.
Eagleton considera que “a cultura nos transfere do natural para o espititual” (2005EAGLETON, T. A ideia de cultura. Trad. de Sandra Castello Branco. São Paulo: Editora UNESP, 2005., p. 15). Segundo o autor, a cultura pode denotar, de início, um processo completamente material; metaforicamente, a posteriori refere-se a questões do espírito. Para ele, a palavra cultura, em seu desdobramento semântico, carrega a mudança da humanidade do rural para o urbano, do cultivo à ciência. Caracteriza-se “como um complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico.” (EAGLETON, 2005EAGLETON, T. A ideia de cultura. Trad. de Sandra Castello Branco. São Paulo: Editora UNESP, 2005., p. 54).
Foseca e Oliveira (2015, p. 447) afirmam que,
Dependendo do contexto, os investimentos privilegiam diferentes aspectos da atividade científica - como o raciocínio, o linguajar, a imaginação, o aparato conceitual, o sistema de informação, a metodologia, os instrumentos, os procedimentos, as instituições, a especialização, a hierarquização, as descobertas, as aplicações e suas potencialidades. O termo cultura parece englobar esses diversos aspectos, articulando-os numa rede de significações em que cada elemento se articula e se reforça com os outros.
Ao compreendermos a cultura como articuladora de saberes, o conhecimento científico passa a ser um fator importante para a interpretação e compreensão do mundo e dos sujeitos, que se realiza como princípio constitutivo das escolas e das universidades, e daí advém a importância das revistas especializadas, que funcionam como produtoras e divulgadoras de ciência. São elas que, em seu modo próprio de funcionamento, levam aos leitores e consumidores de ciência, de conhecimento, as pesquisas desenvolvidas em diferentes áreas.
Desde os filósofos gregos, nos preocupamos em compreender a techné e a episteme, uma dedicada à técnica, à realização de artefatos culturais, e a outra voltada ao conhecimento e ao saber. Por sua vez, a ciência, na atualidade, busca cada vez mais que estas duas nominações andem juntas. Neste texto, o conceito de cultura científica se constitui como uma noção muito importante para estabelecermos a relação entre cultura e ciência, a partir de estudiosos da linguagem, da ciência e da cultura, conforme vemos nas próximas seções.
A CULTURA CIENTÍFICA
De acordo com Vogt (2011VOGT, C. De ciência, divulgação, futebol e bem-estar cultural. In: PORTO, C. de M.; BROTAS, A.M.P.; BORTOLIERO, S. T. (Org.). Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2011.), a cultura científica pode ser vista pela metáfora de uma espiral que envolve pelo menos três possibilidades de sentido: a) a cultura da ciência; b) a cultura pela ciência; e c) a cultura para a ciência. Daí a importância do processo, do continuum, necessário para a constituição da cultura científica que busca dar conta de um tempo-espaço que envolve professores, pesquisa, ensino, coleta de dados, entrevistas, leituras, produção, divulgação, pesquisadores, instituições, debates com a sociedade, com o cidadão. Um ciclo que se retroalimenta, conforme ilustra a figura 1 (VOGT, 2011VOGT, C. De ciência, divulgação, futebol e bem-estar cultural. In: PORTO, C. de M.; BROTAS, A.M.P.; BORTOLIERO, S. T. (Org.). Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2011., p. 11):
Nesta linha de raciocínio, o campo semântico da ciência, ao associar-se à cultura, expande-se sobremaneira. Vogt (2011VOGT, C. De ciência, divulgação, futebol e bem-estar cultural. In: PORTO, C. de M.; BROTAS, A.M.P.; BORTOLIERO, S. T. (Org.). Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2011.), por exemplo, pensa que a cultura científica deva ser desenvolvida e vivenciada como o futebol: que o conhecimento seja visto como um fenômeno cultural. Na metáfora futebolísitca, o autor argumenta que poucos jogam, mas muitos participam, entendem, opinam, criticam, se emocionam e são apaixonados.
Como em um espetáculo contemporâneo, transmitido e comentado em diferentes mídias, a cultura científica deve buscar ser citada, mencionada, homenageada, celebrada como um lugar de existência do saber científico.
A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Orlandi (2001ORLANDI, E. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001.) trata, em específico, da divulgação científica a partir da tecnologia da escrita. Busca analisar como a ciência produz efeito de exteriodade que “sai de si, sai de seu próprio meio para ocupar um lugar social e histórico no cotidiano dos sujeitos” (2001, p. 152). Segundo a autora, não há como dissociar ciência, tecnologia e administração.
No entanto, este lugar social não é um lugar sem conflitos. Se tomamos como premissa que a ciência pode estar relacionada à confiança, à credibilidade, ao mesmo tempo ela pode estar ligada também à desconfiança, à falácia, ao descrédito - conforme vemos no crescimento de movimentos contestatórios de evidências científicas: Terra plana, antivacina, anticiências. Ao tomarmos a contradição como constitutiva do sentido na linguagem e, consequentemente, do termo ciência, entendemos que as revistas especializadas devem cada vez mais buscar sua inserção social: em sala de aula, em pesquisas de graduação e pós-graduação, em estar junto de instituições e de cidadãos. Devemos buscar divulgar a ciência como lugar de compreensão do mundo e das pessoas pela contradição, pelo múltiplo.
Orlandi (2001ORLANDI, E. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001.) propõe analisar a divulgação científica a partir das noções de encenação e de credibilidade, como formuladas por Maingueneau. Para Maingueneau (2015MAINGUENEAU, D. Discurso e análise de discurso. Tradução de Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.), a noção de cena representa ao mesmo tempo um quadro e um processo, e envolve a cena englobante, que mobiliza uma rede de gêneros; a cena genérica, que funciona com normas que suscitam expectativas; e a cenografia, fundamentada pela enunciação do eu/tu/agora. O autor exemplifica o conceito de cena englobante a partir da ciência: “o locutor deve mostrar que se adapta às normas impostas pelo estatuto de ‘homens da ciência’, figura que transcende os múltiplos gêneros do discurso científico: imparcialidade, serenidade, clareza...” (2015, p.119).
A partir da análise de Orlandi, temos também de considerar a noção de credibilidade. Segundo Charaudeau (2016CHARAUDEAU, P. A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas políticas. Tradução de Angela M. S. Corrêa. São Paulo: Contexto, 2016., p. 73), para uma pessoa ter credibilidade, ser credível, “deve fabricar, de si mesma, uma imagem que corresponda a essa qualidade”. Para tanto, deve atender a certas condições de sinceridade, de saber e de desempenho: “a credibilidade depende, ao mesmo tempo, de uma maneira de ser, no que tange ao “dizer a verdade”, de um saber, para demonstrar razão, e de um saber fazer, para demonstrar competência e experiência” (p. 73).
Pensamos que a noção de credibilidade atribuída a um sujeito possa ser pensada para uma instituição ou uma publicação. Sendo assim, a partir da contradição, constitutiva do sentido, também temos de levar em conta que se pode ter descrédito na ciência.
Em artigo publicado no Boletim da Fapesp em outubro de 2019, com o título Resistência à ciência, Andrade analisa o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, em 144 países. Tanto em países desenvolvidos, como a França e o Japão, como em desenvolvimento, como o Brasil, a percepção das pessoas sobre ciência registra desconfiança em mais de setenta por cento da população. E em países em que a desigualdade social é maior, o descrédito em relação à ciência o é igualmente. De acordo com a pesquisa, quando a ciência é confrontada com a religião, esta tem ampla vantagem. Outro fator que destacamos é que a reputação da ciência está ligada a instituições como o governo e a Justiça.
Ao analisarmos as condições de produção e veiculação da ciência, entendemos que, a partir dos pontos elencados acima, a ciência alcança poucos e privilegiados, e ao retomarmos o conceito de cultura científica este parece estar longe do público comum, longe de participar de nosso cotidiano como o futebol. A metáfora esportiva, hoje, pode estar relacionada com uma partida de tênis ou de golfe. Temos de chegar na periferia, no gosto popular.
Entendemos que publicar e divulgar ciência é um gesto de responsabilidade com o outro, e que deve ser incentivado com políticas de Estado. Neste ponto, se pensarmos nas fontes de financiamento, de custeio para o incentivo da cultura científica, principalmente para a produção e veiculação de periódicos especializados ou não, estamos muito aquém do desejado. Em um contexto que reivindica sua presença, o Brasil é um dos países mais desiguais em divisão de renda. De acordo com os últimos relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), temos ainda um largo horizonte a ser percorrido até atingirmos o que propugna o provérbio latino: Primum manducare deinde philosophari2 2 “Primeiro comer, depois filosofar”. O provérbio é uma variante de Primum vivere deinde philosophari - preceito antigo (BINDER, 293) segundo Busarello (1998, p. 183). , para um avanço efetivo em busca do bem-estar social e o alcance de uma sociedade com melhor distribuição de renda e conhecimento.
REFERÊNCIAS
- ANDRADE, R. O. Resistência à ciência. Boletim Fapesp, out. 2019.
- BUSARELLO, R. Máximas latinas para o seu dia-a-dia: repertório de citações, povérbios, sentenças e adágios - tematizados e traduzidos. 2. ed. Florianópolis: Ed. do autor, 1998.
- CHARAUDEAU, P. A conquista da opinião pública: como o discurso manipula as escolhas políticas. Tradução de Angela M. S. Corrêa. São Paulo: Contexto, 2016.
- EAGLETON, T. A ideia de cultura. Trad. de Sandra Castello Branco. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
- FONSECA, M. A.; OLIVEIRA, B. J. Variações sobre a “cultura científica” em quatro autores brasileiros. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 445-459, abr.-jun. 2015.
- MAINGUENEAU, D. Discurso e análise de discurso. Tradução de Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- ORLANDI, E. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001.
- VOGT, C. De ciência, divulgação, futebol e bem-estar cultural. In: PORTO, C. de M.; BROTAS, A.M.P.; BORTOLIERO, S. T. (Org.). Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2011.
- VOGT, C. Ciência e bem-estar cultural. Com Ciência - Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, Campinas, Ed. 2010, Editorial.
-
2
“Primeiro comer, depois filosofar”. O provérbio é uma variante de Primum vivere deinde philosophari - preceito antigo (BINDER, 293) segundo Busarello (1998, p. 183).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Jun 2020 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2020
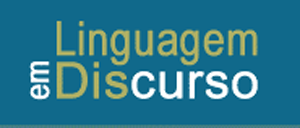

 Fonte:
Fonte: