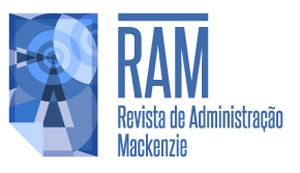ABSTRACT
Purpose:
To describe motivational factors of new volunteers of a religious foundation, based in Paraíba (Brazilian northeast), the light of the model proposed by Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. for a longitudinal period of two years.
Originality/value:
There is no consensus on aspects related to the motivation to perform a voluntary activity, neither in context abroad nor in the Brazilian context. There are high turnover rates of these individuals, due to ease of entering and leaving this activity, without clarity in their causes. It is a longitudinal research, carried out in two opportunities: 2013 and 2015, unpublished in a national context. It attempts to lessen disagreement of voluntary motivations in the national context. NGOs managers might help to assist the maintenance of their recent volunteers.
Design/methodology/approach:
It is a quantitative research, carried out through a validated model in Brazil, and its factors: altruistic values, social justice, affiliation, learning, and selfish values. Data were analyzed through descriptive statistics (mean, standard deviation, coefficient of variance and percentage), ANOVA (analysis of variance), T test for independent samples and correlation (bivariate).
Findings:
Civic bias, learning objectives, and NGO identification emerged as the main motivators. There is evidence that greater academic training has an inverse correlation with the tendency to seek the organization just to fill free time. Another finding was that volunteers with higher indices in altruistic motivations tend to act in other institutions as well, the opposite was found for those with motivations that are closer to the selfish profile.
KEYWORDS
Human resources management; Longitudinal study; Nonprofit organizations; Volunteering; Volunteer motivation
1. INTRODUÇÃO
Ser parte de qualquer organização, especialmente de caráter voluntário, na percepção dos autores deste artigo, pode ter forte ligação com estar apaixonado pela instituição e comprometido com ela. Apesar de todo este trabalho estar sob o viés de um paradigma funcionalista, entende-se que uma analogia com as fases do amor pode ser uma inspiração plausível para este artigo. Nesse contexto, Fisher (2004)Fisher, H. E. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love. New York: Henry Holt and Company. propôs a existência de três fases no amor: desejo, atração e ligação. A primeira é desencadeada pelos hormônios sexuais, a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres, levando o indivíduo à procura de qualquer coisa. A segunda é a fase da atração, em que a pessoa se apaixona. E a terceira, a fase de ligação, refere-se ao momento em que são liberados hormônios que podem estimular a fidelidade. Este estudo se localiza na terceira fase: ligação.
Os pesquisados aqui já escolheram o local para realizar uma atividade voluntária. Agora eles esperam apaixonar-se por ela. Assim, com este trabalho almeja-se fornecer informações para que os gestores de voluntários possam conhecer o que faz os voluntários se apaixonarem; em outras palavras, escolheram a instituição em que pretendem ser voluntários. Quando se conhecem esses sentimentos, há a possibilidade de fazer com que eles tenham suas motivações apaixonadas mantidas, para que passem à fase de ligação, na busca da fidelidade. Mas essa é apenas uma analogia do que estimulou os autores deste trabalho a realizá-lo. Não se trata de um trabalho de química, mas do estudo de motivações voluntárias em uma organização religiosa. A seguir serão apresentados os elementos constituintes deste estudo, inicialmente introduzindo o tema.
Por motivação do voluntariado entende-se o interesse pessoal e espírito cívico dos indivíduos que dedicam parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos (Cavalcante & Medeiros, 2007Cavalcante, C. E., & Medeiros, C. A. F. (2007). Desenho do trabalho voluntário e comprometimento organizacional: Um estudo nas organizações não governamentais. Anais do Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Natal, RN, Brasil, 1.). É importante, entretanto, ressaltar que o termo “voluntariado” abarca um rol de atividades distintas e com especificidades particulares entre si.
Nesse contexto, a legislação brasileira, na Lei do Voluntariado, Lei n. 9.608/1998, em seu artigo 1º, define (o voluntariado) como “atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos” (Brasil, 1998). Dessa forma, a ideia é que voluntários não são elementos de uma ciência dura e sem nuances, mas fazem parte de algo mais líquido e conflitante, pois é menos difícil dizer o que não são do que os definir de modo simples (Cavalcante, Souza, Fernandes, & Cortez, 2013Cavalcante, C. E., Souza, W. J. de, Fernandes, L. T., & Cortez, C. L. B. (2013). “Why am I a volunteer?”: Building a quantitative scale. Revista Eletrônica de Administração, 19(3), p. 569-587.).
Também deve ser lembrado que o trabalhador voluntário difere do trabalhador formal. Cnaan e Cascio (1998)Cnaan, R. A., & Cascio, T. A. (1998). Performance and commitment: Issues in management of volunteers in human service organizations. Journal of Social Service Research, 24(3-4), 1-37. destacam que a dimensão monetária, o tempo disponibilizado (algumas horas por semana pelos voluntários), a possibilidade de fazer parte de várias organizações não governamentais (ONGs) simultaneamente, o recrutamento comumente informal e a relativa aceitação das normas e dos valores organizacionais diferenciam os trabalhadores voluntários dos trabalhadores formais remunerados, reforçando a necessidade de estudos específicos. Por isso, para capturar nuances fenomenológicas em escopo, é prudente focar um campo específico de voluntários.
Em literatura estrangeira, parece ser consensual que as motivações voluntárias vão além de razões puramente altruístas (Cuthill & Warburton, 2005Cuthill, M., & Warburton, J. (2005). A conceptual framework for volunteer management in local government. Urban Policy and Research, 23(1), 109-122.; Dhebar & Stokes, 2008Dhebar, B. B., & Stokes, B. (2008). A nonprofit manager’s guide to online volunteering. Nonprofit Management and Leadership, 18(4), 497-506.; Taylor, Darcy, Hoye, & Cuskelly, 2006Taylor, T., Darcy, S., Hoye, R., & Cuskelly, G. (2006). Using psychologi- cal contract theory to explore issues in effective volunteer management. European Sport Management Quarterly, 6(2), 123-147.). Entretanto, no Brasil, os resultados apontam na direção contrária. Cavalcante (2014)Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182., em estudo bibliométrico sobre o tema, concluiu que os estudos em nível nacional indicam que as principais motivações são de cunho altruísta. Esse aparente paradoxo indica a possibilidade de realização de um estudo em contexto nacional, com características distintas, já que também no mesmo estudo o autor não encontrou estudos de cunho quantitativo, muito menos longitudinais. Portanto, no processo de auxiliar no esclarecimento desse paradoxo e identificar as necessidades desses indivíduos buscando essencialmente minimizar a rotatividade dos voluntários, podem ser consideradas as motivações teóricas e empíricas desta pesquisa.
Assim, com base nos pressupostos teóricos de Souza, Medeiros e Fernandes (2006)Souza, W. J., Medeiros, J. P., & Fernandes, C. L. (2006). Trabalho voluntário: Elementos para uma tipologia. Colóquio Internacional sobre Poder Local, Salvador. Desenvolvimento e Gestão Social de Território, Salvador, BA, Brasil, 10., este artigo objetiva analisar fatores motivacionais de recém-voluntários em uma fundação religiosa paraibana à luz do “Modelo Estrutural de Motivação no Trabalho Voluntário” proposto por Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. por um período longitudinal de dois anos. Para tanto, inicialmente, traçou-se um perfil sociodemográfico dos voluntários, e foi identificado o perfil motivacional existente, seguido da verificação de correlações entre os dados demográficos e motivacionais, para posterior verificação de possíveis diferenças entre grupos. Com a pesquisa longitudinal espera-se ter melhor clareza, pois um estudo com sentimentos humanos corre o risco de ser influenciado por eventos momentâneos, que podem alterar a percepção acerca de sua atividade no momento da coleta dos dados.
O conhecimento da motivação dos voluntários poderá auxiliar os gestores de recursos humanos a tomar decisões relacionadas a recém-voluntários, aqui entendidos como os que realizam a atividade por até um ano. Voluntários com até esse tempo de atuação demonstraram ser os que têm maior queda nas suas médias de motivação em pesquisa realizada por meio de projeto de pesquisa feito com amostra semelhante, sob responsabilidade do Grupo de Estudos do Terceiro Setor (Gets).
O campo de pesquisa é a Fundação Cidade Viva (FCV), uma instituição da cidade de João Pessoa, na Paraíba, dedicada a promover “a dignidade do ser humano e a preservação do meio ambiente, através de ações voltadas ao desenvolvimento integral de suas potencialidades” (Cidade Viva, 2015aCidade Viva (2015a). Conheça a fundação. Recuperado de http://cidade viva.org/.
http://cidade viva.org/...
, p. 1). Tal fundação foi escolhida como alvo de pesquisa pelo grande número de voluntários permanentes que compõem seu quadro, cerca de 350 (Ageu, 2015Ageu, J. D. (2015). Motivações de permanência no trabalho voluntário: Um estudo na Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).; Aquino, 2015Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).). Ela ainda consegue, em eventos, reunir aproximadamente mil voluntários (Cavalcante, 2014Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182.), sendo esse quantitativo ampliado no ano de 2015 para 4.681 inscritos nas atividades (Cidade Viva, 2015bCidade Viva (2015b). Godstock. Recuperado de https://goo.gl/Th1nHK.
https://goo.gl/Th1nHK...
).
Merece ser ressaltado o campo específico deste estudo: uma fundação de cunho religioso. Diante do cenário da influência da religião em território brasileiro, convém salientar o fato de que o Brasil, desde sua primordial ocupação como colônia, era regido por um Estado condutor de ações em todo o território nacional que especialmente não se dissociava da “Igreja Católica” (Koshiba & Pereira, 2006Koshiba, L., & Pereira, D. M. F. (2006). História geral e Brasil. Ribeirão Preto: Atual.), a qual, por sua vez, propunha-se a promover universalmente a prática da caridade, apoiada muitas vezes pelo governo.
Assim, infere-se que preceitos religiosos dessa época interferiam de forma direta na prática do voluntariado, baseada essencialmente em relações de troca, na qual o cristão que doava bens materiais ou seu serviço poderia considerar-se salvo. Nesse sentido, é possível citar várias instituições religiosas em território nacional que exemplificam tal postura, como as Santas Casas de Misericórdia, irmandades e as ordens terceiras (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2001). Terceiro setor e desenvolvimento social. Relato Setorial n. 3 AS/GESET.). Assim, um estudo como o presente desenvolvido subsidia organizações voluntárias com informações para reflexão das práticas por estas adotadas e afirma ou corrige planejamentos futuros. Pilati e Hees (2011)Pilati, R., & Hees, M. A. G. (2011). Evidências de validade de uma versão brasileira do Inventário de Funções do Voluntariado - IFV. Psico-USF, 16(3), 275-284. sugerem que estudar as motivações para o voluntariado pode trazer informações importantes para, por exemplo, o combate da rotatividade, o que figura como aplicação direta para esta pesquisa.
Assim se justifica a realização desta pesquisa pela eminente revolução das organizações que agregam voluntários. Segundo Salamon (1994)Salamon, L. M. (1994). The rise of the nonprofit sector. Foreign Aff., 73, 109., essas instituições estão em crescente ascensão ao longo de todo o planeta, principalmente nos países em desenvolvimento. No Brasil, voluntários em boa parte estão no que se entende como terceiro setor, atualmente em configuração de oposição às práticas outrora meramente assistencialistas (Santos, Oliveira, & Rocha, 2013Santos, L. M. L., Oliveira, B. C. S. C. M., & Rocha, J. C. M. (2013). O perfil do terceiro setor na cidade de Londrina: Mapeando as organizações do terceiro setor. Interações, 14(1), 37-51. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-7012201300010000 4&lng=en&nrm=iso.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
).
De acordo com estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2012, o Brasil possuía na época 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) cadastradas; esse número poderia ser ainda maior dadas as dificuldades de acesso ou até mesmo de identificação do objeto em análise da pesquisa. Em aspecto financeiro, essas organizações já movimentaram cifras equivalentes a 1,5% do produto interno bruto (PIB) brasileiro (Pitombo & Pizzinatto, 2004Pitombo, T. C. D. T., & Pizzinatto, N. K. (2004). Planejamento de comunicação e marketing no terceiro setor: Estudo de caso na entidade assistencial Abamac - Campinas. Anais do
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Porto Alegre, RS, Brasil, 27.), e, segundo Zavala (2007)Zavala, R. (2007). GIFE: Pelo impacto no investimento social. Recuperado de http://www.gife.org.br/artigo-ibge-calcula-participacao-economica-do-terceiro-setor-11939.asp.
http://www.gife.org.br/artigo-ibge-calcu...
, esse número já foi ainda maior, circundando em até 5%. Destacam-se desafios para se chegar a tais números, pela dificuldade de se obter um consenso acerca do conceito sobre as organizações que se enquadram em tal categoria.
Assim, assume-se que a organização escolhida pode ser campo privilegiado para a pesquisa desse fenômeno. Dessa forma, surge o seguinte questionamento:
-
Que fatores motivacionais influenciam os voluntários que atuam na FCV?
Feita a contextualização do tema e ambiente de estudo, passa-se ao referencial teórico, seguido de metodologia, análise de resultados e considerações finais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Terceiro setor e voluntariado
Diante das diferentes conceituações e abordagens entre autores acerca das tipologias das organizações, este artigo toma como base o que é definido por Scherer-Warren (2006)Scherer-Warren, I. (2006). Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado, 21(1), 109-130., por acreditar que essas análises condizem de melhor forma com o que este estudo propõe. O autor apresenta um modelo tripartido da realidade contemporânea, elencando categorias organizacionais em: Estado (primeiro setor), mercado (segundo setor) e sociedade civil (terceiro setor).
Nesse contexto, apesar de ainda acontecer de modo não linear e sem fa- lhas, as organizações da sociedade civil passaram a ter maiores preocupações com conceitos como eficiência, eficácia e efetividade, de modo a adotar práticas já comuns e consolidadas do setor empresarial e mesmo de certos organismos do governo (Teodosio, 2002Teodosio, A. S. S. (2002). Voluntariado: Entre a utopia e a realidade da mudança social. Anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Salvador, BA, Brasil.), o que as fez adquirir gradativo status de instrumentalização mais profissional. Assim, tais entidades ganharam aptidão para concorrer a editais, projetos e políticas públicas de financiamento propostos pelo Estado, além de outros benefícios exclusivos às organizações inseridas nessa linha metodológica de atuação (Mattos & Diniz, 2002Mattos, P. L. C. L., & Diniz, J. H. A L. (2002). Organizações não-governamentais e gestão estratégica: Desfiguração do seu caráter institucional original? Anais do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Salvador, BA, Brasil, 26.; Silva, 2010Silva, C. E. G. (2010). Gestão, legislação e fontes de recursos no terceiro setor brasileiro: uma perspectiva histórica. Revista de Administração Pública, 44(6), 1301-1325.).
Imersa nessa conjuntura, a sociedade civil se reinventa, tendo como uma de suas principais metodologias a busca pela promoção da cidadania. O surgimento de novos mecanismos constitucionais para inserir o povo na administração pública, como descentralização administrativa, plebiscitos, referendos, leis de iniciativa populares e institutos como as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), torna notório que a legislação brasileira avança na meta de aproximar a população para ser protagonista das decisões relevantes de seu próprio cotidiano (Souza, 2008Souza, W. J. (2008). Responsabilidade social e terceiro setor. Brasília: Universidade Aberta do Brasil.; Lenza & Gonçalves, 2012Lenza, P., & Gonçalves, C. R. (2012). Direito civil 1 - Parte geral - Obrigações - Contratos (2a ed.). São Paulo: Saraiva.).
Entretanto, independentemente dessas progressões, a cidadania permanece como conceito na prática ainda um pouco distante, pelo menos no caso brasileiro. Segundo Fernandes (1994, p. 94)Fernandes, R. C. (1994). Privado porém público: O terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.: “fora de algumas ocasiões, como o rito eleitoral, [a cidadania] ainda não chegou de fato às classes pobres”. Por isso, a ideia mais adequada em fins deste estudo provém da sociologia que relaciona cidadania com a produção de bens públicos e a conscientização de direitos sociais como exercício do cidadão social politicamente ativo, que atua como instrumento de modificações sociais, em outras palavras: voluntários são cidadãos em exercício (Fernandes, 1994Fernandes, R. C. (1994). Privado porém público: O terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.).
Segundo Pilati e Hees (2011)Pilati, R., & Hees, M. A. G. (2011). Evidências de validade de uma versão brasileira do Inventário de Funções do Voluntariado - IFV. Psico-USF, 16(3), 275-284., a atividade voluntária objetiva prover a outro determinadas necessidades não atendidas pelo Estado, possuindo relação direta com engajamento cívico e a prática cidadã. Complementarmente, Wilson (2000)Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215-240. afirma que, à medida que tendências de civilidade de uma pessoa são maiores, mais próxima ela estará do voluntariado.
Desse modo, é cabível enxergar o que foi exposto anteriormente sobre a perspectiva sociológica deste estudo, já que são pessoas que não se acomodam em apenas esperar ações do Estado, mas colocam-se como agentes para realizar determinadas atividades. Em suma, para a produção desta pesquisa, acredita-se no conceito de voluntariado, o qual se relaciona à ideia de cidadania, pressupondo que o voluntário será um cidadão consciente e ativo.
Nesse sentido, Ferreira (2001, p. 539)Ferreira, A. B. H. (2001). O novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Curitiba: Positivo. enxerga o voluntário como: “aquele que age espontaneamente; derivado da vontade própria; em que não há coação; espontâneo”. Tal definição sugere que o arbítrio de atuar, assim como a motivação (ou a falta dela), é algo inerente a essa atividade, sendo pertinente a compreensão acerca das motivações para entrada de voluntários em instituições.
A literatura aborda a motivação conforme dimensões unas ou múltiplas. Em uma linha unidimensional, Drucker (1999)Drucker, P. F. (1999). Administração de organizações sem fins lucrativos: Princípios e práticas. São Paulo: Thomson Learning., ao discutir as motivações para o voluntariado, classifica fatores religiosos e cívicos como de grande influência. Wilson (2000)Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215-240. afirma que, em nível individual, existem duas perspectivas para se voluntariar que variam conforme cada sujeito, uma possui caráter mais analítico e a segunda tem um viés comportamental, atrelado aos objetivos específicos para se voluntariar. Salamon e Anheier (1995)Salamon, L. M., & Anheier H. (1995). The emerging sector, an overview (vol. 1). Manchester: University Press. compartilham da ideia anterior, afirmando ainda que, apesar de a quantidade de voluntários em todo o mundo crescer, esse processo tem se dado de modo heterogêneo.
Em aspecto multidimensional, um dos principais conceitos sobre motivação é a teoria da expectância de Vroom (1964)Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.. Segundo o autor, o processo de motivação deve ser explicado em função dos objetivos e das escolhas de cada pessoa, assim como das suas expectativas em atingi-los. Nessa perspectiva, Vroom desenvolveu um modelo comparativo entre três variáveis: “valência, instrumentalidade e expectância”, acreditando que o que motiva uma pessoa a agir em uma organização é a relação resultante entre: valência - quanto deseja uma recompensa em virtude do valor atribuído a ela; instrumentalidade - estimativa de que aquele desempenho será um meio para chegar à recompensa, ou seja, o retorno pelas ações executadas; e expectância - sua estimativa de que o esforço empreendido resultará num desempenho bem-sucedido (Regis & Calado, 2001Regis, H. P., & Calado, S. M. R. (2001). A motivação para participar do Programa da Qualidade do Cefet-PB: Um exame com base na teoria da expectância. Anais do Encontro da Anpad, Campinas, SP, Brasil.).
Já Batson (2002)Batson, C. D. (2002). Addressing the altruism question experimentally. In S. G. Post, L. G. Underwood, J. P. Schloss, & W. B. Hurlbut (Eds.). Altruism and altruistic love: Science, philosophy, and religion in dialogue (pp. 89-105). New York: Oxford University Press. classifica quatro motivações para o voluntariado, a saber: altruísmo, coletivismo, principialismo e egoísmo. No entanto, o autor afirma que essas motivações podem ser combinadas para que o voluntário não entre em conflito com seus próprios objetivos e até possa realizar seu trabalho mais adequadamente para a instituição em que atua, de modo que haja harmonia entre os interesses organizacionais e individuais.
Ainda nesse contexto, Fontoura (2003)Fontoura, J. A. da (2003). “Voluntariar”: um ato de cidadania. Integração - Revista Eletrônica do Terceiro Setor, (26). defende que as mais frequentes motivações para o trabalho voluntário se referem à terapia, à ocupação de tempo, à retribuição de oportunidades recebidas, à interação, a conhecer e a ajudar pessoas, a fazer a diferença, a buscar satisfação pessoal ou mesmo em alguns casos a sublimar a perda de entes queridos.
Salamon (1994)Salamon, L. M. (1994). The rise of the nonprofit sector. Foreign Aff., 73, 109. e Prates (1997)Prates, M. C. (1997). Terceiro setor: Para que serve? Revista Conjuntura Econômica, 51(1), 41-45. remontam sua pesquisa a aspectos históricos, conjecturando o voluntariado como tradição filantrópica advinda da antiguidade chinesa, trazendo-a como embrionária para as práticas voluntárias atuais, o que sugere a possibilidade de esse tipo de atuação ser um fenômeno atemporal e essencialmente de raízes religiosas. Nesse sentido, Landim (2001)Landim, L. (2001). As pessoas: voluntariado, recursos humanos, liderança. Anais do Seminário “ Filantropía, Responsabilidad Social Y Ciudadanía”, Antígua, Guatemala. discute outro fator motivacional como o principal em território brasileiro: a religião. E foi justamente sob esse contexto que o modelo teórico deste trabalho foi construído. Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. validou cinco construtos (altruísta, justiça social, afiliação, aprendizagem e egoísta) para identificar motivações ao trabalho voluntário, por meio de voluntários da Pastoral da Criança.
Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. teve como base no seu modelo três estudos distintos: Mostyn (1983)Mostyn, B. (1983). The meaning of volunteer work: A qualitative investigation. In S. Hatch (Orgs.). Volunteers: Patterns, meanings & motives. Hertz, UK: The Volunteer Centre., que delimitou cinco construtos para motivação no trabalho voluntário: altruísta, afetivo, amigável, ajustado e ajuizado; Souza et al. (2006)Souza, W. J., Medeiros, J. P., & Fernandes, C. L. (2006). Trabalho voluntário: Elementos para uma tipologia. Colóquio Internacional sobre Poder Local, Salvador. Desenvolvimento e Gestão Social de Território, Salvador, BA, Brasil, 10., que os adaptaram ao contexto nacional e escalonaram uma hierarquia de motivação para o voluntariado que, segundo eles, varia do nível mais alto para o mais baixo; e também Souza et al. (2006)Souza, W. J., Medeiros, J. P., & Fernandes, C. L. (2006). Trabalho voluntário: Elementos para uma tipologia. Colóquio Internacional sobre Poder Local, Salvador. Desenvolvimento e Gestão Social de Território, Salvador, BA, Brasil, 10., que inseriram outros momentos (expectativas na adesão, filiação e eventual desligamento) na pesquisa. A Figura 2.1.1 apresenta os construtos e suas definições.
Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. percebeu algumas lacunas nos modelos estudados e assim enxergou um contexto potencial para pesquisa de viés quantitativo que pudesse correlacionar perfis de agentes estudados e suas motivações. Então, após uma série de testes de confiabilidade, conseguiu chegar ao instrumento de coleta de dados apresentado no momento seguinte desta investigação.
Posteriormente será exposta a metodologia aplicada a fim de responder ao problema de pesquisa e satisfazer os objetivos propostos.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é parte de um projeto de investigação conduzido pelo Grupo de Estudos do Terceiro Setor (Gets) que analisou os dados coletados por Aquino (2015)Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). e Lemos (2016)Lemos, S. L. L. (2016). Motivação para expectativa, entrada, permanência e saída: Um estudo longitudinal no voluntariado da Fundação Cidade Viva (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).. Esta pesquisa possui viés quantitativo pela necessidade de coletar dados de maneira direta (primária) e objetiva (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Metodologia de pesquisa (3a ed.). São Paulo: McGraw-Hill.). Para tanto, aplicaram-se questionários para prover estudo de caso exploratório, tendo em vista que o fenômeno não foi concebido, mas descoberto (Sampieri et al., 2006Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Metodologia de pesquisa (3a ed.). São Paulo: McGraw-Hill.; Saccol, 2009Saccol, A. Z. (2009). Um retorno ao básico: Compreendendo os paradig- mas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração. Revista de Administração da UFSM, 2(2), 250-269.; Falconer, 2003Falconer, A. P. (2003). Caminho das pedras: As muitas causas do terceiro setor. Recuperado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult10 63u686.shtml.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinap...
).
Dessa forma, utilizou-se a técnica do questionário (com escala de Likert) a fim de verificar as perguntas mais pertinentes predefinidas pelos pesquisadores (Boni & Quaresma, 2005Boni, V., & Quaresma, J. S. (2005). Aprendendo a entrevistar: Como fazer entrevistas em ciências sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Politica da UFSC, 2(1), 68-80.). Nesse sentido, o instrumento de estudo continha o objetivo da pesquisa, os construtos defendidos por Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. e as 12 indagações sobre aspectos sociodemográficos.
Investigaram-se voluntários atuantes há menos de um ano (momento entrada), que responderam ao formulário específico intitulado: “Por que eu entrei no ministério em que atuo na Cidade Viva?”. A amostra é composta por 55 voluntários atuantes na fundação em 2015 e 65 voluntários ativos investigados por pesquisa análoga realizada em 2013, totalizando uma amostra de 120 voluntários. Para tornar mais claras essas informações, apresenta-se a Figura 3.1.
Ressalta-se que os dados de 2013 foram analisados por Aquino (2015)Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). no primeiro semestre daquele ano e os de 2015 foram coletados por Lemos (2016)Lemos, S. L. L. (2016). Motivação para expectativa, entrada, permanência e saída: Um estudo longitudinal no voluntariado da Fundação Cidade Viva (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). no segundo semestre do referido ano. Ambos os estudos tiveram alinhamento entre os objetivos, a metodologia e os resultados que dizem respeito à consolidação dos dados obtidos longitudinalmente no mesmo ambiente de pesquisa: a FCV.
Nesse contexto, coletaram-se os dados. O maior quantitativo dessas respostas adveio da divulgação do questionário em via digital - formulário do Google Docs - enviado por e-mail para os líderes dos ministérios e divulgado pelo coordenador de integração, voluntariado e conexões, que proveu trabalho de sensibilização nas lideranças acerca da necessidade de incentivar os participantes dos ministérios a contribuir com a pesquisa.
Seguidamente, houve a tabulação e categorização dos dados, e então se realizaram a análise da estatística descritiva (média, desvio padrão, coeficiente de variância e porcentagem), a ANOVA (análise de variância) e o Teste T para amostras independentes, identificando eventuais diferenças entre grupos. Também foram realizadas correlações (bivariável) para checar a existência de relacionamento entre algumas variáveis.
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Para melhor compreensão dos resultados da pesquisa, os voluntários foram analisados primordialmente conforme suas características sociodemográficas para posterior averiguação dos aspectos motivacionais almejados pela pesquisa.
4.1 Perfil sociodemográfico
Em média, os voluntários da instituição têm aproximadamente 34 anos, são casados (50%) e possuem formação superior completa (76%). Dos que possuem ensino superior completo, 23,6% são ativos no serviço público, e a renda mensal dos respondentes é, em média, de R$ 8.010,27 (vale salientar o alto desvio padrão, que é de R$ 6.770,36).
Já aqueles com até um ano de trabalho na FCV, foco deste estudo, em sua maioria pertencem ao gênero feminino (56,4%). A maior presença de mulheres do que de homens é uma característica que parece ser comum em estudos similares ao que foi aqui desenvolvido. A predominância feminina encontrada na instituição estudada coincide com informações levantadas por Aquino (2015)Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil)., Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil., Souza et al. (2006)Souza, W. J., Medeiros, J. P., & Fernandes, C. L. (2006). Trabalho voluntário: Elementos para uma tipologia. Colóquio Internacional sobre Poder Local, Salvador. Desenvolvimento e Gestão Social de Território, Salvador, BA, Brasil, 10. e Motter e Okabayashi (2005)Motter, D. G., & Okabayashi, R. Y. (2005). O voluntariado na perspectiva de gênero: reflexões a partir de uma experiência com a Associação dos Voluntários do Hospital Universitário de Londrina. Serviço Social em Revista, 7(2)..
A maioria dos participantes não possui familiares engajados atualmente ou que já fizeram trabalho voluntário (53,7%). Estatisticamente, 61,1%, além do trabalho desenvolvido na FCV, já realizaram trabalho voluntário de algum tipo em outra instituição. Desse total 88,9% possuem amigos que praticam voluntariado, e, entre os respondentes, 85,5% são engajados apenas na fundação pesquisada.
Comparativamente ao estudo de 2013, realizado na mesma organização em que se desenvolveu este trabalho, os resultados obtidos corroboram o verificado, havendo distinção apenas em três quesitos: idade média, que em Aquino (2015)Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). esteve por volta dos 37 anos; renda média familiar, que girou em ordem de R$ 5.986,52; e no histórico familiar em relação ao voluntariado, que lá apresentou resultados negativos.
No entanto, sobre as duas primeiras informações, a julgar pelo alto desvio padrão de sua amostra, 11,78 anos para idade e R$ 4.529,02 para renda, é razoável assumir que mesmo esses dados sejam proporcionalmente semelhantes em ambas as pesquisas.
Quanto à renda, a média de R$ 8.010,27 provavelmente ocorreu em virtude de altos valores que acabaram por elevá-la. Essa sugestão é reforçada pelo alto desvio padrão, que foi de R$ 6.770,36, o que sugere que, nesse aspecto, a amostra acessada na FCV demonstra-se bastante heterogênea. Em linhas gerais, os valores encontrados aqui corroboram análises dos dados de 2013. Ainda sobre esses valores monetários, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (2012)Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012). A Paraíba no contexto nacional, regional e interno. Recuperado de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1186/1/TD_1726.pdf.
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream...
, no estado da Paraíba apenas 7,62% da população possui renda familiar per capita acima de dois salários mínimos. No caso da FCV, o alto valor monetário indica que, apesar de não haver qualquer triagem monetária que impeça pessoas com baixa renda de atuar na instituição, elas são minoria nesse grupo.
Seguindo sobre o delineamento demográfico da instituição, Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil., ao estudar o voluntariado na Pastoral da Criança, encontrou como perfil padrão duas informações análogas às já supracitadas: mulheres jovens e casadas. Assim, é possível que se diga que pela semelhança de elementos característicos (instituição religiosa no Nordeste brasileiro com foco no voluntariado), o perfil sociodemográfico comum e predominante é o voluntariado feminino, juvenil e casado.
Fontoura (2003)Fontoura, J. A. da (2003). “Voluntariar”: um ato de cidadania. Integração - Revista Eletrônica do Terceiro Setor, (26). elenca razões para a prática voluntária que se harmonizam com os resultados e as observações encontrados pela pesquisa aqui apresentada, inclusive alguns pontos apontados pela autora são exatamente os mesmos encontrados nesta pesquisa e na realizada por Cavalcante (2014)Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182.. Por exemplo, a motivação de se voluntariar como uma espécie de terapia, ocupação do tempo, retribuição de oportunidades recebidas e possibilidade de conhecer e ajudar pessoas.
4.2 Medidas descritivas de motivação dos voluntários com até um ano de instituição
A Figura 4.2.1 emparelha os dados da coleta de dados quanto às médias dos perfis, aos desvios padrões e ao coeficiente de variância entre os dados coletados em 2013 e aqueles recolhidos em 2015. Quando se analisam os dados, é perceptível a proximidade estatística dos resultados, apesar de esta pesquisa contar com maiores variações quanto aos indicadores de dispersão.
ENTRADA: PERFIL DAS MOTIVAÇÕES, COMPARAÇÃO ENTRE AS PESQUISAS DE AQUINO (2015)Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). E LEMOS (2016)Lemos, S. L. L. (2016). Motivação para expectativa, entrada, permanência e saída: Um estudo longitudinal no voluntariado da Fundação Cidade Viva (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).
Considerando a ordem decrescente encontrada nas médias - respectivamente do perfil altruísta, justiça social, aprendizagem, afiliação e egoísta -, mesmo com pequena diferença entre o perfil “aprendizagem”, que obteve maiores médias que a “afiliação”, é atestada aderência do objeto de estudo à teoria de base escolhida, o modelo de Cavalcante (2012)Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil..
Conforme dados da Figura 4.2.1, nota-se que os perfis continuam com a mesma ordem de hierarquia nos perfis de motivação que levam os engajados à instituição. Ainda que em relação às médias, as que foram obtidas em 2015 são menores quando comparadas aos resultados encontrados da pesquisa de 2013.
Objetivando tornar mais minuciosas e compreensíveis as informações da Figura 4.2.1, elas foram fracionadas em figuras específicas para cada um dos tipos de perfil em análise. A começar pelo “altruísta” que, segundo Cavalcante (2014)Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182., diz respeito a eventos que demandam desprendimento a vantagens particulares em prol do benefício coletivo. Nesse quesito, os resultados moderados reforçados por altos desvios padrão e coeficientes de variância ainda mais elevados sugerem heterogeneidade na amostra.
Quanto ao perfil “justiça social”, as médias das questões estão um pouco acima do meio-termo das respostas; entretanto é válido ressaltar que, ao apresentar coeficiente de variância de mais de 50% em quase todas as perguntas, é possível identificar inconstância nas respostas, o que, aliado ao alto desvio padrão, indica amostra consideravelmente heterogênea.
Partindo do pressuposto apontado pelo autor do modelo utilizado de que esse perfil discorre sobre identificação entre objetivos coletivos e o sentimento de que a organização tem se aproximado desses objetivos (Cavalcante, 2012Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.), é possível acreditar que inconstâncias de respostas aconteçam em virtude de expectativas frustradas quanto à prática efetiva do voluntariado na FCV, já que os entrevistados estão em posição intermediária, com tempo razoável para terem conhecimento prático das atividades desenvolvidas na instituição, comparando o que esperavam antes de fazer parte dela e o que os fez permanecer.
Com base nessas conjecturas e na queda das médias, há indícios de que, ao longo desses dois anos, fatores internos podem ter alterado o sentimento existente entre aqueles que compõem a entidade a relativamente pouco tempo (menos de um ano). A análise das outras variáveis reforça essa ideia, conforme se demonstrará.
Sobre “aprendizagem”, analogamente aos perfis anteriores, foram encontrados altos coeficientes de variação e desvio padrão em paralelo às médias moderadas. Destaca-se a questão 1, que, além da média superior ao ponto médio da escala do instrumento, teve coeficiente de variância acima dos 60%, ou seja, com altas variações relativa à média. Esse resultado sugere a possibilidade de que os voluntários atuantes em até um ano na instituição não sentiram desenvolvimento ou aprendizado próprio e/ou alheio por meio de suas atividades, possivelmente pelo pouco tempo de instituição.
Em seguida, o perfil “afiliação” é responsável por mensurar a identificação e o compartilhamento de metas e anseios conjuntos (Cavalcante, 2012Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.) e pode servir também como indicador da aderência aos objetivos institucionais. Nesse quesito, de modo geral, todas as médias das questões ficaram em torno do ponto médio da escala, o que, aliado aos altos coeficientes de variância e desvio padrão, indica heterogeneidade de respondentes. No caso, os coeficientes de variação encontrados em 2015 foram sempre maiores que os achados pela pesquisa de 2013, conforme mostra a Figura 4.2.5.
Uma possível explicação para esse achado advém de Vasconcelos (2004)Vasconcelos, S. N. C. (2004). Ordem DeMolay e liderança: Um novo conceito na perspectiva da afetividade e da identidade - paradigmas e paradoxos. Recuperado de http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/TL0194.pdf.
http://www.psicologia.com.pt/artigos/tex...
, segundo o qual as motivações de afiliação dentro da instituição perpassam por elementos essencialmente intrínsecos, logo não é possível mensurar uma relação exatamente direta e lógica, e, por consequência, não facilmente identificável.
Sobre o perfil motivacional impulsionado por características egoístas, a Figura 4.2.6 apresenta as médias mais baixas, ao mesmo tempo que se demonstram também os maiores coeficientes de variância entre os perfis. Apesar da indicada heterogeneidade entre os pesquisados sugerida pelo coeficiente de variância, as baixas médias sugerem que, em linhas gerais, motivações egoístas não são tão comuns nos voluntários da FCV (ver resultados que indicam semelhanças entre os pesquisados nos dois momentos longitudinais).
Após a explanação da estatística descritiva, averiguou-se a normalidade dos dados, atestada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov. Em seguida, realizaram-se testes de correlações entre “idade versus motivações”, “formação acadêmica versus motivações” e “renda versus motivações”. Os resultados desses testes serão expostos no subtópico seguinte.
4.3 Testes de correlação entre “idade versus motivações”, “formação acadêmica versus motivações” e “renda versus motivações”
Os dados de 2015 não encontraram correlação significativa entre motivações com idades, rendas ou mesmo o cruzamento dessas características. Já nos de 2013, verificou-se que, à medida que voluntários possuíam idade mais elevada, maior era a percepção de que “fazem algo importante” (perfil altruísta), de “busca por novos conhecimentos” e de “interesse em novos desafios” (perfil aprendizagem).
Em 2015, quanto à formação acadêmica, apesar de não tão significante, uma correlação negativa e fraca foi encontrada no perfil egoísta (Figura 4.3.1). Essa correlação sugere que quanto maior a formação acadêmica do voluntário, menor a tendência em buscar atividades com o objetivo de preencher seu tempo livre. Na pesquisa de 2013, foi confirmada essa informação, e acrescentou-se outra correlação, apontando que, à medida que o nível de escolaridade aumenta, também cresce a identificação do voluntário com características de perfil altruísta.
A análise de variâncias simples (one way) para verificar diferenças entre grupos nas questões com várias assertivas foi realizada no SPSS Statistics 21.0® e não encontrou nenhuma diferença entre os grupos analisados. Já os testes T com amostras independentes - aplicados em variáveis para as quais apenas duas assertivas eram respostas possíveis - indicaram haver diferenças nas questões que abordam o gênero dos voluntários.
Conforme a Figura 4.3.2 ilustra, há tendência de mulheres terem maior viés de motivação altruísta (especialmente nas perguntas quanto a ajudar pessoas e mudar a vida delas) e de aprendizagem (no quesito aprender algo). Além disso, mulheres também se destacaram estatisticamente por terem menores índices no quesito preencher tempo livre do perfil egoísta. Nessas abordagens, tais aspectos estão alinhados entre as duas coletas.
COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS NAS VARIÁVEIS DE ENTRADA - GÊNERO VERSUS VARIÁVEIS DE MOTIVAÇÃO
Stukas et al. (2016)Stukas, A. A., Hoye, R., Nicholson, M., Nicholson, M., & Aisbett, L. (2016). Motivations to volunteer and their associations with volunteers’ well-being. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(1), 112-132. também encontraram resultados que indicam que mulheres possuem motivações mais elevadas que homens, exceto em motivações sociais. Em complemento, Musick e Wilson (2008)Musick, M. A., & Wilson, J. (2008). Volunteers: A social profile. Bloomington: Indiana University Press. sugerem que mulheres são muitas vezes socializadas para assumir mais responsabilidade pelos outros, adotando abordagem mais comunitária da vida, ao passo que homens podem ser mais propensos a adotar uma abordagem instrumental.
Os resultados referentes ao gênero seguem em linha com o já descoberto para estudos dessa área. O voluntário padrão, especialmente em contexto brasileiro, excetuando as organizações exclusivamente composta por homens, tende ao sexo feminino (IBGE, 2016, 2017Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 2016. Recuperado de https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?t=series-hist%25C3%25B3ricas.
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/soc...
; Rede Brasil Voluntário, 2001Rede Brasil Voluntário (2001). Perfil do voluntário no Brasil. Recuperado de https://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=rede_brasil_voluntarios.
https://www.acaovoluntaria.org.br/index....
).
A análise pelo histórico dos voluntários revelou diferenças entre a questão de os familiares dos respondentes também serem voluntários e nas relacionadas ao fato de os pesquisados terem prestado esse tipo de serviço em outra instituição. O Teste T para amostras independentes revelou distinções em uma pergunta do perfil afiliação e outra do egoísta, sugerindo que a maioria dos respondentes que busca conhecer pessoas de mesmos interesses não tem familiares com histórico de serviço voluntário, o contrário aconteceu para aqueles que buscam se sentir importantes - a Figura 4.3.3 demonstra essas afirmações.
COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS NAS VARIÁVEIS ENTRADA - HISTÓRICO FAMILIAR VERSUS VARIÁVEIS DE MOTIVAÇÃO
Percebe-se que a influência da família, especialmente em motivações que tendem ao egoísmo, nessa amostra, mostrou-se capaz de diferenciar aqueles que tiveram familiares com histórico de voluntariado versus aqueles que não têm esse histórico familiar. Esse resultado se alinha com outros resultados: Nesbit (2012)Nesbit, P. L. (2012). The role of self-reflection, emotional management of feedback, and self-regulation processes in self-directed leadership development. Human Resource Development Review, 11(2), 203-226., Glass, Bengtson e Dunham (1986)Glass, J., Bengtson, V. L., & Dunham, C. C. (1986). Attitude similarity in three-generation families: Socialization, status inheritance, or reciprocal influence? American Sociological Review, 51, 685-698. e Bowen (1988)Bowen, G. L. (1988). Family life satisfaction: A value-based approach. Family Relations, 37, 458-462. destacam que, quando existem voluntários em uma família ou mesmo sem serem familiares dividem o mesmo espaço, há maior predisposição de um indivíduo a voluntariar.
Quanto à comparação entre grupos que são voluntários em outra instituição, os perfis altruísta e egoísta apresentaram distinções estatísticas, já que a maioria dos voluntários que buscam “ajudar pessoas” e “levar esperanças aos menos favorecidos” já prestou esse serviço em outra instituição.
Por sua vez, aqueles que buscam ser reconhecidos e se sentir importantes nunca tiveram experiências anteriores ao voluntariado que vivenciam na FCV. Destaque ainda para aqueles que buscam preencher seu tempo livre, que responderam positivamente a tal assertiva (Figura 4.3.4).
COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS NAS VARIÁVEIS DE ENTRADA - SER VOLUNTÁRIO EM OUTRA INSTITUIÇÃO VERSUS VARIÁVEIS DE MOTIVAÇÃO
As implicações dos resultados aqui encontrados para a FCV apontam que os voluntários com motivações mais altruístas tendem a atuar em outras instituições, o inverso para aqueles com motivações mais próximas do perfil egoísta - com exceção daqueles que almejam preencher tempo livre. Esse resultado, inclusive, retoma um dos elementos do conceito do voluntariado: a possibilidade de estar em várias organizações ao mesmo tempo (Cavalcante & Medeiros, 2007Cavalcante, C. E., & Medeiros, C. A. F. (2007). Desenho do trabalho voluntário e comprometimento organizacional: Um estudo nas organizações não governamentais. Anais do Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Natal, RN, Brasil, 1.; Cavalcante, 2014Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182.).
Em síntese, as estatísticas e os resultados fundamentados por este trabalho demonstram conclusões importantes para que a FCV possa trabalhar com coerência os objetivos organizacionais da instituição e as características pessoais do seu corpo de membros.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou conhecer o que levou indivíduos a escolher uma determinada organização para serem voluntários. O que os levou a apaixonar-se por ela. Assim, analisaram-se voluntários sob o prisma dos fatores motivacionais de entrada na FCV da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Complementarmente, almejou-se traçar um perfil sociodemográfico para pretensos voluntários e voluntários em atuação, com menos de um ano de instituição, especialmente quanto às motivações que os levaram à entrada na organização.
O perfil sociodemográfico das amostras pesquisadas é semelhante, especialmente quanto ao gênero, feminino, e à formação acadêmica, com no mínimo educação superior, ainda que não concluída. Em uma avaliação geral sobre as motivações, é perceptível uma consistência e proximidade estatísticas dos resultados encontrados na coleta realizada nos dois momentos da pesquisa (2013 e 2015). Ficou evidenciado o perfil altruísta como o que obteve as maiores médias, seguido por justiça social, aprendizagem e afiliação; com menor média entre os constructos, estão as características egoístas.
Houve ainda nos resultados indícios de que quanto maior é a formação acadêmica, menor é a tendência em buscar a organização apenas para preenchimento do tempo livre. Outra constatação foi a de que voluntários com maiores índices nas motivações altruístas tendem a atuar também em outras instituições, o inverso para aqueles com motivações mais próximas do perfil egoísta; além de outras informações relevantes citadas e mais bem detalhadas no ponto anterior desta pesquisa, específico para resultados.
É admissível, portanto, que os resultados obtidos neste estudo auxiliem no preenchimento da lacuna teórica existente até então sobre motivações voluntárias. Viés cívico, objetivos de aprendizado e identificação com a entidade emergiram como principais motivadores e podem, portanto, ser assumidos, considerando amostras semelhantes, como motivadores de indivíduos que recentemente realizam essas atividades. Em complemento, há indícios de que quanto maior é a formação acadêmica menor é a tendência em buscar a organização apenas para preenchimento do tempo livre. Outra constatação foi a de que voluntários com maiores índices nas motivações altruístas tendem a atuar também em outras instituições, o inverso para aqueles com motivações mais próximas do perfil egoísta.
-
Samuel L. L. Lemos, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Carlos Eduardo Cavalcante, Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Patrícia T. Caldas, Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Solange Cristina Vale, Departamento de Administração, Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Jardel Augusto G. R. Alves, Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade (Uaac), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
-
Samuel L. L. Lemos é agora professor de Administração do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Carlos Eduardo Cavalcante é agora professor adjunto de Administração da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Patrícia T. Caldas é agora professora assistente na Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Solange Cristina Vale é agora doutoranda em Administração de Empresas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Jardel Augusto G. R. Alves é agora mestrando em Administração de Empresas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
REFERENCES
- Ageu, J. D. (2015). Motivações de permanência no trabalho voluntário: Um estudo na Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).
- Aquino, M. A. G. (2015). Expectativas, adesão e desligamento no trabalho voluntário: Estudos de motivos do voluntariado da Fundação Cidade Viva, João Pessoa-PB (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2001). Terceiro setor e desenvolvimento social. Relato Setorial n. 3 AS/GESET.
- Batson, C. D. (2002). Addressing the altruism question experimentally. In S. G. Post, L. G. Underwood, J. P. Schloss, & W. B. Hurlbut (Eds.). Altruism and altruistic love: Science, philosophy, and religion in dialogue (pp. 89-105). New York: Oxford University Press.
- Boni, V., & Quaresma, J. S. (2005). Aprendendo a entrevistar: Como fazer entrevistas em ciências sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Politica da UFSC, 2(1), 68-80.
- Bowen, G. L. (1988). Family life satisfaction: A value-based approach. Family Relations, 37, 458-462.
- Brasil (1998). Lei n. 9.608 de, 18 de fevereiro de 1998 Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
- Cavalcante, C. E. (2005). Desenho do trabalho e comprometimento organizacional: Um estudo em voluntários da cidade de Natal/RN (Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil).
- Cavalcante, C. E. (2012). Modelo estrutural de motivação no trabalho voluntário: Expectativas e motivos de voluntários da Pastoral da Criança. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.
- Cavalcante, C. E. (2014). Motivação no trabalho voluntário: Delineamento de estudos no Brasil. Revista Estudos do Cepe, (38), 161-182.
- Cavalcante, C. E., & Medeiros, C. A. F. (2007). Desenho do trabalho voluntário e comprometimento organizacional: Um estudo nas organizações não governamentais. Anais do Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Natal, RN, Brasil, 1.
- Cavalcante, C. E., Souza, W. J. de, Fernandes, L. T., & Cortez, C. L. B. (2013). “Why am I a volunteer?”: Building a quantitative scale. Revista Eletrônica de Administração, 19(3), p. 569-587.
- Cidade Viva (2015a). Conheça a fundação Recuperado de http://cidade viva.org/
» http://cidade viva.org/ - Cidade Viva (2015b). Godstock Recuperado de https://goo.gl/Th1nHK
» https://goo.gl/Th1nHK - Cnaan, R. A., & Cascio, T. A. (1998). Performance and commitment: Issues in management of volunteers in human service organizations. Journal of Social Service Research, 24(3-4), 1-37.
- Cuthill, M., & Warburton, J. (2005). A conceptual framework for volunteer management in local government. Urban Policy and Research, 23(1), 109-122.
- Dhebar, B. B., & Stokes, B. (2008). A nonprofit manager’s guide to online volunteering. Nonprofit Management and Leadership, 18(4), 497-506.
- Drucker, P. F. (1999). Administração de organizações sem fins lucrativos: Princípios e práticas São Paulo: Thomson Learning.
- Falconer, A. P. (2003). Caminho das pedras: As muitas causas do terceiro setor Recuperado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult10 63u686.shtml
» http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult10 63u686.shtml - Fernandes, R. C. (1994). Privado porém público: O terceiro setor na América Latina Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
- Ferreira, A. B. H. (2001). O novo dicionário Aurélio da língua portuguesa Curitiba: Positivo.
- Fisher, H. E. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love New York: Henry Holt and Company.
- Fontoura, J. A. da (2003). “Voluntariar”: um ato de cidadania. Integração - Revista Eletrônica do Terceiro Setor, (26).
- Glass, J., Bengtson, V. L., & Dunham, C. C. (1986). Attitude similarity in three-generation families: Socialization, status inheritance, or reciprocal influence? American Sociological Review, 51, 685-698.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012). As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil - 2010 Rio de Janeiro: IBGE. Recuperado de https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html
» https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 2016 Recuperado de https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?t=series-hist%25C3%25B3ricas
» https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?t=series-hist%25C3%25B3ricas - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 2017 Recuperado de https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149
» https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012). A Paraíba no contexto nacional, regional e interno Recuperado de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1186/1/TD_1726.pdf
» http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1186/1/TD_1726.pdf - Koshiba, L., & Pereira, D. M. F. (2006). História geral e Brasil Ribeirão Preto: Atual.
- Landim, L. (2001). As pessoas: voluntariado, recursos humanos, liderança. Anais do Seminário “ Filantropía, Responsabilidad Social Y Ciudadanía”, Antígua, Guatemala.
- Lemos, S. L. L. (2016). Motivação para expectativa, entrada, permanência e saída: Um estudo longitudinal no voluntariado da Fundação Cidade Viva (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil).
- Lenza, P., & Gonçalves, C. R. (2012). Direito civil 1 - Parte geral - Obrigações - Contratos (2a ed.). São Paulo: Saraiva.
- Mattos, P. L. C. L., & Diniz, J. H. A L. (2002). Organizações não-governamentais e gestão estratégica: Desfiguração do seu caráter institucional original? Anais do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Salvador, BA, Brasil, 26.
- Mostyn, B. (1983). The meaning of volunteer work: A qualitative investigation. In S. Hatch (Orgs.). Volunteers: Patterns, meanings & motives Hertz, UK: The Volunteer Centre.
- Motter, D. G., & Okabayashi, R. Y. (2005). O voluntariado na perspectiva de gênero: reflexões a partir de uma experiência com a Associação dos Voluntários do Hospital Universitário de Londrina. Serviço Social em Revista, 7(2).
- Musick, M. A., & Wilson, J. (2008). Volunteers: A social profile Bloomington: Indiana University Press.
- Nesbit, P. L. (2012). The role of self-reflection, emotional management of feedback, and self-regulation processes in self-directed leadership development. Human Resource Development Review, 11(2), 203-226.
- Pilati, R., & Hees, M. A. G. (2011). Evidências de validade de uma versão brasileira do Inventário de Funções do Voluntariado - IFV. Psico-USF, 16(3), 275-284.
- Pitombo, T. C. D. T., & Pizzinatto, N. K. (2004). Planejamento de comunicação e marketing no terceiro setor: Estudo de caso na entidade assistencial Abamac - Campinas. Anais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Porto Alegre, RS, Brasil, 27.
- Prates, M. C. (1997). Terceiro setor: Para que serve? Revista Conjuntura Econômica, 51(1), 41-45.
- Rede Brasil Voluntário (2001). Perfil do voluntário no Brasil Recuperado de https://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=rede_brasil_voluntarios
» https://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=rede_brasil_voluntarios - Regis, H. P., & Calado, S. M. R. (2001). A motivação para participar do Programa da Qualidade do Cefet-PB: Um exame com base na teoria da expectância. Anais do Encontro da Anpad, Campinas, SP, Brasil.
- Saccol, A. Z. (2009). Um retorno ao básico: Compreendendo os paradig- mas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração. Revista de Administração da UFSM, 2(2), 250-269.
- Salamon, L. M. (1994). The rise of the nonprofit sector. Foreign Aff, 73, 109.
- Salamon, L. M., & Anheier H. (1995). The emerging sector, an overview (vol. 1). Manchester: University Press.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Metodologia de pesquisa (3a ed.). São Paulo: McGraw-Hill.
- Santos, L. M. L., Oliveira, B. C. S. C. M., & Rocha, J. C. M. (2013). O perfil do terceiro setor na cidade de Londrina: Mapeando as organizações do terceiro setor. Interações, 14(1), 37-51. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-7012201300010000 4&lng=en&nrm=iso
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-7012201300010000 4&lng=en&nrm=iso - Scherer-Warren, I. (2006). Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Sociedade e Estado, 21(1), 109-130.
- Silva, C. E. G. (2010). Gestão, legislação e fontes de recursos no terceiro setor brasileiro: uma perspectiva histórica. Revista de Administração Pública, 44(6), 1301-1325.
- Souza, W. J., Medeiros, J. P., & Fernandes, C. L. (2006). Trabalho voluntário: Elementos para uma tipologia. Colóquio Internacional sobre Poder Local, Salvador. Desenvolvimento e Gestão Social de Território, Salvador, BA, Brasil, 10.
- Souza, W. J. (2008). Responsabilidade social e terceiro setor Brasília: Universidade Aberta do Brasil.
- Stukas, A. A., Hoye, R., Nicholson, M., Nicholson, M., & Aisbett, L. (2016). Motivations to volunteer and their associations with volunteers’ well-being. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(1), 112-132.
- Taylor, T., Darcy, S., Hoye, R., & Cuskelly, G. (2006). Using psychologi- cal contract theory to explore issues in effective volunteer management. European Sport Management Quarterly, 6(2), 123-147.
- Teodosio, A. S. S. (2002). Voluntariado: Entre a utopia e a realidade da mudança social. Anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Salvador, BA, Brasil.
- Vasconcelos, S. N. C. (2004). Ordem DeMolay e liderança: Um novo conceito na perspectiva da afetividade e da identidade - paradigmas e paradoxos Recuperado de http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/TL0194.pdf
» http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/TL0194.pdf - Vroom, V. H. (1964). Work and motivation New York: Wiley.
- Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215-240.
- Zavala, R. (2007). GIFE: Pelo impacto no investimento social Recuperado de http://www.gife.org.br/artigo-ibge-calcula-participacao-economica-do-terceiro-setor-11939.asp
» http://www.gife.org.br/artigo-ibge-calcula-participacao-economica-do-terceiro-setor-11939.asp
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
01 Ago 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
13 Nov 2018 -
Aceito
21 Dez 2018