RESUMO
Este estudo busca descrever e analisar o fenômeno da síncope da vogal postônica não final no falar paranaense interiorano, com base em dados coletados em entrevistas realizadas pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), em dezesseis pontos de inquérito situados no interior do Paraná, totalizando 64 informantes. Desse modo, foram avaliadas a frequência e possíveis fatores linguísticos e extralinguísticos que podem condicionar a síncope/manutenção da vogal postônica não final das proparoxítonas em onze itens lexicais: lâmpada, elétrico, fósforo, pólvora, abóbora, árvore, sábado, número, fígado, vômito, hóspede , que constam do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) do Questionário do ALiB (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001). A investigação fundamenta-se na perspectiva da Dialetologia Pluridimensional (THUN, 1998) e à luz do modelo fonológico autossegmental para a sílaba, em análise do padrão silábico do português brasileiro (COLLISCHONN, 1996; BISOL, 1999). Constatamos que o contexto fonológico das vogais postônicas e segmentos adjacentes podem interferir no condicionamento da síncope, enquanto as variáveis extralinguísticas não se mostraram producentes para esse processo em nosso corpus .
Atlas Linguístico do Brasil; Síncope; Proparoxítonas; Sílaba; Dialetologia Pluridimensional
ABSTRACT
In this paper, we aim to describe and analyze the phenomenon of syncope of postonic vowel in non-final context, based on data collected in interviews conducted by the project Linguistic Atlas of Brazil (ALiB), in sixteen points of inquiry located in the inland of Paraná, with a total of 64 informants. Thereby, we evaluate the frequency and possible linguistic and extralinguistic factors that can condition syncope/maintenance of non-final postonic vowel of proparoxytones in eleven lexical items: lâmpada (‘light bulb’), elétrico (‘electric’), fósforo (‘match’), pólvora (‘gunpower’), abóbora (‘pumpkin’), árvore (‘tree’), sábado (‘Saturday’), número (‘number’), fígado (‘liver’), vômito (‘vomit’) and hóspede (‘guest’) that are part of the Phonetic-Phonological Questionnaire (QFF in Portuguese) of the ALiB Questionnaire (ALiB PROJECT NATIONAL COMMITTEE, 2001). The investigation rests on the perspective of Pluridimensional Dialectology (THUN, 1998THUN, H. La géographie linguistique romane à la fin du XXe siècle. In: ENGLEBERT, A.; PIERRARD, M.; ROSIER, L.; Van RAEMDONCK, D . Actes do XXIIe Congrès International de Linquistique et de Philologie Romanes. Bruxelas: Max Niemeyer Verlag, 1998. p. 367-409.) and in light of the autosegmental phonological model for the syllable, in analysis of the syllabic pattern of Brazilian Portuguese (COLLISCHONN, 1996COLLISCHONN, G. A sílaba em português. In: BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro . Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 99-131.; BISOL, 1999BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. H. M. (org.). Gramática do português Falado. Campinas: Editora Humanista: FFLCH/USP, 1999. p. 701-742.). We found out that the phonological context of postonic vowels and adjacent segments may interfere in the conditioning of syncope, while the extralinguistic variables are not productive for this process in our corpus .
Linguistic Atlas of Brazil; Syncope; Proparoxytones; Syllable; Pluridimensional Dialectology
Introdução
As proparoxítonas, padrão acentual menos produtivo no contexto do português do Brasil, tendem a uma redução fônica em contexto de fala no segmento subsequente à sílaba tônica, os quais sofrem a síncope da vogal átona não-final, tornando os vocábulos paroxítonos. Conforme exposto por Silva Neto (1956SILVA NETO, S. da. Fontes do latim vulgar . Rio de Janeiro: Acadêmica, 1956 [1938]. [1938]), a tendência para a redução das proparoxítonas já ocorria com certa frequência no latim vulgar, tendo sido documentada no Appendix Probi . Esse fenômeno atravessou diversas fases do português e, atualmente, pode ser observado na fala popular.
Ilari (2004)ILARI, R. Lingüística românica . 3. ed. São Paulo: Ática, 2004. documenta que muitas formas divergentes evoluíram de modos diferentes nas línguas românicas e tiveram origens em palavras do latim erudito (proparoxítona) e do latim vulgar (paroxítonas), a saber: óculos e olho , artículo e artelho , partícula e partilha , coágulo e coalho . Em relação à passagem do latim para o português, Ali (1964)ALI, M. S. Gramática histórica da língua portuguesa . São Paulo: Melhoramentos, 1964. postula que ocorreu o desaparecimento de alguns fonemas no interior de vocábulos, como em: dedo ( digitu ), verde ( viride ) etc. Coutinho (1976COUTINHO, I. de L. Pontos de gramática histórica . 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976. , p. 32, grifo do autor) assinala a característica do latim vulgar de uma “tendência a evitar as palavras proparoxítonas: masclus (masculus), domnus (dominus), caldus (calidus), fricda (frigida), virdis (viridis) ”, que sofriam redução. O filólogo já asseverava que a sonoridade da vogal tônica poderia refletir-se na sílaba final ou abranger a consoante mais próxima, sustentando a permanência de alguns vocábulos na forma proparoxítona.
Câmara Jr. (1985, p. 35, grifo do autor), por sua vez, ratifica a fala dos supracitados estudiosos: “[...] os vocábulos portugueses de acentuação na antepenúltima sílaba raramente provêm da evolução no latim vulgar (um exemplo é pêssego , do lat. persi(cum ).” Segundo o linguista, a maior parte das proparoxítonas tem procedência de empréstimos do latim clássico, processados principalmente a partir do século XVI, dentre eles, algumas palavras gregas adaptadas à estrutura do latim clássico.
O autor ainda explica que, mesmo na língua padrão, ocorre a tendência à redução e, na fala popular, esse fenômeno opera por meio da “[...] supressão do segmento fônico compreendido entre a vogal acentuada e a vogal final (ex.: Petrópis para o topônimo Petrópolis ; exérço em vez de exército; glóbo substituindo glóbulo )”. (CÂMARA JR., 1985, p. 35, grifo do autor).
As falas dos supramencionados linguistas e filólogos esclarecem o fato de que a redução das proparoxítonas não constitui um processo linguístico restrito somente ao português falado no Brasil, por falantes pouco escolarizados, mas advém de um processo histórico que faz parte da evolução da língua, em variação estável, conforme observou também Gomes (2011)GOMES, D. K. A síncope das vogais postônicas não-finais: variação na fala popular urbana do Rio de Janeiro. Diadorim: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, Rio de Janeiro, n.8, p. 81-102, 2011. .
Posto isso, delimitamos como objetivo geral da presente pesquisa: descrever o processo de síncope de um ou mais segmentos postônicos não-finais nas proparoxítonas, analisando o padrão silábico do português brasileiro com base em um modelo fonológico autossegmental para a sílaba e à luz da Dialetologia Pluridimensional, a partir de dados orais, coletados pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil (doravante ALiB) no interior do Paraná. Para isso, buscamos: i) mostrar a frequência de uso da manutenção das proparoxítonas e das variantes sincopadas no falar interiorano paranaense; ii) demonstrar, sob o viés do modelo fonológico autossegmental para a sílaba, quais estruturas silábicas postônicas beneficiam ou inibem a realização da síncope nas formas proparoxítonas; iii) examinar os possíveis fatores extralinguísticos (sexo e faixa etária) e localidade que cooperam na incidência do fenômeno; iv) contribuir com os estudos acerca de fatos fonéticos e fonológicos a respeito do português falado no Brasil, a fim de eliminar possíveis preconceitos linguísticos.
A partir dos objetivos delineados, emergem as questões de pesquisa que conduzem este trabalho:
-
O uso da forma sincopada das proparoxítonas é produtivo, mesmo por falantes residentes em meios urbanos?
-
Os fatores sociais, tais como o sexo e a faixa etária, podem favorecer o processo do apagamento na fala dos informantes do interior paranaense?
-
A distribuição geográfica da síncope das proparoxítonas tem condições de demonstrar a vitalidade do processo em alguma localidade paranaense?
Após um breve sumário do panorama linguístico-histórico a respeito da redução das proparoxítonas, procedemos à revisão da literatura que documenta esse fenômeno em estudos do falar regional.
A redução das proparoxítonas em estudos regionais
As pesquisas acerca dos falares regionais, levadas a cabo por dialetólogos, têm demonstrado que, para além do registro da redução das proparoxítonas no latim vulgar, tal fenômeno encontra guarida no vocabulário de falantes residentes em vários rincões do Brasil.
Amaral (1982AMARAL, A. O dialeto caipira: gramática, vocabulário. São Paulo: Hucitec/INL, 1982 [1920]. [1920]) apura, com relação ao dialeto caipira, que os falantes apresentavam a tendência a reduzir as formas que não são recorrentes aos usos da língua. Nos vocábulos esdrúxulos1 1 Como são também conhecidos os vocábulos proparoxítonos. , a tendência é suprimir a vogal da penúltima sílaba e até mesmo toda a sílaba, tornando o vocábulo grave ( ridico 2 2 Interessa notar que o Dicionário Aurélio documenta ridico como forma sincopada de ridículo, com a marca de uso “brasileirismo familiar mineiro”, no sentido de “avarento”. ( FERREIRA, 2010 ). = ridículo , legite = legítimo , cosca = cócega , musga = música ).
A respeito de o falar popular de Alagoas e Pernambuco, Marroquim (2008)MARROQUIM, M. A língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2008. comenta que os vocábulos, ao passar do latim ao português, transgrediram a lei fonética da conservação da tônica, deslocando-a à frente, como em: límitem > limíte ; océanum > oceáno ; íntegrum > intéiro ; cátedra > cadéira . No estudo da fala popular nordestina, em capítulo que trata da fonética, o pesquisador exemplifica com as variantes fôrgo , para fôlego e córgo para córrego .
Esse mesmo dialetólogo firmava que, seguindo a lei do menor esforço, os romanos evitaram os esdrúxulos cortando vogais átonas após as tônicas. Esses vocábulos eram listados no Appendix Probi e Marroquim (2008)MARROQUIM, M. A língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2008. comparou-os ao fenômeno que ocorre no falar do caboclo: sábado não sabo etc.
Na obra O linguajar carioca , Antenor Nascentes (1953NASCENTES, A. O Linguajar Carioca . 2. ed. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953 [1922]. [1922], p. 37, grifo do autor) assinala que analogicamente ao que ocorria na passagem do latim vulgar ao português, as proparoxítonas também sofreram síncope nas vogais postônicas. Elenca como exemplos: “ arvore - arve , passaro - passo , polvora - porva , marmore - marme , Alvaro - Arvo , abobora - abobra (ou aborba )”.
Outras obras de cunho dialetológico e variacionista registram o fenômeno da redução das proparoxítonas, além das supramencionadas obras basilares. No tópico a seguir, foram arroladas outras pesquisas mais recentes levando em conta condicionantes linguísticos e extralinguísticos que podem vir a incidir sobre o favorecimento ou inibição desse processo.
A redução das proparoxítonas em outros estudos variacionistas
A redução das proparoxítonas foi documentada por Araújo (2012)ARAÚJO, A. A. de. A redução das proparoxítonas a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória. v.6, n.7, p.7-19, 2012. em um corpus composto por 11 itens lexicais do Questionário Fonético-Fonológico – QFF ( COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil: Questionários 2001. Londrina: Eduel, 2001. ), em entrevistas junto a 200 informantes, em 25 capitais brasileiras contempladas pelo Projeto ALiB.
As variáveis extralinguísticas levam em conta a faixa etária (faixa I - 18 a 30 anos e faixa II- 45 a 60 anos), sexo (masculino e feminino) e escolaridade (ensino fundamental e nível universitário), pois aos inquéritos do Projeto ALiB em cada capital são adicionados quatro perfis de informantes com ensino superior. A autora não trabalhou com os possíveis condicionantes linguísticos para o fenômeno.
Para a análise estatística, foi utilizado o programa GoldVarb X. Em uma segunda rodada dos dados, foram registrados 94% de casos de não supressão da postônica e 6% de ocorrências de apagamento. Na análise estatística por região, a estudiosa averiguou que o favorecimento da síncope ocorreu principalmente em Florianópolis e Boa Vista. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Natal, Manaus, Macapá, Belém e Porto Velho não apresentaram falantes que favoreceram o apagamento. Em suma, Araújo (2012)ARAÚJO, A. A. de. A redução das proparoxítonas a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória. v.6, n.7, p.7-19, 2012. concluiu que a variável escolaridade (nível fundamental) manifestou ser favorecedora da síncope, bem como a localidade e a faixa etária (faixa II).
Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. efetuou uma investigação a respeito da redução das proparoxítonas nas 65 localidades que compõem o corpus do Atlas Linguístico do Paraná – ALPR ( AGUILERA, 1994AGUILERA, V. de A. Atlas Lingüístico do Paraná . Curitiba: Imprensa Oficial do Estado, 1994. ). No artigo, foram analisadas as questões cujas respostas deveriam ser as palavras árvore, útero, eucalipto, eclipse, amigdalas, relâmpago, glândula e estômago . Eclipse e eucalipto foram selecionadas, segundo argumento da autora, pois o falante, ao pronunciá-las, geralmente insere uma vogal epentética /i/, formando eclipise e eucalipito .
A variante árvore foi registrada em todas as localidades, e em 93% das respostas foram obtidas realizações paroxítonas ( arve , arvre , auve ). A redução da proparoxítona mostrou-se mais predominante nas variantes árvore, útero, eucalipto e eclipse . Nos itens amígdalas e glândula , as formas paroxítonas e proparoxítonas apresentaram-se de modo equilibrado, enquanto a forma reduzida para amígdalas foi menos registrada.
De modo geral, a referida estudiosa conclui que no ALPR predominam formas paroxítonas (excetuando-se estômago , que favoreceria a manutenção da forma proparoxítona). Outras variáveis extralinguísticas elegidas pela autora foram o grau de escolaridade e o sexo do informante, cujos números não mostravam grandes diferenças.
Partindo do estudo sobre o falar de Fortaleza, Aragão (2000)ARAGÃO, M. do S. S. As palavras proparoxítonas no falar de Fortaleza. Acta Semiotica et Linguistica , São Paulo, v.8, p.61-88, 2000. desenvolveu uma pesquisa intitulada “Dialetos Sociais Cearenses”, por meio de entrevistas, conversas espontâneas e interação entre médico e paciente. Os dados foram analisados segundo as variáveis: a) sexo; b) faixa etária (10-11 anos, 14-15 anos, 18-25 anos); c) grau de instrução (os antigos primário, ginásio, segundo grau), a fim de descrever e analisar o fenômeno do uso das proparoxítonas no falar de Fortaleza, correlacionando contextos linguísticos e sociolinguísticos.
Na análise dos fatores sociais, foram averiguadas diferenças pequenas quanto à faixa etária, talvez devido ao pequeno intervalo entre elas, como sugere a autora. Quanto ao fator diassexual, a dialetóloga constatou uma pequena diferença entre mulheres (71,42% de reduções) e homens (69, 76%). Em relação ao fator grau de escolarização, foi apurado que os resultados fugiram ao que se espera quanto à influência da escolarização na manutenção de proparoxítonas, pois os alunos com maior escolaridade registraram percentual majoritário de redução das proparoxítonas.
Em um estudo sob o viés da Sociolinguística Variacionista, Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. parte de um corpus composto por 40 informantes, da zona rural em São José do Norte, situado no Rio Grande do Sul, para investigar o processo de síncope das proparoxítonas, a fim de esmiuçar os fatores linguísticos e sociais que favorecem/desfavorecem o fenômeno. Para tanto, a autora analisou o processo por meio de uma análise quantitativa, lançando mão do pacote de programas VARBRUL.
Dentre as variáveis independentes aplicadas para a verificação do apagamento ou manutenção da sílaba postônica não-final, as que mais se destacaram foram o contexto fonológico seguinte (proparoxítonas que apresentam /r/ ou /l/ na ressilabação, gerando grupo consonantal em C + /l/ ou /r/, como em petla ( pétala ) ou arvri ( árvore ). Ao analisar os traços de articulação da vogal, a pesquisadora constatou que sílabas com /o/ e /u/ (labiais) favorecem a síncope, enquanto as coronais /e/ e /i/ não possuem tanto peso. Os resultados à análise do contexto linguístico do peso da sílaba precedente demonstraram que a sílaba leve (com estrutura CV – pétala) favorece a redução, enquanto a estrutura em CVC (véspera), fechada, desfavorece. O ponto de articulação do segmento anterior à vogal que sofre apagamento foi perscrutado como “contexto fonológico precedente”, revelando que a velar /k/ constitui ambiente mais propício para a queda, seguida da labial em ataque, como em: óclus – óculos .
Quanto às variáveis sociais, a escolaridade revelou-se determinante na redução das proparoxítonas. Em relação ao tipo de entrevista, a síncope mostrou-se mais presente em ambiente informal do que em contexto formal; quanto ao sexo, os resultados apontaram uma ligeira disparidade, um pouco mais significativa para os homens, que apagam mais. A variável faixa etária apresentou peso mais significativo de apagamento entre os falantes mais velhos e os mais novos, enquanto as faixas intermediárias evitaram a redução.
Após delineado o panorama dos estudos a respeito da redução de proparoxítonas, com base em dados orais, procedemos à discussão das teorias que embasam nossa análise.
Aporte teórico - modelo fonológico autossegmental - o tratamento da sílaba
A partir dos anos 70, a sílaba adquiriu status fonológico nos estudos da fonologia das línguas, comenta Collischonn (1996)COLLISCHONN, G. A sílaba em português. In: BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro . Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 99-131. . De acordo com a referida estudiosa, a partir da teoria proposta por Selkirk (1982)SELKIRK, E. The syllable. In: HULST, H.; SMITH, N. The structure of phonological representation . Dordrecht: Foris, 1982. v. 2. p. 337-383. , a representação arbórea da sílaba é organizada da seguinte forma:
A sílaba é composta por elementos denominados constituintes silábicos, a saber: um ataque (A) e rima (R). A rima, por conseguinte, é formada por um núcleo (N) e a coda (C). Todas as categorias podem ser vazias, exceto o núcleo.
As sílabas também podem ser categorizadas em leves ou pesadas. O modo como se constitui uma sílaba determina o peso silábico. As sílabas que apresentam rimas constituídas por somente uma vogal (apenas o núcleo) são leves e as que apresentam núcleo e coda - vogal e consoante ou vogal e glide - são pesadas.
Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. comenta sobre as restrições fonotáticas, baseando-se na estrutura silábica, exemplificando com a restrição das obstruintes em posição de coda no português brasileiro (doravante PB). Os falantes tendem a evitar esse segmento em coda silábica inserindo uma vogal /i/ epentética, formando o padrão CV. As restrições fonotáticas podem limitar as posições dos segmentos na estrutura da sílaba, envolvendo o ataque, núcleo ou coda. São mais frequentes processos envolvendo a rima, ou seja, o núcleo e a coda, completa a autora.
O template , conforme Selkirk (1982)SELKIRK, E. The syllable. In: HULST, H.; SMITH, N. The structure of phonological representation . Dordrecht: Foris, 1982. v. 2. p. 337-383. , é universal para todas as línguas. Cabe a cada uma, em particular, valer-se desta ou aquela parte do template , de acordo com restrições particulares. Trata-se de uma característica distintiva das línguas, assevera Collischonn (1996COLLISCHONN, G. A sílaba em português. In: BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro . Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 99-131. , p. 101-102) que “as línguas diferem quanto ao número de segmentos permitido em cada constituinte silábico [...]”, e ainda completa: “[...] o molde é uma afirmação geral a respeito da estrutura possível de sílabas numa determinada língua”.
No tocante ao português, caso exista mais de uma consoante à esquerda da rima, na sílaba, dá-se origem a um ataque complexo que, segundo Bisol (1999)BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. H. M. (org.). Gramática do português Falado. Campinas: Editora Humanista: FFLCH/USP, 1999. p. 701-742. , admite no máximo dois elementos, enquanto o núcleo é sempre composto por uma vogal e, na posição de coda, são elencados, no máximo, dois segmentos. De acordo com Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. , apenas /r/ e /l/, nasais ou consoantes soantes (além dos glides), são licenciados, no PB, a ocupar posição de coda. No item a seguir, os constituintes silábicos do ataque e o processo fonológico da síncope serão pormenorizados.
O fenômeno da síncope com base em um modelo fonológico autossegmental para a sílaba
A síncope consiste no desaparecimento de fonema(s) no interior de um vocábulo. Consoante Quednau (2002QUEDNAU, L. R. A síncope e seus efeitos em latim e em português arcaico. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. v. 1. p. 79-98. , p. 79, grifo do autor), existiram, na evolução do romanço lusitânico, processos sistemáticos de síncope: “1) síncope da vogal postônica dos proparoxítonos latinos, com redução do vocábulo a paroxítono e possível evolução posterior do grupo consonântico resultante, como em apícula> apicla> abelha [...] ; 2) síncope de consoante sonora entre vogais, como em mala> maa> má [...]”. Em período mais recente, continua a pesquisadora, ainda é registrada a “síncope da oclusiva como primeiro membro de grupo consonântico, em vocábulos eruditos, como em excepção>exceção [...]”. No estudo em tela, interessamo-nos pelo caso da subtração de um ou mais segmentos na(s) sílaba(s) postônica(s) em vocábulos, reduzindo-os a paroxítonas, seguindo as regras fonotáticas da língua, que determinam as posições de cada segmento em uma sílaba. Desse modo, conforme explana Amaral (2002, pAMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. , p. 102, grifo do autor), o grupo consonantal que resulta do processo deve “[...] constituir um ataque bem-formado ( ár.vo.re > ar.vre , re.lâm.pa.go > re.lam.po ) ou uma coda bem-formada ( pé.ro.la > per.la )”. Para tanto, a síncope desencadeia os processos fonológicos de assimilação, ressilabação e reestruturação dos pés métricos, esclarece Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. .
No PB, a posição de ataque permite até dois segmentos pelo sistema, que podem ser oclusiva ou fricativa labial (primeira posição), seguidos de líquida lateral ou líquida vibrante (segunda posição), formando a sequência obstruinte + líquida, nos exemplos: br , cr , cl , tl etc. Ao constituir um ataque bem-formado, os segmentos obedecem ao Princípio de Sequenciamento de Soância (PSS), segundo Clements (1990 apudAMARAL, 2002AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. ), dispostos segundo a escala:
(Mais sonoro) vogais > glides > líquidas > nasais > obstruintes (Menos sonoro)
O núcleo, no PB, deve ser constituído por segmentos de sonoridade mais alta (as vogais), enquanto em suas bordas situam-se os segmentos de menor sonoridade, ou seja, crescente em direção do ataque ao núcleo, e decrescente, no rumo do núcleo para a coda, conforme o esquema:
Posto isso, sequências de segmentos em nt (nasal > obstruinte) não se posicionam em posição de ataque, pois violam a sequência sonora (a nasal é mais sonora do que a obstruinte e, em posição de ataque, o movimento deveria ser crescente). Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. postula que os falantes apresentam essa regra fonotática internalizada, por isso, é possível prever a síncope nas proparoxítonas, a inserção e queda de determinados segmentos nos vocábulos. Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. explana que os processos fonológicos dão-se na rima, portanto, o apagamento da vogal postônica ocorre nessa posição silábica; quando o núcleo é apagado, o segmento de ataque pode ser incorporado à próxima sílaba ou também sofrer a síncope.
Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. postula que, no processo de ressilabação, o segmento consonantal flutuante da sílaba postônica se reintegra à sílaba seguinte em posição de ataque, ou à sílaba tônica anterior, em coda. Em consequência, o pé silábico sofre uma reestruturação, tornando o vocábulo, antes proparoxítono, uma paroxítona. A assimilação se dá quando os segmentos assimilam características do segmento anterior (assimilação progressiva) ou posterior (assimilação regressiva), elencando como exemplos “ cócega > cóska ” para o primeiro, e “ físico > fisco ” para o último. Desse modo, infere-se que as características dos segmentos que compõem a estrutura silábica e seus adjacentes interferem na ressilabação após o apagamento da vogal postônica, processo esse que é examinado no vocabulário em uso dos falantes paranaenses, neste trabalho.
No item a seguir, foram resenhados os estudos que embasam a teoria da Dialetologia Pluridimensional, visto que os fatores extralinguísticos, sociais, bem como a localidade em que são documentados os fenômenos também podem vir a interferir em processos fonológicos registrados no português popular brasileiro.
A Dialetologia Pluridimensional
A Dialetologia, enquanto disciplina, tem por tarefa identificar, descrever e situar os usos em que uma língua se diversifica, consoante a distribuição espacial, cronológica e sociocultural ( CARDOSO, 2002CARDOSO, S. A. M. A Geolingüística no terceiro milênio: monodimensional ou pluridimensional? Revista GELNE , Fortaleza, v.4, n.2, p.1-16, 2002. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/download/9088/6442/0. Acesso em: 22 jan. 2019.
https://periodicos.ufrn.br/gelne/article...
). Por meio do método da Geografia Linguística, em espaços predeterminados, são recolhidos de forma sistemática e cartografados os testemunhos da realidade dialetal. Essencialmente, conforme Contini e Tuaillon (1996CONTINI, M.; TUAILLON, G. Introduction. In: ATLAS LINGUISTIQUE ROMAN [ALiR]. Présentation . Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. v.1. p. 1-18. , p. 7, tradução nossa), “A Dialetologia tem por finalidade essencial estudar a variação geolinguística”3
3
No original: “ la dialectologie a pour tache essentielle d’étudier la variation geolinguistique” ( CONTINI; TUAILLON, 1996 , p. 7).
. Em sua gênese, caracterizou-se pelo aspecto monodimensional de análise do fenômeno da variação linguística, pela primazia conferida ao nível diatópico (espacial) como objeto da investigação. Teve início com os grandes Atlas nacionais de Georg Wenker (1881)WENKER, G. Sprachatlas von Nord - und Mitteldeutschland: Auf Grund von systematisch mit Hülfe der Volksschullehrer gesammelten Material aus circa 30000 Orten. Abtheilung I Lieferung 1. Strasbourg/London: Karl J. Trübner, 1881. , na Alemanha, e foi sistematizada com a publicação do Atlas Linguistique de la France , por Gilliéron e Edmont (1902-1910). A partir desses estudos, variados outros foram desenvolvidos na Europa e América seguindo a orientação monodimensional.
As transformações sócio-histórico-culturais, a mudança no grau de mobilidade humana, antes caracterizado pelo isolamento e sedentarismo; a evolução nos meios de comunicação, a passagem do homem do meio rural ao urbano, dentre outros fatores, influenciaram na dinâmica da língua. Com a inauguração dos estudos sociolinguísticos na década de 60, por William Labov, progressivamente, a Dialetologia passou a abarcar a vertente social. Desse modo, a Dialetologia Pluridimensional, consoante Thun (1998THUN, H. La géographie linguistique romane à la fin du XXe siècle. In: ENGLEBERT, A.; PIERRARD, M.; ROSIER, L.; Van RAEMDONCK, D . Actes do XXIIe Congrès International de Linquistique et de Philologie Romanes. Bruxelas: Max Niemeyer Verlag, 1998. p. 367-409. , p. 369), se “caracteriza pelo alargamento do campo de observação e por um trabalho em produtividade mais desenvolvido”.
Além da dimensão diatópica, passaram a ser considerados outros parâmetros que condicionam a variação, tais como os fatores sociais, externos à língua, abrindo caminhos para análise dos fatos linguísticos segundo as variáveis diassexual, diageracional, diastrática, dentre outras. A primeira refere-se à maneira como os falantes dos sexos masculino e feminino utilizam a linguagem; a segunda diz respeito à influência da faixa etária dos falantes nos usos linguísticos; a última remete ao grau de escolaridade e sua incidência nos registros linguísticos. ( CARDOSO, 2010CARDOSO, S. A. M. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. ).
Imerso nesse novo panorama de estudos que norteia os estudos geolinguísticos, surgiu, em 1996, o Projeto Atlas Linguístico do Brasil4 4 Para conhecer mais sobre o Projeto ALiB, acesse o site: < https://alib.ufba.br/> . , de caráter nacional, que, dentre outros objetivos, visa “[...] descrever, com base em dados empíricos, sistematicamente coletados, a realidade linguística do país, no que tange à língua portuguesa, fornecendo dados linguísticos atualizados não só da diversidade diatópica, mas também da variação diageracional, diastrática, diagenérica e diafásica” (CARDOSO et al ., 2014a, p. 23). Os primeiros resultados do projeto, referentes às entrevistas levadas a cabo em 25 capitais brasileiras foram publicadas em 2014. (CARDOSO et al ., 2014a, 2014b).
Para nosso estudo, dada a metodologia do ALiB para os inquéritos em localidades situadas no interior, verificamos apenas as variáveis diassexual, diageracional e diatópica. No item adiante, foram delineados os procedimentos metodológicos que norteiam nossa análise.
Procedimentos metodológicos
O corpus desta pesquisa é constituído por dados extraídos do acervo do Projeto ALiB, cuja coleta é realizada in loco e segue os pressupostos da Dialetologia Pluridimensional ( THUN, 1998THUN, H. La géographie linguistique romane à la fin du XXe siècle. In: ENGLEBERT, A.; PIERRARD, M.; ROSIER, L.; Van RAEMDONCK, D . Actes do XXIIe Congrès International de Linquistique et de Philologie Romanes. Bruxelas: Max Niemeyer Verlag, 1998. p. 367-409. ), i. e., associa a Dialetologia tradicional à Sociolinguística. As entrevistas, transcrições e revisões foram realizadas pela equipe do Paraná do Projeto ALiB, sob coordenação da professora Drª Vanderci de Andrade Aguilera.
Selecionamos onze itens lexicais, a saber: lâmpada, elétrico, fósforo, pólvora, abóbora, árvore, sábado, número, fígado, vômito, hóspede do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) do Questionário do ALiB ( COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil: Questionários 2001. Londrina: Eduel, 2001. ). Foram selecionados todos os itens proparoxítonos abordados no QFF do referido projeto que, por sua vez, tem como base, outros estudos em corpora geolinguísticos, como os atlas linguísticos já publicados, a fim de facilitar a intercomparação dos fenômenos linguísticos em diversos estudos. Foram computadas as respostas dadas ao longo de toda a entrevista, tanto em primeira ou segunda resposta, quanto em outros trechos da gravação.
Ressaltamos que o QFF apresenta questões dirigidas, provocando o ambiente linguístico para o estudo das proparoxítonas, ensejando respostas curtas e diretas, além de ser um momento da entrevista em que o falante presta mais atenção à sua fala, tornando-a, em um continuum de nível menos formal ao mais formal, mais cuidada. Em trecho a seguir, extraído das transcrições do projeto ALiB, apresentamos um modelo da entrevista:
INQ.- Como se chama aquilo que se coloca nos fogos/foguetes para que eles estourem?
INF.- Pólvora.
A amostra desta pesquisa constitui-se de 64 informantes, distribuídos em 16 localidades do interior do estado do Paraná: Nova Londrina, Londrina, Terra Boa, Umuarama, Tomazina, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Piraí do Sul, Toledo, Adrianópolis, São Miguel do Iguaçu, Imbituva, Guarapuava, Morretes, Lapa e Barracão.
Os informantes estão estratificados segundo as variáveis sociais apresentadas no Quadro 1 .
A fim de observarmos a síncope ou manutenção das postônicas não-finais, realizamos o levantamento dos itens, a partir da audição das entrevistas, e posterior tabulação. Com a planilha montada, quantificamos os dados em percentual e números absolutos.
Em seguida, para os itens que apresentaram índice significativo de síncope, arrolamos modelos de representações da reestruturação silábica, analisando o padrão silábico do português brasileiro com base em um modelo fonológico autossegmental para a sílaba.
Ao final, a análise quantitativa das variáveis extralinguísticas sexo e faixa etária, e a distribuição nos dezesseis pontos de inquérito perscrutados foi contemplada por meio da organização de um quadro comparativo da produtividade de realizações proparoxítonas e formas sincopadas.
Análise dos dados
Análise quantitativa da manutenção e/ou síncope das postônicas
Os itens em estudo foram observados, em sua maioria, isolados de contextos prosódicos maiores do que a palavra fonológica, característica do Questionário Fonético-Fonológico do ALiB, a fim de observar se a síncope das postônicas está relacionada à formação e forma do pé.
Os processos de síncope verificados consistem na queda da vogal postônica não-final que, por vezes, culmina no apagamento de outros segmentos. Assim, consideramos, como casos de síncope, as ocorrências de queda da vogal postônica não final e síncope da vogal postônica não final aliada ao apagamento da consoante em posição de ataque da última sílaba. Em outros, incluímos os demais fenômenos observados durante a coleta, mas que não se encaixam no processo analisado, como a apócope. E, por fim, como não resposta, agrupamos os casos em que o inquiridor não formulou a pergunta e casos em que os informantes não souberam responder ou preferiram outros itens não pertinentes para o estudo, como no caso da pergunta 127 do QFF, na qual os informantes registraram as formas verbais ( vomitô , gomitô , vomitá , vomitado ).
Na Tabela 1 , estão listados os dados obtidos em números absolutos e percentuais.
O padrão que emerge da leitura da Tabela 1 indica que a redução das proparoxítonas, em ordem de produtividade, mostrou a preferência em vocábulos como: abóbora (apresentando 16 registros), árvore (12), fósforo (10) e pólvora (8), com menor ocorrência em: fígado , hóspede e elétrico , e as hápax legomena (um registro) das variantes desprestigiadas para lâmpada e sábado . A manutenção da proparoxítona apresentou-se hegemônica para os itens número e vômito , perfazendo 100% das realizações, indicando um possível contexto não favorável para a síncope, que será analisado a seguir.
Na pesquisa de Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. , a redução também se mostrou predominante em variantes para árvore . Os resultados da pesquisa efetuada pela referida pesquisadora, acerca do corpus do ALPR (1994) no interior do Paraná, indicavam a predominância das formas reduzidas; em contrapartida, o cenário linguístico atual, com base nos dados do ALiB em pontos no interior paranaense5 5 Dentre os pontos de inquérito do ALiB no interior do Paraná, sete pontos coincidem com o ALPR: Adrianópolis, Barracão, Campo Mourão, Guarapuava, Lapa, Londrina, Umuarama. , demonstra a primazia da manutenção das formas proparoxítonas. Foi registrado o percentual 90,2% de manutenções de variantes padrão e 7,7% de formas sincopadas, dimensões numéricas próximas à porcentagem da pesquisa nas capitais com o corpus do ALiB, levada a cabo por Araújo (2012)ARAÚJO, A. A. de. A redução das proparoxítonas a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória. v.6, n.7, p.7-19, 2012. .
A seguir, analisamos o processo de reestruturação silábica, com base na análise do padrão silábico do português brasileiro segundo o modelo fonológico autossegmental para a sílaba. ( COLLISCHONN, 1996COLLISCHONN, G. A sílaba em português. In: BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro . Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 99-131. ; BISOL, 1999BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. H. M. (org.). Gramática do português Falado. Campinas: Editora Humanista: FFLCH/USP, 1999. p. 701-742. ).
Exame da reestruturação silábica para as variantes sincopadas
Procedemos à análise do fenômeno de acordo com a ordem dos itens que constam na Tabela 1 .
a) A redução da proparoxítona em lâmpada:
Foi registrado apenas um caso de redução da proparoxítona lâmpada no corpus , possivelmente uma idiossincrasia do falante, visto que, ao verificar toda a entrevista, pudemos observar a sua tendência em apagar segmentos finais nos vocábulos.
A vogal átona postônica não-final dorsal /a/ sofre o processo da síncope, por conseguinte, a consoante (obstruinte) oclusiva bilabial /p/ torna-se flutuante e tenta a ressilabação na sílaba final, em posição de ataque, mas esse ataque complexo em /pd/ não é licenciado no PB. Com isso, a consoante oclusiva alveolar (também obstruinte) /d/ da sílaba final é apagada e o segmento /p/ é ressilabado, formando uma sílaba reestruturada segundo o padrão silábico do PB: lâm.p a .da > lâm.pØ. d a > lâm.pØ.Øa > lâm.pa. De fato, Lima (2008, pLIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. , p. 93, grifo do autor) certifica em sua pesquisa quanto ao contexto fonológico seguinte, que as obstruintes e nasais em posição de ataque complexo não são favorecedoras do processo, pois “[...] estes segmentos não estão licenciados para segunda posição de um ataque complexo. Assim, em nossos dados, quando uma vogal era apagada, as obstruintes apagaram junto com a vogal postônica ( relâmpa g o > relampu ; lâmpa d a > lampa )”.
A autora complementa que o contexto favorecedor nessa posição é o formado pela líquida vibrante (mais propício) ou pela líquida lateral, afirmação essa que foi verificada ao longo do presente estudo.
b) A redução da proparoxítona em elétrico:
Foram obtidas somente duas ocorrências das formas reduzidas para a proparoxítona elétrico no corpus . Após a queda da vogal postônica coronal /i/, o ataque em obstruinte /t/, seguido de líquida vibrante /r/ fica flutuante, mas não pode agregar-se à sílaba posterior, em posição de ataque, pois essa posição não é licenciada segundo as regras que regem o molde silábico do PB; a obstruinte /k/ é sincopada e a última sílaba passa a ser formada por ataque complexo, em /tr/: elé.tri.co > elé.trØ.co > elé.trØ.Øo > elé.tro.
c) A redução da proparoxítona em fósforo:
A forma padrão fósforo sofreu o processo da síncope da vogal átona postônica não-final labial /o/, e o segmento obstruinte /f/ tornou-se flutuante, vindo a acoplar-se na sílaba posterior, formando um ataque complexo /fr/: fós.fo.ro > fós.fØ.ro > fós.fro, com três ocorrências. Por outro lado, foram obtidos seis registros para a variante reduzida fósfo , somando o processo anterior à queda da líquida vibrante; com isso, na ressilabação, a consoante flutuante /f/ forma um ataque simples na última sílaba: fós.fo.ro > fós.fØ.Øo > fós.fo. Ainda, um informante registrou a variante sincopada fósso , que revela a somatória do fenômeno da síncope ao processo fonológico de assimilação total progressiva da consoante contígua fricativa alveolar /s/ pela labiodental /f/, dada a familiaridade dos traços sonoros dos dois segmentos, ambos fricativos: fós.fo.ro > fós.fØ.Øo > fós.fo > fós.so.
d) A redução da proparoxítona em pólvora:
A variante proparoxítona pólvora passou pelo processo da síncope na vogal postônica não-final labial /o/, tornando a obstruinte /v/ flutuante, a qual se integra à última sílaba, agregando-se à consoante líquida vibrante /r/, gerando uma nova sílaba reestruturada segundo molde silábico do PB: pól.vo.ra > pól.vØ.ra > pol.vra, em apenas um dos registros. Os falantes paranaenses privilegiaram, como variante sincopada, a forma reduzida pórva , com sete ocorrências. Ao processo da síncope da vogal labial /o/ somou-se o rotacismo do /l/ por /r/ por assimilação regressiva do traço da vibrante, e posterior queda da consoante /r/: pól.vo.ra > pól.vØ.ra > *pór.vra > pór.vØa > pór.va. De fato, Câmara Jr. (1985) assevera a variação existente entre o emprego no uso da consoante /r/ ou /l/, com predileção pela primeira, indicando casos de variação livre documentada na literatura, para frecha ao invés de flecha . Com efeito, os dados revelam essa inclinação do uso pelos falantes paranaenses do /r/ (em pórva) em face do /l/ (em pólva) como variante sincopada.
e) A redução da proparoxítona em abóbora:
Na obra O linguajar carioca , Antenor Nascentes (1953NASCENTES, A. O Linguajar Carioca . 2. ed. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953 [1922]. [1922]) salienta a tendência da redução de abóbora para abóbra , análogo ao processo que ocorreu no latim vulgar. No processo, a vogal em posição postônica não-final labial /o/ foi apagada e a obstruinte /b/ ficou flutuante, passando pelo processo de ressilabação à sílaba posposta. Dessa forma, a sílaba, que antes era composta por ataque simples /b/, forma um ataque complexo /br/, em uma construção bem-formada, permitida pela fonotática do PB: abó.bo.ra > abó.bØ.ra > abó.bra. Esse processo fonológico revelou-se produtivo em nosso corpus , computando quinze ocorrências dentre os casos de síncope registrados.
Ressaltamos que o contexto fonológico seguinte, formado por uma líquida vibrante tem sido documentado em Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. e Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. , como um ambiente favorecedor para a síncope. Desse modo, o ataque simples passa a formar um ataque complexo, por meio da oclusiva /b/ em primeira posição, seguida da líquida vibrante /r/. Os ataques complexos formados pela vibrante em segunda posição silábica são mais produtivos do que os formados pela lateral ( tl , dl , por exemplo), conforme reforçam as pesquisadoras.
Além da síncope da vogal postônica, foi registrado um caso de síncope da vogal postônica não-final somada à metátese regressiva - de acordo com Hora, Telles e Monaretto (2007) - em: abó.bo.ra > abó.bØ.ra > abó.bra > abró.ba. Trata-se de um fenômeno de reordenação de segmentos na sequência fonológica, que não é tão recorrente quanto a assimilação ou o apagamento, esclarecem Hora, Telles e Monaretto (2007). Ali (1964)ALI, M. S. Gramática histórica da língua portuguesa . São Paulo: Melhoramentos, 1964. salienta que a metátese era produtiva no português antigo, privilegiada pelo contexto silábico formado por uma vibrante. Por não constituir o cerne desta pesquisa, abstemo-nos de nos aprofundarmos mais no estudo desse fenômeno.
f) A redução da proparoxítona em árvore:
A forma padrão árvore , por sua vez, passou a arve após a síncope da vogal não-final labial /o/ somada ao apagamento da vibrante /r/, situada em posição de ataque da sílaba final. Os falantes registraram a preferência pelo vocábulo paroxítono formado após o fenômeno, que constitui, dessa forma, um ataque simples pela fricativa /v/, com oito ocorrências: ár.vo.re > ár.vØ.Øe > ár.ve. Nascentes (1953NASCENTES, A. O Linguajar Carioca . 2. ed. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953 [1922]. [1922]) documenta essa variante reduzida no português antigo.
Duas variantes sincopadas alve foram registradas, resultantes de um processo de síncope da vogal postônica e líquida /r/, além da troca da vibrante /r/ pela lateral /l/, possivelmente ocasionada pela hipercorreção. Azambuja (2012)AZAMBUJA, E. B. Fatos de “hipercorreção” como um observatório do funcionamento ideológico e da memória discursiva da/na língua. In: ENCONTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM, 4., 2011. Anais [...], Pouso Alegre: ENELIN, 2012. p. 1-9. comenta a respeito da hipercorreção e explana que se trata de um equívoco do falante, que deseja, a partir de um constructo ideológico, censurar certos traços linguísticos em favor da imitação de características que a seu ver, constituem a forma padrão.
Foram obtidas ainda duas formas com a síncope da vogal labial /o/ e ressilabação da fricativa /v/ flutuante gerando um ataque complexo na sílaba posterior: ár.vo.re > ár.vØ.re > ár.vre. Com efeito, na pesquisa realizada no interior do Paraná, Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. já chamava a atenção para as variantes reduzidas árve e árvre e, similarmente, Ramos e Tenani (2009)RAMOS, A. P.; TENANI, L. E. Análise métrica do apagamento das vogais postônicas não finais no dialeto do noroeste paulista. Estudos Linguísticos, São Paulo, v.38, n.1, p.21-34, jan.-abr. 2009. Disponível em: http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N1_02.pdf. Acesso em: 13 fev. 2017.
http://www.gel.org.br/estudoslinguistico...
.
g) A redução da proparoxítona em sábado:
Marroquim (2008)MARROQUIM, M. A língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2008. documentou que os caboclos em Alagoas e Pernambuco, por meio da Lei do Menor Esforço, assim como os romanos em relação ao latim vulgar, evitavam o uso de proparoxítonas, exemplificando com: sábado > sábo . Pode-se levar em conta esse processo, visto que uma estrutura silábica CV.CV em ataque simples foi formada, simplificando também a duração de emissão do vocábulo como um todo, reduzindo o número de sílabas. Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. compactua com essa prerrogativa, com relação à simplificação da palavra, pela diminuição da quantidade de sílabas somada à estruturação silábica simples.
Após a síncope da vogal média postônica dorsal /a/, a obstruinte /b/ tornou-se flutuante e perdeu seu núcleo silábico. A ressilabação desse segmento em posição de ataque na sílaba seguinte é proibida pela fonotática do PB, pois formaria o encontro /bd/. Consequentemente, o segmento oclusivo alveolar /d/ também sofre a síncope e a bilabial /b/ pode assumir a posição de ataque silábico na próxima estrutura silábica: sá.ba.do > sá.bØ.do > sá.bØ.Øo > sá.bo.
Pressupomos que a única ocorrência da redução desse vocábulo registrada neste corpus se deva à familiaridade do uso dessa expressão no cotidiano dos falantes, atestada pela ausência da não resposta à questão. Por tratar-se de uma expressão que pode ser facilmente visualizada em calendários e agendas, o falante possivelmente apresenta a tendência à manutenção dessa forma escrita padrão.
h) A redução da proparoxítona em número:
A manutenção das proparoxítonas para o vocábulo número revelou-se hegemônica nesta pesquisa. Justificamos a não realização da queda nesse vocábulo devido à configuração da sílaba após a hipotética síncope de sua vogal postônica não-final, porquanto o apagamento da vogal coronal /e/ levaria a consoante nasal bilabial /m/ a ficar flutuante, ensejando uma consequente ressilabação e formação de um ataque proibido de sílaba em /mr/.
Contudo, Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. registrou, em sua pesquisa, a nasal em posição de ataque em número e tal fenômeno pode ser averiguado no português europeu, conforme Silva (2014SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014. , p. 90) que se reporta a eles (a nasal mais vibrante em ataque) como “grupos consonantais anômalos ocorrendo em posição postônica”. Todavia, em geral, os falantes no PB tendem a evitar a redução de vogais postônicas não-finais em segmentos postônicos formados por nasal e vogal, seguidas de líquida vibrante em ataque na última sílaba. Outra possível explicação para a manutenção em número , em nosso corpus , é a familiaridade dos falantes em relação a essa expressão, reforçada pela não ocorrência de não respostas à questão.
i) A redução da proparoxítona em fígado:
Foram registradas três ocorrências da variante reduzida figo . A forma canônica fígado sofreu uma síncope da vogal postônica átona dorsal /a/, mas a obstruinte /g/ teve sua ressilabação na sílaba seguinte restringida, pois o contexto de ataque /gd/ não é licenciado segundo a escala de soância, forçando, por conseguinte, o apagamento da obstruinte /d/. A obstruinte /g/ toma a posição de ataque simples na ressilabação, reestruturando-se como uma sílaba leve formada por CV: fí.ga.do > fí.gØ.do > fí.gØ.Øo > fí.go. Caso seja considerada a Lei do Menor Esforço, segundo análise de Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. , o vocábulo sincopado em pauta foi simplificado com relação ao número de sílabas e quanto à sua estruturação em CV.CV.
j) A redução da proparoxítona em vômito:
A palavra vômito não apresentou casos de síncope em seus segmentos postônicos. A explicação para a não realização desse tipo de apagamento nesses vocábulos se deve à configuração da sílaba após a hipotética queda de sua vogal postônica não-final. O apagamento da vogal coronal /i/ tornaria a consoante nasal bilabial /m/ flutuante; a ressilabação desses segmentos e formação de ataque complexo na sílaba seguinte em /mt/ transgrediria as regras fonotáticas do PB, violando a escala de soância (nasais > obstruinte - a nasal é mais sonora do que a obstruinte /t/).
De fato, Lemle (1978)LEMLE, M. Heterogeneidade dialetal: um apelo à pesquisa. Linguística e ensino do vernáculo , Rio de Janeiro, v. 53/54, p.60-94, abr./set. 1978. elenca elétrico e vômito como palavras não propensas à supressão. Amaral (2002AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. , p. 108) assegura que: “[...] as proparoxítonas mais resistentes à síncope têm o /i/ como vogal postônica e os contextos circundantes não representam grupos consonantais bem-formados”. Tal prerrogativa pode ser estendida à análise do vocábulo vômito [mt] . Na presente pesquisa, foram registradas as formas vômi e vumíto ; no primeiro, a queda da última sílaba torna a palavra paroxítona, no último, o deslocamento da tonicidade, provavelmente em analogia ao verbo vomitar , também forma uma palavra paroxítona. Ambos os exemplos mantêm grupos consonantais bem-formados, não transgredindo a análise efetuada pela estudiosa.
k) A redução da proparoxítona em hóspede:
Foram registradas apenas duas reduções da proparoxítona hóspede pelos falantes paranaenses. A vogal postônica não-final coronal /e/ sofreu a queda e a obstruinte /p/ ficou flutuante; na ressilabação em posição de ataque da próxima sílaba, ela acaba formando um grupo de ataque proibido pela fonotática do PB, em /pd/ (obstruinte-obstruinte). A vogal coronal da última sílaba, que constitui o núcleo da rima permanece, e a obstruinte /d/ sofre a síncope, para que seja formada uma sílaba em CV, licenciada pela regras fonológicas que regem o sistema: hós.pe.de > hós.pØ.de > hós.pØ.Øe > hós.pe.
No que concerne à análise das formas resultantes do processo da síncope, constatamos que as variantes reduzidas mais produtivas foram formadas após a queda da vogal postônica e consequente apagamento da consoante da sílaba seguinte, em trinta e um casos. O fenômeno da queda da vogal postônica não-final mostrou-se eficiente em vinte e quatro registros de redução.
Além da análise segundo o modelo fonológico autossegmental para a sílaba, observamos os fatores extralinguísticos que podem exercer influência sobre determinados processos. Assim, investigamos, a seguir, se variáveis como sexo, faixa etária e localidade são motivadoras do fenômeno da síncope ou de manutenção.
Análise segundo as variáveis extralinguísticas
Muitas pesquisas de cunho sociolinguístico assinalam “uma maior consciência feminina do status social das formas linguísticas” ( PAIVA, 2007PAIVA, M. da C. Transcrições de dados linguísticos. In: MOLLICA, M. C. Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação. 3. Ed. São Paulo: Contexto, 2007. p. 101-116. , p. 35). Sendo assim, acreditamos que as mulheres, em geral, são mais sensíveis às variantes de maior prestígio e tendem a utilizá-las mais do que os homens.
Os dados de Chaves (2011)CHAVES, R. G. A redução de proparoxítonos na fala do Sul do Brasil. 2011. 173f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/2013/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o-RaquelChaves.pdf. Acesso em: 10 fev. 2019.
http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/201...
, Head (1986)HEAD, B. F. O destino de palavras proparoxítonas na linguagem popular. In: ENCONTRO DE VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA E BILINGÜISMO NA REGIÃO SUL, 4., 1986, Porto Alegre. Anais [...] Porto Alegre: UFRS, 1986. p. 38-56. , Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. , Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. e Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. indicam que os informantes do sexo masculino apresentam uma taxa mais alta de aplicação do processo de síncope. Em contraponto, a pesquisa levada a cabo por Aragão (2000)ARAGÃO, M. do S. S. As palavras proparoxítonas no falar de Fortaleza. Acta Semiotica et Linguistica , São Paulo, v.8, p.61-88, 2000. demonstra que as mulheres registraram mais as formas não padrão.
De fato, como era esperado, as mulheres tenderam à manutenção das proparoxítonas, perfazendo 330 registros da manutenção e apenas 21 casos de síncope, enquanto os homens perfizeram 303 ocorrências da forma padrão e 34 variantes sincopadas (conforme dados mostrados na Tabela 2 ).
Os dados percentuais revelam que, dentre os informantes inquiridos, a variável sexo mostrou-se um pouco mais predominante com relação à manutenção da proparoxítona, a forma de maior prestígio social, perfazendo 94,02% das respostas realizadas pelas mulheres, contra 89,9% de registros pelos homens. A taxa de registro de variantes estigmatizadas foi mais alta entre os homens, perfazendo 10,1% das respostas, ao passo que as mulheres registraram 5,98% de variantes sincopadas. Embora a diferença não pareça significativa, verificamos que os dados ensejam a interpretação de uma tendência do falar das mulheres em prol das formas de prestígio, conforme atesta Castro (2008CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. , p. 117) em sua pesquisa:
[...] observa-se uma mínima superioridade das mulheres no uso das formas de prestígio (proparoxítonas), e um número ligeiramente menor no uso das formas estigmatizadas (paroxítonas), o que se harmoniza com constatações de pesquisas anteriores que apontam maior adesão de falantes do sexo feminino às formas de prestígio.
Já a variável faixa etária possibilita, muitas vezes, observar indicativos do estágio em que determinada variante encontra-se no sistema de uma língua, assim, a relação entre a idade dos falantes que compõem a amostra e a produção do fenômeno variável pode apresentar indícios de que esse fenômeno se encontra em um processo de variação estável ou de mudança em progresso.
Os dados expostos na Tabela 3 demonstram que a faixa etária se configura como uma variável extralinguística pouco significativa para a aplicação ou refreamento do fenômeno da síncope, visto que a diferença entre a manutenção e a porcentagem de variantes reduzidas entre as Faixas 1 e 2 gira em torno de pouco mais de 3%. Semelhantemente, Chaves (2011)CHAVES, R. G. A redução de proparoxítonos na fala do Sul do Brasil. 2011. 173f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/2013/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o-RaquelChaves.pdf. Acesso em: 10 fev. 2019.
http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/201...
e Lima (2008)LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. firmaram que a faixa etária não se mostra responsável por condicionar a realização do fenômeno observado.
A manutenção das proparoxítonas prevalece em ambas as faixas etárias, registrada em 90,18% das respostas válidas para a Faixa etária 1 e em 93,75% das respostas para a Faixa etária 2. A síncope apresentou pouca produtividade, com 9,82% na Faixa etária 1 e 6,25% na Faixa etária 2. A Faixa etária 1 favorece sutilmente a forma mais desprestigiada em comparação à Faixa 2, o que vai de encontro às pesquisas de Araújo (2012)ARAÚJO, A. A. de. A redução das proparoxítonas a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória. v.6, n.7, p.7-19, 2012. e Amaral (2002)AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126. , em que os indivíduos da segunda faixa etária beneficiaram a síncope. Dada a pequena diferença percentual entre as faixas, não é possível assegurar se seria um processo de variação estável ou mudança em curso.
Na Tabela 4 , a seguir, a possível influência da localidade no registro de manutenção ou síncope foi aferida.
Podemos inferir, a partir da leitura da Tabela 4 , que as variantes sincopadas obtiveram registro majoritário por falantes de Barracão, perfazendo sete ocorrências (17,07%) das respostas válidas para a pesquisa nessa localidade. Salientamos também que, nesse ponto de inquérito, foi obtido o maior índice de não respostas. Essa cidade situa-se no sudoeste paranaense, na tríplice fronteira entre Argentina, Santa Catarina e Paraná, contando com apenas 9.735 habitantes6 6 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/barracao/panorama . Acesso em: fev. 2019. . Dado o seu caráter mais interiorano, é possível sugerir uma relativa influência de sua localização nas características do falar barraconense.
Sucessivamente, em outras localidades, tais como Lapa, Guarapuava e Tomazina foram obtidas seis ocorrências da síncope, e em Toledo e Umuarama, cinco. Cada uma delas situa-se em uma região no interior paranaense. Os menores índices de redução foram registrados em São Miguel do Iguaçu e Terra Boa, com duas ocorrências cada, e em Londrina e Piraí do Sul, com uma ocorrência da forma estigmatizada. Chama-nos a atenção o registro absoluto da manutenção das proparoxítonas pelos falantes residentes em Campo Mourão e Morretes, com a hegemonia da variante padrão.
Ao contrapormos nossos dados, com a predominância de formas prestigiadas, aos resultados obtidos por Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. , que apresentaram a primazia de variantes estigmatizadas, podemos aventar uma mudança social ensejada pela urbanização, que é manifestada na fala dos paranaenses.
Considerações Finais
Conforme salientava Câmara Jr. (1985), a sílaba em que se encontra o núcleo que sofre a síncope é uma átona não-final. Ainda, respondendo as questões de pesquisa colocadas inicialmente, verificamos que os resultados apontam que, no cômputo geral, a manutenção das proparoxítonas mostrou a sua presença majoritária no falar urbano interiorano paranaense, em comparação a outros estudos. Ao contrapormos nossa pesquisa ao trabalho de Castro (2008)CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008. , que contrariamente, indicava a vitalidade da variante não padrão, pudemos aferir que o alcance geográfico das formas de prestígio no interior do Paraná foi claramente evidenciado, revelando as vicissitudes pelas quais a língua perpassa. Uma conjectura para explicar a formação desse novo panorama linguístico traduz-se pelo fato de que a sociedade tem passado por muitas mudanças, como a intensa urbanização e a escolarização, culminando na modificação de referenciais sociais que logram guarida na fala.
No que concerne à síncope das postônicas não-finais, enquanto processo fonológico, averiguamos o seu condicionamento à manutenção das mesmas posições silábicas dos segmentos que se tornam flutuantes e que, por meio de uma ressilabação, tomaram a posição de ataque de sílaba, formando um molde silábico que respeita a estrutura do sistema e segue condições de boa formação específica. Consoante aos processos de evolução na formação do português, a redução foi executada preferencialmente após a queda da vogal postônica e consequente apagamento da consoante da sílaba final.
É lícito afirmar que as características dos segmentos que formam a estrutura silábica e seus adjacentes podem vir a interferir na ressilabação, fator que explica a preferência pelo apagamento de determinados segmentos das sílabas postônicas pelos falantes. O contexto fonológico seguinte, com uma líquida em posição de ataque que, após o fenômeno, passa à posição de segunda consoante de um ataque complexo, favoreceu o processo de apagamento, desde que respeitado o padrão do molde silábico do PB. Nesse contexto, as obstruintes também condicionaram a síncope, excetuando-se os casos em que o apagamento vocálico resultaria em um ataque não licenciado pelo sistema.
No que é atinente às variáveis sociais apuradas, fatores como o sexo e a faixa etária mostraram-se infrutíferos quantitativamente como determinantes dos processos em investigação, ainda que as mulheres e a Faixa 2 tenham elegido preferencialmente a forma canônica padrão, com diminuto diferencial percentual com relação aos homens e à Faixa 1. Quanto às localidades, houve prevalência da forma prestigiada na fala dos paranaenses, e em Barracão, no sudoeste, ocorreu o maior registro da variante não padrão.
Esperamos, com esse trabalho, contribuir na vivificação dos estudos acerca de processos fonológicos e investigações variacionistas de cunho geolinguístico, vicejando, por conseguinte, o respeito às múltiplas formas de expressão, estendendo tal deferência aos próprios falantes.
Agradecimentos
Agradecemos à CAPES e à Fundação Araucária (Acordo CAPES/ Fundação Araucária CP 11/2014) e à CAPES DS (Portaria CAPES, nº 76, de 14/04/2010), pelas bolsas de auxílio financeiro que possibilitaram a realização deste e demais estudos voltados à área da descrição linguística. Gratulamos também o Comitê científico do Projeto ALiB, bem como, os informantes inquiridos, pela disponibilização do acervo de dados.
REFERÊNCIAS
- AGUILERA, V. de A. Atlas Lingüístico do Paraná . Curitiba: Imprensa Oficial do Estado, 1994.
- AMARAL, A. O dialeto caipira: gramática, vocabulário. São Paulo: Hucitec/INL, 1982 [1920].
- AMARAL, M. P. do. A síncope em proparoxítonas: uma regra variável. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 99- 126.
- ALI, M. S. Gramática histórica da língua portuguesa . São Paulo: Melhoramentos, 1964.
- ARAGÃO, M. do S. S. As palavras proparoxítonas no falar de Fortaleza. Acta Semiotica et Linguistica , São Paulo, v.8, p.61-88, 2000.
- ARAÚJO, A. A. de. A redução das proparoxítonas a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória. v.6, n.7, p.7-19, 2012.
- AZAMBUJA, E. B. Fatos de “hipercorreção” como um observatório do funcionamento ideológico e da memória discursiva da/na língua. In: ENCONTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM, 4., 2011. Anais [...], Pouso Alegre: ENELIN, 2012. p. 1-9.
- BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. H. M. (org.). Gramática do português Falado. Campinas: Editora Humanista: FFLCH/USP, 1999. p. 701-742.
- CÂMARA JR. J. M. História e estrutura da língua portuguesa . 4. ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1985.
- CARDOSO, S. A. M. et al. Atlas Linguístico do Brasil . Londrina: EDUEL, 2014a. v.1.
- CARDOSO, S. A. M. et al. Atlas Linguístico do Brasil . Londrina: EDUEL, 2014b. v.2.
- CARDOSO, S. A. M. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
- CARDOSO, S. A. M. A Geolingüística no terceiro milênio: monodimensional ou pluridimensional? Revista GELNE , Fortaleza, v.4, n.2, p.1-16, 2002. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/download/9088/6442/0 Acesso em: 22 jan. 2019.
» https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/download/9088/6442/0 - CASTRO, V. S.. A redução das proparoxítonas no português popular do Brasil: estudo com base em dados do Atlas Linguístico do Paraná. Estudos Linguísticos , São Paulo, v.37, n.2, p. 113-121, maio-ago. 2008.
- CHAVES, R. G. A redução de proparoxítonos na fala do Sul do Brasil. 2011. 173f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/2013/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o-RaquelChaves.pdf Acesso em: 10 fev. 2019.
» http://fonapli.paginas.ufsc.br/files/2013/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o-RaquelChaves.pdf - COLLISCHONN, G. A sílaba em português. In: BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro . Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 99-131.
- COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil: Questionários 2001. Londrina: Eduel, 2001.
- CONTINI, M.; TUAILLON, G. Introduction. In: ATLAS LINGUISTIQUE ROMAN [ALiR]. Présentation . Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. v.1. p. 1-18.
- COUTINHO, I. de L. Pontos de gramática histórica . 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976.
- FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Aurélio da língua portuguesa . 5 ed. Curitiba: Positivo, 2010.
- GILLIÉRON, J.; EDMONT, E. Atlas Linguistique de la France . Paris: Honoré Champion, 1902-1910.
- GOMES, D. K. A síncope das vogais postônicas não-finais: variação na fala popular urbana do Rio de Janeiro. Diadorim: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, Rio de Janeiro, n.8, p. 81-102, 2011.
- HEAD, B. F. O destino de palavras proparoxítonas na linguagem popular. In: ENCONTRO DE VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA E BILINGÜISMO NA REGIÃO SUL, 4., 1986, Porto Alegre. Anais [...] Porto Alegre: UFRS, 1986. p. 38-56.
- HORA, D. da; TELLES, S.; MONARETTO, V. N. O. Português brasileiro?: uma língua de metátese?. Letras de Hoje , Porto Alegre, v.42, n.2, p.178-196, set. 2007.
- ILARI, R. Lingüística românica . 3. ed. São Paulo: Ática, 2004.
- LEMLE, M. Heterogeneidade dialetal: um apelo à pesquisa. Linguística e ensino do vernáculo , Rio de Janeiro, v. 53/54, p.60-94, abr./set. 1978.
- LIMA, G. de O. O efeito da síncope nas proparoxítonas: análise fonológica e variacionista com dados do sudoeste goiano. 2008. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.
- MARROQUIM, M. A língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2008.
- NASCENTES, A. O Linguajar Carioca . 2. ed. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953 [1922].
- PAIVA, M. da C. Transcrições de dados linguísticos. In: MOLLICA, M. C. Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação. 3. Ed. São Paulo: Contexto, 2007. p. 101-116.
- QUEDNAU, L. R. A síncope e seus efeitos em latim e em português arcaico. In: BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (org.). Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. v. 1. p. 79-98.
- RAMOS, A. P.; TENANI, L. E. Análise métrica do apagamento das vogais postônicas não finais no dialeto do noroeste paulista. Estudos Linguísticos, São Paulo, v.38, n.1, p.21-34, jan.-abr. 2009. Disponível em: http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N1_02.pdf Acesso em: 13 fev. 2017.
» http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N1_02.pdf - SELKIRK, E. The syllable. In: HULST, H.; SMITH, N. The structure of phonological representation . Dordrecht: Foris, 1982. v. 2. p. 337-383.
- SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
- SILVA NETO, S. da. Fontes do latim vulgar . Rio de Janeiro: Acadêmica, 1956 [1938].
- THUN, H. La géographie linguistique romane à la fin du XXe siècle. In: ENGLEBERT, A.; PIERRARD, M.; ROSIER, L.; Van RAEMDONCK, D . Actes do XXIIe Congrès International de Linquistique et de Philologie Romanes. Bruxelas: Max Niemeyer Verlag, 1998. p. 367-409.
- WENKER, G. Sprachatlas von Nord - und Mitteldeutschland: Auf Grund von systematisch mit Hülfe der Volksschullehrer gesammelten Material aus circa 30000 Orten. Abtheilung I Lieferung 1. Strasbourg/London: Karl J. Trübner, 1881.
-
1
Como são também conhecidos os vocábulos proparoxítonos.
-
2
Interessa notar que o Dicionário Aurélio documenta ridico como forma sincopada de ridículo, com a marca de uso “brasileirismo familiar mineiro”, no sentido de “avarento”. ( FERREIRA, 2010FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Aurélio da língua portuguesa . 5 ed. Curitiba: Positivo, 2010. ).
-
3
No original: “ la dialectologie a pour tache essentielle d’étudier la variation geolinguistique” ( CONTINI; TUAILLON, 1996CONTINI, M.; TUAILLON, G. Introduction. In: ATLAS LINGUISTIQUE ROMAN [ALiR]. Présentation . Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. v.1. p. 1-18. , p. 7).
-
4
Para conhecer mais sobre o Projeto ALiB, acesse o site: < https://alib.ufba.br/> .
-
5
Dentre os pontos de inquérito do ALiB no interior do Paraná, sete pontos coincidem com o ALPR: Adrianópolis, Barracão, Campo Mourão, Guarapuava, Lapa, Londrina, Umuarama.
-
6
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/barracao/panorama . Acesso em: fev. 2019.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Dez 2019 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2019
Histórico
-
Recebido
10 Abr 2018 -
Aceito
06 Jan 2019
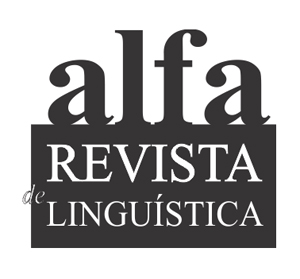

 Fonte:
Fonte: Fonte:
Fonte: