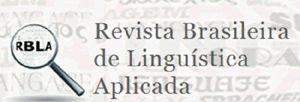Resumos
Este artigo argumenta pela compreensão do construto experiência, como um Sistema Adaptativo Complexo, tendo em vista que, para compreendê-la, toda experiência encapsula um processo, no qual outros eventos que a perpassam são trazidos à tona. Para tal, partimos da pesquisa sobre experiências, apresentando trechos de relatos de estudantes e professores sobre eventos vivenciados em salas de aula de língua estrangeira (LE), como evidência empírica de conceitos da complexidade, aplicados aos processos de ensino e aprendizagem de LE. Explicitamos, assim, a relação entre experiência, como construto, e caos / complexidade, como teoria, para compreender a natureza dos processos de ensino e aprendizagem de LE em salas de aula.
experiências; ensino e aprendizagem de LE; caos e complexidade
This article argues for understanding the construct of experience as a complex adaptive system since experience, as a process, encapsulates other events that permeate it, bringing them to the fore. To this end, we briefly review research on experience and present excerpts from students’ and teachers’ report data of events experienced in the foreign language classrooms as empirical evidence of applying complexity theory concepts to understand the processes of foreign language teaching and learning. Thus, the explicit relationship between experience, as a construct, and chaos / complexity, as a theory, play a role for understanding the nature of classroom foreign language teaching and learning.
experiences; foreign language teaching and learning; caos and complexity
Experiência em sala de aula: evidência empírica da complexidade no ensino e aprendizagem de LE
Classroom experience: empirical evidence of complexity in l2 teaching and learning
Laura Stella Miccoli I; Carolina Vianini A. LimaII
IUniversidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - Minas Gerais / Brasil - miccoli.lauraufmg@gmail.com
IIUniversidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - Minas Gerais / Brasil - cva–lima@yahoo.com.br
RESUMO
Este artigo argumenta pela compreensão do construto experiência, como um Sistema Adaptativo Complexo, tendo em vista que, para compreendê-la, toda experiência encapsula um processo, no qual outros eventos que a perpassam são trazidos à tona. Para tal, partimos da pesquisa sobre experiências, apresentando trechos de relatos de estudantes e professores sobre eventos vivenciados em salas de aula de língua estrangeira (LE), como evidência empírica de conceitos da complexidade, aplicados aos processos de ensino e aprendizagem de LE. Explicitamos, assim, a relação entre experiência, como construto, e caos / complexidade, como teoria, para compreender a natureza dos processos de ensino e aprendizagem de LE em salas de aula.
Palavras-chave: experiências, ensino e aprendizagem de LE, caos e complexidade.
ABSTRACT
This article argues for understanding the construct of experience as a complex adaptive system since experience, as a process, encapsulates other events that permeate it, bringing them to the fore. To this end, we briefly review research on experience and present excerpts from students and teachers report data of events experienced in the foreign language classrooms as empirical evidence of applying complexity theory concepts to understand the processes of foreign language teaching and learning. Thus, the explicit relationship between experience, as a construct, and chaos / complexity, as a theory, play a role for understanding the nature of classroom foreign language teaching and learning.
Keywords: experiences, foreign language teaching and learning, caos and complexity.
Introdução
Processos de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) predominam como objetos de pesquisa na Linguística Aplicada (LA), em estudos que discutem questões teóricas e práticas de interesse para estudantes, professores e pesquisadores. Destaca-se, nos estudos com foco na prática, a referência à experiência e à complexidade desses processos.
Por um lado, muitos trabalhos, nos últimos anos, têm feito uso das teorias do caos e da complexidade para iluminar estudos e reflexões sobre questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de LE. Neles, converge a compreensão de que esses processos são sistemas adaptativos complexos (LARSEN-FREEMAN , 1997; 2002; 2006; LARSEN-FREEMAN; CAMERON , 2008; LEFFA, 2006; PAIVA , 2002; 2005; 2006a; 2006b; 2008; 2011, no prelo). Por outro, há anos o construto experiência tem sido objeto de pesquisa de Miccoli (1997; 2007a; 2007b), que começou com estudantes (2000; 2003; 2004; 2007c) para depois investigar experiências de professores (2006; 2007d; 2008), de forma a documentar e compreender os processos de ensino e aprendizagem de LE em aulas, com base no olhar daqueles que os vivenciam. Para tal, Miccoli tem defendido um novo tratamento da experiência na LA (2007b), constituindo-a como construto e unidade de análise. A experiência, assim, está envolta em teias de relações e dinâmicas, sendo compreendida como processo orgânico que agrega organismos em inter-relações com outros seres, em determinado meio, constituindo-se, como tal, a partir do momento em que alguém narra suas vivências (Ibid, 2007b). Portanto, a experiência se aproxima de um Sistema Adaptativo Complexo (SAC), por envolver vasto número de elementos diferentes e variados conectados, interagindo de maneira diversa e contínua.
Neste artigo, argumentamos pela compreensão da experiência, enquanto construto, como um SAC e apresentamos experiências como evidência empírica da complexidade nos processos de ensino e aprendizagem de LE, em sintonia com estudos recentes na LA, nos quais se evidencia a ausência de dados empíricos. Finalmente, nosso objetivo é contribuir para ampliar o conhecimento sobre esses processos e documentar sua complexidade, associando experiências a conceitos da teoria do caos / complexidade, por meio de referência às categorias de experiências registradas em excertos de depoimentos de estudantes e professores de língua inglesa1 1 Embora nossos dados tenham esse foco, acreditamos que experiências de ensino e aprendizagem de outras LE sejam similares aos que aqui apresentamos. (LI) sobre eventos em sala de aula.
Investigando a experiência
A pesquisa que identificou a experiência como unidade de análise para compreender eventos em sala de aula foi motivada pela busca de descrições sobre a natureza do processo de aprendizagem, oriundas daqueles que o vivenciavam os estudantes, algo inédito no início dos anos 90. Até aquela época, predominavam modelos, tais como: Andersen (1984), Ellis (1985), Krashen (1982), Hatch (1983), Mc Laughlin (1987), Schumann (1978), entre outros, que explicavam o processo de aprendizagem de LE. Desenvolvidos com base na análise da produção oral ou escrita de aprendizes, esses modelos, entre outros, fundam a pesquisa na LA.
A primeira investigação (MICCOLI, 1997) foi um estudo de caso de natureza longitudinal e etnográfica que adotou metodologia triangulada, no uso de instrumentos, e mista, na análise de dados. Contando com participação voluntária de seis estudantes de Letras, a meio caminho de sua trajetória acadêmica, a investigação acompanhou seus processos de aprendizagem de LI ao longo de um semestre letivo. A coleta de dados iniciou-se três semanas após o início das aulas, fazendo uso de câmera de vídeo, voltada aos estudantes, para documentar suas interações com a professora e com os colegas. A cada três semanas, uma semana de aula era gravada em vídeo. Desses vídeos, elaboraram-se scripts, os quais serviram de ponto de partida para as perguntas feitas aos estudantes, em entrevistas semiestruturadas, que aconteciam duas semanas após as gravações. Em sessões de visionamento, antes das entrevistas, os estudantes se viam em trechos das aulas, de acordo com os scripts. O objetivo era fazê-los voltar à aula gravada, mediando lembranças do que tinham vivenciado. Buscava-se, assim, validar que as respostas às perguntas sobre atividades e eventos fossem contextualizadas aos acontecimentos. Esses procedimentos geraram cerca de doze horas de gravações de aulas em vídeo e cerca de trinta e seis horas de entrevistas em áudio, posteriormente transcritas, tornando-se a fonte principal de dados. Na investigação de experiências de professores de escolas públicas e particulares, dados foram coletados, por meio de narrativas, ao longo de três anos em projetos de educação continuada (MICCOLI , 2006; 2007d; 2008).
Adotou-se uma abordagem fenomenológica e hermenêutica (Van MANEN, 1990) para a análise de dados. Seguindo os procedimentos de Donato e McCormick (1994), buscou-se capturar a essência da experiência nas transcrições e narrativas, gerando temas, os quais foram gradativamente refinados para atender ao princípio de Miller (1956) sobre a capacidade humana de processar informações. Esses procedimentos levaram à primeira versão2 2 À taxonomia de experiências de estudantes, seguiu-se uma taxonomia de experiências de professores (MICCOLI, 2006), com base nos dados coletados em narrativas. Ambas são consideradas descrições parciais dos eventos em salas de aula, tendo sido revisadas (MICCOLI, 2007, 2010) e ampliadas em decorrência de sua aplicação para investigações de experiências de natureza específica (BAMBIRRA, 2009; ZOLNIER, 2011). do framework de experiências. Sem ser exaustiva, pela própria natureza dos processos de ensino e aprendizagem, três são as categorias3 3 Essas categorias serão ilustradas na seção Experiências e a Complexidade do Ensino e Aprendizagem de LE. originais de experiências diretas, referentes a eventos que têm origem na interação em aula e quatro as categorias de experiências indiretas, que, embora originadas fora de sala de aula, explicam comportamentos, reações e sentimentos lá vivenciados. Posteriormente, aplicada à investigação de experiências de professores (MICCOLI, 2006; 2008) a taxonomia mostrou-se sólida.
Em síntese, a experiência como construto para compreensão de eventos dentro ou fora de sala de aula tem se mostrado profícua na medida em que fomenta estudos aplicados a diferentes aspectos do processo de ensino e aprendizagem de LE, tais como: Porto (2003), Cunha (2005), Barata (2006), Lima (2009), Bambirra (2009), Alonso (2011), Coelho (2011), Silva e Souza (2011) e Zolnier (2011).
A natureza complexa da experiência
A experiência, como processo e SAC, transcende ser qualificada como depoimento superficial e subjetivo sobre eventos em aula, por aninhar uma constelação de experiências. Sendo assim, se constitui como mais que um evento isolado, tendo em vista que toda experiência encapsula um processo que, para ser compreendido explicita outros eventos que o perpassam, trazendo-os à tona (MICCOLI, 2007a). Essa compreensão da experiência encontra respaldo na filosofia, nas ciências cognitivas e nos estudos da complexidade.
Na filosofia moderna, tanto Hegel (1770-1831) quanto Dewey (1859-1952) compreendem experiência "como fenômeno que decorre da natureza biológica dos seres vivos, em seus meios físicos e sociais" (MICCOLI, 2010, p. 23). Hegel a define como evento absoluto e dialético que reflete a ação de quem experiencia e que integra o conhecimento dela decorrente ao objeto experienciado. Para Dewey, uma experiência transcende a concepção cognitiva, por ser impossível separá-la do meio. Entrelaçada na relação do ser com seu meio é orgânica e inclui percepção, pensamento, sentimento, sofrimento e ação em processo dialético pelo qual seres humanos e o próprio meio se transformam. Envolve, portanto, três dimensões: o que é experienciado, quem experiencia e o modo como se experiencia. Não obstante sua natureza individual, por serem vivenciadas diferentemente de pessoa para pessoa, as experiências se sobrepõem. Dessa forma, é difícil precisar onde a experiência individual termina e onde começa a social ou coletiva.
As ciências cognitivas convergem com a filosofia quanto ao papel da experiência na teoria dos sistemas, na qual a alusão à experiência é indireta, fazendo parte do conhecimento, entendido também como processo. Maturana (1997; 2001) concebe seres humanos como sistemas vivos, biologicamente determinados e inseridos em meios dos quais fazem parte com histórias individuais, compartilhadas com histórias de outros seres. A experiência pertence ao domínio das relações do organismo, e não a ele, em particular. Nesse processo, ao se refletir sobre uma experiência, na linguagem, constata-se constituir-se do que se observa. Assim, referências às experiências são sempre secundárias às experiências em si. A diferença entre experiência e explicação da experiência é similar à distinção entre emoção aquilo que um ser vivo vivencia e sentimento aquilo que é diferenciado, na linguagem, a partir dessa emoção. Experiência e emoção, vivenciados a partir da estrutura biológica do ser humano, independentemente de reflexividade linguística podem ser apenas recortes da existência. No entanto, pela linguagem, a explicação da experiência reformula o vivenciado. Portanto, experiências são processos orgânicos e complexos; nelas algo é experienciado; se transforma e é transformado em processos que acontecem em situações específicas de interação do indivíduo consigo e com outros seres (MICCOLI, 2007a). Diante dessas argumentações, Miccoli (2010) assevera:
A experiência é um processo por ter a ver com relações, dinâmicas e circunstâncias vividas em um meio particular de interações na sala de aula, a qual, ao ser narrada, deixa de ser um acontecimento isolado ou do acaso. O processo reflexivo da narrativa oferece a oportunidade de ampliar o sentido dessa experiência e de definir ações para mudar e transformar seu sentido original, bem como aquele que a vivenciou (p. 29).
Portanto, entendemos que a experiência não pode ser reduzida a um fenômeno pessoal e individual, devendo ser compreendida como manifestação pessoal de processos contínuos em constante evolução pela constituição histórica dos indivíduos que, em meios compartilhados com outros seres, são historicamente constituídos a partir das experiências que com eles compartilham.
A definição de experiência de Miccoli permite compreendê-la como um SAC, ou seja, como sistema, no qual diferentes elementos, processos ou outros sistemas complexos subsistemas de sistemas maiores se conectam e interagem de formas diferentes e variadas (LARSEN-FREEMAN; CAMERON , 2008). Como SAC, se constitui como processo não linear, em constante movimento e evolução, inter-relacionando elementos biocognitivos, socioculturais e históricos, que influenciam e são influenciados uns pelos outros. Ademais, passa por períodos de instabilidade, variabilidade e adaptabilidade. Em outras palavras, experiências resultam de interações complexas entre indivíduos e meio.
Como SAC, experiências são fenômenos vivos e, portanto, abertos à troca de energia e matéria com o ambiente. Constitui-se, assim, como sistema aberto, em relação de interdependência com o meio no qual se realiza, sendo parte do sistema e de sua complexidade, por exemplo, o clima ou atmosfera em sala de aula muda com a mudança de atitude de, pelo menos, um de seus membros, impactando na experiência de quem vivencia aquela aula. Assim, sistema e contexto formam um todo. Experiências são moduladas pelo contexto, como quando estudantes têm desempenho em sintonia com relações estabelecidas dentro ou fora de aula. Sistemas abertos, tais como experiências, além de modulados pelo meio, o modificam. Por exemplo, em sala de aula, uma experiência vivenciada por um ou mais de seus membros influencia os demais. Nenhuma experiência acontece no vácuo; ao contrário, constitui-se na relação do ser com seu meio, modulando-a e sendo modulado por ela. Uma situação que evidencia esse caráter dialético ocorre em salas de aula que se transformam após ouvirem experiências compartilhadas por participantes. Portanto, experiências ocorrem em contextos intra e inter-relacionais.
(...) Em função da relação dialética dos processos constitutivos, um ser está em constante evolução a partir das interações com as experiências de outros indivíduos. Por sua vez, esse desenvolvimento no contexto ou meio provoca mudanças nos indivíduos que nele se relacionam. Nesse processo de inter-relações os indivíduos, historicamente constituídos, podem se transformar, transformar suas experiências e o contexto em que se encontram (MICCOLI, 2007b, p. 273).
Convergentemente, Paiva (no prelo) explica que sistemas complexos e caóticos são imprevisíveis, não lineares, nos quais os efeitos são desproporcionais às causas. Exemplos do cotidiano se encontram na experiência de preconceito vivenciada por uma estudante de minissaia,4 4 Experiência vivenciada por aluna da Uniban em novembro de 2009, amplamente noticiada pela mídia. Ver: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u649611.shtml>. por estudantes humilhados por professores, ou por violências vividas por professores agredidos por estudantes descontentes.5 5 Caso do professor da Faculdade Isabela Hendrix, morto a facadas por estudante insatisfeito com a nota recebida. Ver: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/842359-policia-procura-aluno-acusado-de-matar-professor-em-faculdade-de-belo-horizonte.shtm>. Nesses exemplos, perturbações pequenas, como uma minissaia ou eventos ordinários em salas de aula conversas entre alunos, notas ou um olhar, podem desestabilizar o sistema, tornando-o caótico, desproporcionalmente, à relação entre o elemento perturbador e àqueles que compõem o sistema. Essa imprevisibilidade se deve à sensibilidade do sistema a qualquer mudança nas condições que o modulam, ou seja, sensibilidade às condições iniciais, a partir da qual condições extremamente similares podem levar a resultados totalmente independentes. Por exemplo, frente ao preconceito de um, a adesão daqueles que não se conhecem, como num efeito dominó; enquanto uns poucos membros do sistema resistem e outros se omitem.
Como SAC, a experiência envolve o experienciado, quem experiencia e o modo como se experiencia. Portanto, experiências jamais serão iguais. Podem ser similares. Quem se junta ao coro dos que achincalham por preconceito oferece uma explicação própria. Quem se opõe à humilhação ou à violência nem sempre o faz pelos mesmos motivos. Cada experiência é singular. Não há como prever como alguém irá vivenciar algo, porque a experiência integra o ser humano e o meio, ambos, sistemas complexos. Na aula de LE, por exemplo, podemos ter um plano de aula e pedir a dois professores, com convicções similares, que ministrem a mesma aula para uma mesma turma. Certamente, a experiência dessa aula não será a mesma, nem para os docentes, nem para os alunos. Cada participante vivenciará esse acontecimento à sua maneira.
Em SAC, mudanças em áreas do sistema levam a mudanças no sistema como um todo, como quando uma professora decide inovar em sala de aula e, com o tempo, essa mudança passa a ser cobrada de outros professores pelos alunos daquela professora, até que, eventualmente, um grupo de professores decide implantar mudanças curriculares. Para manter a ordem e a estabilidade, o sistema se ajusta em resposta às mudanças do ambiente (LARSEN-FREEMAN; CAMERON 2008), como quando essa professora é chamada pelo diretor para coibir suas inovações, por ameaçarem a "filosofia" educacional da escola. É a capacidade de selecionar naturalmente e de se auto-organizar que faz com que sistemas complexos sejam adaptativos, ou seja, eles não respondem passivamente a eventos, mas tentam, ativamente, tirar vantagem do que lhes acontece (LARSEN-FREEMAN, 1997). Como qualquer experiência narrada espelha o observado, a reformulação da experiência vivida, por meio da linguagem, é modulada pelos conceitos e critérios de validação compartilhados por grupos de pessoas. Assim, experiências são aceitas, por atenderem a critérios de aceitabilidade (MICCOLI, 2010). Se a professora conseguir argumentar que sua inovação, embora, não ortodoxa, está em sintonia com a filosofia da escola, pode ser que o diretor a aceite. Trata-se, portanto, de um processo adaptativo, no qual experiência ou sua explicação precisa se ajustar a conceitos e critérios existentes para ser validada.
Nesse sentido, podemos dizer que experiências são sistemas auto-organizadores, que se organizam pela recursão. Processos recursivos são aqueles cujos estados ou efeitos finais produzem estados ou causas iniciais (MORIN, 2001, apud NASCIMENTO, 2009). Assim são experiências de professores e estudantes em aula. Vivenciadas na interação, no meio da aula, experiências pessoais se misturam a experiências coletivas, compartilhadas entre participantes, sendo impossível precisar em que ponto experiências individuais terminam e em que ponto começam as coletivas umas são partes das outras. Nesse movimento de justaposição, experiências pessoais e coletivas se coadaptam, modulando as demais e se articulando como experiências singulares. Determinada experiência pode ser explicada por experiências passadas pessoais e coletivas e, também, por experiências recentes, vivenciadas em meio similar ou diferente daquele já vivenciado, as quais, ao lado das passadas, alimentam experiências futuras; assim, toda experiência é impregnada de várias experiências. Em outras palavras, uma experiência aninha outras. Experiências vivenciadas, hoje, emergem das interações com outros, com outras experiências, inclusive passadas, e o meio compartilhado (MICCOLI, 2010). A partir do princípio da recursão, desvios, erros e emergências dialogam e alimentam o sistema, evoluindo com ele (MORIN, 1998, apud MORAES, 2007). Assim, experiências passadas são insumo para novas, que darão início a outras num processo contínuo no que estados finais produzem estados iniciais.
Nesse processo recursivo, a reflexão pode assumir papel central, agindo como elemento perturbador capaz de fomentar pontos de bifurcação (ou alterações de fase) no sistema que podem causar mudanças repentinas e dramáticas. Pontos de bifurcação podem ser considerados como "pontos de decisão", pois o sistema pode manter-se normal ou mudar seu padrão de movimento. Quando há bifurcação, o sistema oscila entre dois padrões de comportamento, pois o sistema está entre dois atratores; ora num atrator, ora em outro, até atingir novos pontos de bifurcação, criar atratores e permanecer oscilando, indefinidamente, entre esses padrões de comportamentos emergentes (RESENDE, 2009). As bifurcações diferenciam estados do sistema antes e depois delas. O resultado emergente de uma transição de fase difere do que era antes: um todo que é mais que a soma de suas partes e não pode ser explicado, de forma reducionista, por meio da atividade de suas partes - um sistema depois de uma alteração de fase é qualitativamente diferente do sistema antes (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008).
Pensemos em um professor, por exemplo, que tem, em seu sistema de experiências de ensino, a experiência de dar aulas pelo método gramática e tradução. Tendo oportunidade de refletir sobre essa prática e de questionar sua eficiência, ao tomar conhecimento de outras abordagens para o ensino de LE, o professor pode manter seu sistema de experiências e, portanto, continuar lecionando pela gramática e tradução, ou pode considerar outras possibilidades, aderindo a um novo padrão de comportamento. O comportamento de longo prazo, como lecionar pela gramática e tradução, é um forte atrator no sistema de experiências do professor, que confia nessa abordagem. Atrator significa estabilidade temporária; modo de comportamento que o sistema prefere, ou seja, estado / comportamento normal ou padrão (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008; RESENDE, 2009). Caso não haja reflexão sobre a experiência, é pouco provável que o professor considere outra possibilidade que não a manutenção de sua abordagem de ensino ordem e estabilidade com as quais está acostumado. Reflexão não garante mudanças, mas aumenta a possibilidade de alteração no padrão de movimento do sistema de experiências, porque, ao refletir sobre suas vivências, o indivíduo pode ressignificar seus sentidos. Essas experiências, "ressignificadas" serão o insumo para novas experiências, abrindo caminho para transformação e mudança no sistema de experiências do professor.
Em bifurcações, por meio de processos reflexivos, o sistema de experiências pode ser levado ao limiar do caos. O limiar do caos é um estado paradoxal, uma oscilação entre extremos caos e ordem, caracterizada por riscos, exploração e experimentação. Aqui, o sistema opera em seu nível máximo de funcionamento, processando informações, em que riscos são tomados e novos comportamentos experimentados. Comportamentos emergentes são benéficos ao sistema; mudanças inovadoras revelam que o sistema aprendeu ou evoluiu (OCKERMAN , 1997 apud PAIVA, no prelo). Paiva (no prelo) explica que sistemas de aprendizagem movem-se ao limiar do caos porque o equilíbrio significaria sua morte. Na aquisição de LE, segundo essa autora, no limiar do caos, o processo de aprendizagem muda repentinamente de um estado para outro e o aprendiz encara maiores desafios e riscos. No sistema de experiências, podemos inferir, portanto, que o limiar do caos acontece quando, numa pausa, questionam-se experiências passadas, hábitos, crenças e cultura, bem como relações e dinâmicas que caracterizavam experiências, avaliando-se possibilidades de transformação; momento em que riscos de mudança podem ser aceitos e novos comportamentos podem emergir. Depois do caos, uma nova ordem emerge não como um produto final e estático, mas como processo; algo em constante evolução (PAIVA, Ibid.).
Diante dessas argumentações, experiências podem ser consideradas sistemas caóticos e complexos, elevando seu status para além de eventos estanques, isolados e individuais e sancionando sua constituição processual. Na sequência, experiências de ensino e aprendizagem de LI (MICCOLI, 1997; 2006; 2007a; 2007b; 2007c; 2007d; 2010) evidenciam empiricamente conceitos da complexidade na sala de aula.
Experiência e a complexidade do ensino e aprendizagem de LE
Pesquisas com experiências concebem ensino e aprendizagem como processos evolucionistas e complexos, historicamente constituídos, modulando experiências e ações daqueles que as vivenciam. Buscam obter visão sistêmica; compreender dinâmicas e relações que entrelaçam experiências, ou seja, o sentido desse todo que as contextualiza. Portanto, o contexto é parte constitutiva das experiências. Ainda, a história de quem relata experiências, bem como motivos, metas e operações (VYGOSTKY, 1984) que as realizam, justapostas a outras, são fundamentais para a compreensão do seu significado mais amplo.
Desse modo, embora se identifiquem relações entre experiências (MICCOLI, 2000; 2003), compreender todas as relações entre experiências vivenciadas por professores e estudantes é improvável, porque seria impossível encontrar uma única relação linear de causa e efeito. Isso implica aceitarmos a aula como espaço de possibilidades e incertezas, não totalmente aleatório, mas, simultaneamente, não previsível.
Sob essa ótica, os processos de ensino e aprendizagem de LE em aulas são concebidos como complexos. Por um lado, experiências que emergem das interações em sala são Experiências Diretas, as quais aninham experiências cognitivas, sociais e afetivas e as Experiências Indiretas, que influenciam e explicam eventos nesse contexto, bem como experiências compartilhadas, identificadas como Experiências Coletivas e as de cunho pessoal as quais por dessemelhança e particularidade compõem as Experiências Individuais (MICCOLI, 2010).
Experiências indiretas referem-se a eventos que ocorrem fora da sala de aula, mas que afetam o que acontece dentro dela, confirmando esse contexto como sistema aberto e, portanto, dinâmico e adaptativo; revelam a personalidade de aprendizes, motivações, metas e objetivos, bem como suas histórias pessoais, culturais e contextuais, que levam a experiências diferentes no mesmo espaço, evidenciando a sensibilidade do sistema de aprendizagem a pequenas interferências. Assim, pode se traçar cursos de ações para potencializar experiências de aprendizagem em salas de aula (MICCOLI, 2010).
A FIG. 1 representa experiências vivenciadas em salas de aula. A aparente ordem, pela separação de experiências na ilustração, esconde um sistema essencialmente caótico, no qual as experiências se imbricam umas nas outras.
Cada uma dessas dimensões aninha outras, ampliando a complexidade de experiências vivenciadas por professores e estudantes em aula.
O conteúdo predominante em depoimentos de estudantes e professores, segundo Miccoli (2010), é constituído por experiências cognitivas ou pedagógicas, referentes a experiências de aprendizagem e ensino, que incluem: atividades, objetivos, dificuldades e dúvidas em sua realização, participação e desempenho nelas, aprendizagem, maneiras como foram ensinados ou maneiras de ensino e estratégias de aprendizagem. Na identificação de objetivos, por exemplo, a ausência de consenso sobre o propósito de tarefas constitui-se como experiência compartilhada. Estudantes atribuem vários objetivos à mesma atividade, devido à compreensão distinta de seu propósito. Nos excertos abaixo, dois estudantes identificam objetivos distintos para uma mesma atividade, evidenciando que condições extremamente similares podem gerar comportamentos totalmente independentes
Laura: Você se lembra dessa atividade? Qual você acha era o objetivo da professora ao te fazer perguntas?
Cristina:6 6 Reginaldo é um pseudônimo, assim como os nomes de todos os estudantes que ilustram as experiências neste artigo. A gente estava procurando caracterizar as nacionalidades. (Entrevista 2)
Laura: O que você acha que era o objetivo da atividade?
Fernanda: Você saber descrever estado, como é o estado que uma pessoa está e características físicas; que têm maneiras diferentes de falar sobre isso. Foi isso que eu fiz. (Entrevista 3)
Nos excertos, a aprendizagem não segue uma lógica de causa e efeito. Ensino não causa aprendizagem; nem sempre aprendizes identificam objetivos em tarefas de aprendizagem. Múltiplos processos de aprendizagem de LE podem ocorrer em uma mesma sala; cada um deles baseado em compreensões diferentes dos eventos que nela acontecem (MICCOLI, 1997).
Experiências sociais e afetivas completam as experiências diretas. As sociais referem-se à comunicação, ao trabalho e à relação com outros, às tensões nas relações entre professor e estudantes ou entre estudantes, à forma como eles se veem como estudantes de LE e como veem o papel do professor, bem como aos grupos que se formam em sala de aula, seus membros e como esses grupos se relacionam, além das experiências de aula como entidade pessoal e às estratégias para lidar com a competição nesse ambiente. Experiências que refletem tensão nas relações interpessoais, tal como a possibilidade de crítica pelos colegas, faz da competição uma experiência social compartilhada pelos estudantes, ainda que se manifeste mais como ameaça do que como realidade. O depoimento, a seguir, demonstra essa experiência que tanto afeta estudantes, em sua relação com colegas de classe:
Laura: Você treinou em casa antes da apresentação?
Cristina: Sei lá, a gente fica tão pra baixo, tão se equiparando às pessoas, a quem é melhor, a fulana é bonita e eu sou assim, eu sou assado e a gente vai perdendo essas coisas [autoestima]. Acaba tudo influenciando a gente. Aí você fica pensando que a pessoa que fica aí te observando tá observando tudo, menos o trabalho que você está apresentando. (Entrevista 4).
Essa experiência social ilustra as complexas relações entre elementos do sistema sala de aula, trazendo implicações para o sistema aprendizagem. A competição e a crítica se revelam como ameaças reais na medida em que restringem participação e desempenho, em clara demonstração do movimento de coadaptação, no qual sistemas conectados mudam em resposta ao outro.
As experiências afetivas se relacionam a sentimentos positivos e negativos, à motivação, interesse e esforço, à autoestima, às atitudes do professor e às estratégias para lidar com sentimentos negativos, de estresse ou frustração. Tomando como base as experiências referentes à motivação, interesse e esforço, o próximo excerto documenta a sensibilidade do sistema aprendizagem a pequenas interferências. No depoimento, uma aprendiz se refere ao comentário feito por sua professora após uma apresentação oral. Na ocasião, a professora disse que esperava mais da aluna, dando origem a um forte sentimento de frustração. No entanto, apesar de sentir que seu esforço na preparação da apresentação não fora devidamente reconhecido pela professora, a aluna aprendeu com a experiência:
Fernanda: Agora eu me sinto muito melhor. O tempo passou e com ele a dor, certo? Mas, claro, a frustração permanece. Ainda não se foi. Mas, hoje, eu me sinto muito melhor do que naquele dia. O importante é que eu não vou desistir. Eu não vou jogar tudo para o alto porque isso significaria jogar fora todo meu trabalho. Nada justifica isso. Eu vou terminar meu curso. E vou continuar meus outros cursos de línguas também. E, apesar da minha frustração, eu sei que ainda tenho força pra estudar. Eu não vou desistir! (Entrevista 8).
Um comentário, tomado como normal pela professora, foi o suficiente para desestabilizar o sistema de aprendizagem da aluna, que, felizmente, se reorganizou e evoluiu. Como lembra Paiva (no prelo) "as escolhas dos professores ou as políticas educacionais podem ajudar um a perder e outro a ganhar através de ações similares".
As experiências contextuais dizem respeito ao meio em que processos de ensino e aprendizagem acontecem, sejam eles intra ou extramuros. No âmbito intramuros, faz-se referência à instituição, procedimentos de matrícula, requisitos e prerequisitos, notas e outros cursos. No domínio extramuros, encontram-se referências a eventos extrainstitucionais, sinalizadores do status da língua inglesa no Brasil, à especificidade do processo de aprendizagem de LE no Brasil, bem como ao tempo como fator que afeta ensino e aprendizagem. A dificuldade de lidar com heterogeneidade na sala de aula é experiência contextual recorrente para professores de escolas públicas e particulares, conforme evidenciam os excertos abaixo:
Graças ao programa de inclusão escolar e ao sistema de ciclos, numa mesma classe encontram-se alunos com dificuldades de aprendizagem imensas, até com problemas mentais, alunos semianalfabetos e que já estão na 7a ou 8a séries, alunos que vão à escola uma vez ou outra e aqueles poucos que levam os estudos realmente a sério.
O maior desafio... Os diferentes níveis em que se encontram [alunos] devido às oportunidades de estudos extraclasse, em cursos específicos. (MICCOLI, 2007d, p. 75).
Se na escola pública a heterogeneidade decorre de políticas públicas, na escola particular, o problema decorre do acesso de alguns estudantes a cursinhos de inglês. As referências ao papel que o contexto imprime às dinâmicas em sala são também recorrentes em depoimentos de estudantes sobre experiências em aula, como ilustra o excerto de uma estudante universitária que expressa satisfação em relação à atividade de leitura conduzida por sua professora.
Ana Esther: [...] A Suzana tem que cumprir um programa que deram pra ela e o programa diz assim, você tem que terminar esse livro e é isso que você tem que fazer. Então, ela também tá ansiosa porque ela tem que terminar porque ela é substituta. Eu vejo que é o início de carreira e tal, e início de carreira você tem que fazer muito daquilo que os manda-chuvas querem. Então, eles querem que ela termine; então ela tem que terminar. E eu vejo que isso causa um estresse nela, que ela tem que correr com tudo (Entrevista 3).
Nesses excertos, as experiências contextuais ilustram a intrínseca relação entre contexto e sistema. A maneira como o ensino é conduzido está intimamente ligada ao contexto em que isso ocorre.
Nas experiências pessoais encontra-se menção ao nível socioeconômico, à facilidade ou às limitações impostas à aprendizagem de LE, as aprendizagens anteriores, à vida fora da sala de aula, ao trabalho e como essas experiências podem complicar, ou não, as vidas de estudantes. Experiências da vida e da influência do trabalho na aprendizagem, são exemplos de como salas de aula, ensino e aprendizagem são sistemas abertos, em fluxo constante, adaptando-se e mantendo sua estabilidade, como se observa nos depoimentos de aprendizes:
Reginaldo: Olha, eu acredito que tudo influencia, mas eu acho que os problemas pessoais me afetaram muito, porque, para ser honesto, por dois meses eu não falei com uma pessoa da minha família. Mas, problemas assim, eu tenho que deixar de lado quando eu venho para a aula. Mas, chega um ponto em que você não consegue mais.
(Entrevista 2).
Cristina: Quer dizer, eu trabalho em dois horários. Eu tenho uma casa pra cuidar; então eu acho que tudo influência... Às vezes tem hora que eu tenho vontade de ser daquelas pessoas super dotadas e saberem tudo que o professor pergunta, porque isso é ótimo, né? (Entrevista 3).
Esses excertos possibilitam compreender o papel que eventos externos cumprem no desenvolvimento da aprendizagem, afetando-a individualmente, além da maneira como estudantes tentam lidar com a influência desses eventos.
Outra evidência dessa abertura são as experiências conceptuais, que abrigam conceitos e crenças de estudantes e professores sobre aspectos do processo de ensino e aprendizagem de LE. Entre as crenças de professores, destacamos a concepção de que "é impossível o ensino comunicativo em sala de aula", no depoimento de professora de escola pública:
Meu ensino não é comunicativo, porque não tenho nem material nem tempo. Eu só ensino algum vocabulário e gramática e não trabalho as quatro habilidades (MICCOLI, 2007d, p. 78).
As crenças que professores trazem para salas de aula influenciam suas ações pedagógicas, com implicações na aprendizagem. Além disso, comportamentos de longo prazo, alimentados por crenças, são fortes atratores no espaço fase do sistema de experiências. Caso não tenham a oportunidade de refletir sobre suas crenças, é pouco provável que alterações de fase significativas ocorram.
Por fim, as experiências futuras incluem relatos que se remetem a aspectos cognitivos, sociais ou afetivos que precisam ser aprimorados; elas são materializadas em intenções, vontades, necessidades ou desejos que, normalmente, aparecem logo depois da identificação de limitação, evidenciando a dinamicidade dos processos de ensino e aprendizagem, que estão em constante evolução, em um "fluxo contínuo de desequilíbrio organização / reorganização equilíbrio, etc., mudando sempre, mas mantendo sua identidade em estados de equilíbrio" (NASCIMENTO, 2009, grifos do autor).
Fernanda: Eu já coloquei na minha cabeça, se eu não conseguir ter a fluência que eu quero, eu não vou ficar também, não vou ser aquela professora ... é ... meia professora. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser ou uma boa professora ou não ser professora. Se eu não conseguir a fluência que eu quero, se não conseguir articular o pensamento em inglês, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. (Entrevista 4).
Nesse excerto, evidencia-se a dúvida em relação à fluência na LE e a disposição para continuar em movimento de forma a se encontrar no estado desejado de competência na LE e, assim, tornar-se professora.
Essa teia de experiências, individuais ou coletivas e diretas ou indiretas, que os excertos apresentam, documenta a complexidade nas aulas de LE, envolvendo inúmeros e diferentes elementos, exige considerar ensino e aprendizagem como processos dinâmicos, imprevisíveis e não-lineares. Se, por um lado, experiências coletivas evidenciam padrões de comportamentos e atitudes que podem nortear ações docentes em aula, por outro, as experiências individuais, por sua natureza peculiar, guardam o elemento surpresa, que faz com que cada aula seja uma experiência diferente e única. Como destaca Miccoli (2010),
estar numa sala de aula para aprender uma língua estrangeira envolve questões da aprendizagem, propriamente dita, mas também conflitos de natureza social e afetiva e influências do contexto, das experiências pessoais e das relacionadas às concepções e ao futuro (p.102).
Ensino e aprendizagem de LE, então, são processos que demandam do professor muito mais do que apenas conhecimento técnico de língua e de metodologias de ensino. Por sua complexidade, se tornam desafiadores para os que dele participam. Por isso, Miccoli (2010) caracteriza:
(1) a sala de aula como desafiadora um espaço marcado pelas influências dos contextos institucional e extrainstitucional e do meio em que se encontra, afetado por regionalismos e particularidades de naturezas política, social e econômica; (2) o professor como um participante desafiado, tensionado por forças institucionais, extrainstitucionais, sociais, profissionais e estudantis que deve administrar essas forças na definição de um plano de ensino; (3) o estudante como um desafiante, porque aspira a aprender e se dispõe a assumir os riscos inerentes ao processo e aprendizagem, principalmente os de natureza social, que respondem pelos conflitos que emergem de sua interação com professor e colegas, de questões de natureza emocional que se manifestam ao longo do processo de aprendizagem (p.197).
A desafiadora sala de aula constitui-se como sistema complexo no qual outros sistemas complexos interagem: professor e estudantes, carregados de emoções, histórias, personalidades e individualidades. Daí a dificuldade de entendimentos definitivos; pelo contrário, qualquer compreensão sobre eventos em aula deve ser considerada como provisória. Para compensar essa realidade, descrições detalhadas de experiências permitem ser reconhecidas como genuínas e recorrentes em outras salas de aula, com outros professores e estudantes, conferindo autenticidade e credibilidade às descrições, viabilizando generalizações possíveis, não por estatísticas, mas pela identificação de similaridades, apesar das diferenças. Assim, não há nada de banal numa sala de aula: tudo nela é único.
Seu ambiente pode estar hoje agradável e produtivo e amanhã pesado e frustrante. O professor pode ser particularmente ágil num dia e desatento, no outro. Os estudantes podem colaborar em um momento e noutro estar em total desarmonia. Em outras palavras, a sala de aula é lugar de imprevisibilidade. O professor pode planejar e se preparar, mas nada garante que obterá o resultado esperado; de fato, tudo pode sair errado. O mesmo acontece com o estudante: ele pode se predispor a tirar proveito de uma aula e, no decorrer dela ou na relação com seus colegas, aquilo planejado não se realizar. Aprender a lidar com a imprevisibilidade, em uma sala de aula, é algo também a aprender (MICCOLI, 2010, p. 202).
Pesquisas sobre experiências fazem com que emaranhados de relações no sistema sala de aula venham à tona, expondo os processos de ensino e aprendizagem de LE, tornando premente a humildade frente a sua complexidade (MICCOLI, 2010, p. 219), que urge conhecer o todo que permeia a sala de aula, para viabilizar interpretações sobre acontecimentos, incluindo as relações complexas que se estabelecem entre os participantes. Por isso, o sucesso no ensino e aprendizagem de LE depende da habilidade de se lidar com as condições e as situações vivenciadas.
Conclusão
Neste artigo, argumentamos que a experiência é construto para documentar a complexidade do ensino e aprendizagem de LE por sua emergência natural em depoimentos ou narrativas de professores e estudantes sobre o que vivenciam em sala de aula. Defendemos compreender a experiência como SAC por estar imbricada em relações de natureza distinta e variada, em eventos vivenciados na relação com participantes no contexto de aula. Para tal, retomamos a motivação para investigar experiências e revisamos procedimentos teóricos e metodológicos adotados nessas investigações. Discutimos a natureza complexa do ensino e da aprendizagem de LE, documentando sua relação com a teoria do caos / complexidade e, com excertos de experiências de estudantes e professores, que corroboram a rede de relações e dinâmicas que constitui o ensino e a aprendizagem, sugerindo que, pela reflexão, o sistema pode se encontrar no limiar do caos e transformar-se, pelo risco, exploração e experimentação.
Conceber a experiência como SAC reafirma-a como construto, legitimando sua natureza processual. Numa perspectiva complexa, a experiência se consolida como processo dinâmico e em constante evolução, constituindo-se por meio das interações em rede de elementos que se influenciam mutuamente. Trata-se de conceito rico e complexo, capaz de revelar muito sobre o processo sob investigação. O foco na experiência permite apreciar a teia de relações e consensos compartilhados que a constitui.
O framework de experiências de estudantes e professores evidencia que o processo de ensino e aprendizagem de uma LE é complexo, ampliando concepções restritas ao domínio cognitivo da aprendizagem e pedagógico do ensino (BARCELOS; ABRAHÃO , 2006). Nas aulas, aspectos sociais, afetivos, contextuais, pessoais, conceptuais e futuros se imbricam no aprender e ensinar, fazendo com que esses processos sejam concebidos como não lineares e dinâmicos e, portanto, abertos a imprevisibilidades.
A exploração do conteúdo de experiências de estudantes e professores nas aulas confere mais transparência aos processos vivenciados pela natureza êmica7 7 Êmica é a característica de descrições que se referem a eventos, tais como comportamentos ou crenças significativas narradas por alguém que os vivencie. Para que uma descrição seja considerada êmica, deve-se dar voz a quem vive a cultura em questão. dos depoimentos que se remetem a várias experiências relacionadas tanto a eventos da própria aula quanto a acontecimentos distantes do espaço de aula ou da escola, proporcionando uma visão inclusiva e integrativa desses processos.
As experiências podem ser exploradas para promover mudanças e transformações. A reflexão tem se mostrado a porta de entrada para a emergência de novos comportamentos que, como pequenas interferências no sistema, podem desencadear mudanças significativas (COELHO, 2011; ZOLNIER , 2011). Na reflexão, experiências são ressignificadas, realimentando o sistema, evitando a manutenção do status quo, garantindo, dessa forma, sua evolução, como vimos no início deste artigo.
Enfim, experiências e teoria do caos / complexidade se complementam e aproximam teoria e prática. Adotá-las para compreender o que acontece nas aulas tem sido profícuo, pela melhor compreensão dos processos de ensino e aprendizagem de LE que continuam desafiando pesquisadores na LA.
Referências bibliográficas
ALONSO, K. F. Clássicos adaptados no ensino de inglês: um estudo de caso das experiências dos estudantes em sala de aula. 2011. 168f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
ANDERSEN, R. (Ed.). Second languages: A cross-linguistic perspective. Rowley, Mass.: Newbury House, 1984.
BAMBIRRA, M. R. de A. Desenvolvendo a autonomia pelas trilhas da motivação, autoestima identidade: uma experiência reflexiva. 2009. 249f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
BARATA, M. C. C. M. Crenças sobre avaliação em língua inglesa: um estudo de caso a partir das metáforas no discurso de professores em formação. 2006. 224f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
BARCELOS, A. M. F.; ABRAHÃO, M. H. V. (Org.). Crenças e ensino de línguas. Campinas: Pontes Editores, 2006.
COELHO, H. S. H. Experiências, emoções e transformações na educação continuada: um estudo de caso. 2011. 175f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
CUNHA, N. B. Experiências de aprendizagem: um estudo de caso sobre as experiências de estudo fora da sala de aula de alunos de Letras/Inglês em uma instituição particular de ensino superior. 2005. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.
DONATO, R.; MCCORMICK, D. E. A sociocultural perspective on language learning strategies: The role of mediation. The Modern Language Journal, v. 78, n. 4, p. 453-464, 1994.
ELLIS, R. A variable competence model of second language acquisition. IRAL- International Review of Applied Linguistics, v. 23, n. 1-4, p. 47-70, 1985.
HATCH, E. Psycholinguistics: A Second Language Perspective. Rowley, Mass: Newbury House, 1983.
KRASHEN, S. Principles and practice in second language acquisition. New York: Pergamon, 1982.
LARSEN-FREEMAN, D. Chaos / complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, v. 2, n.18, p.141-165, 1997.
LARSEN-FREEMAN, D. Language acquisition and language use from a chaos/complexity theory perspective. In: KRAMSCH, C. (Ed.). Language acquisition and language socialization. London: Continuum, 2002. p. 33-46.
LARSEN-FREEMAN, D. The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese l earners of English. Applied Linguistics, v. 27, n. 4, p. 590-619, 2006.
LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. Complex systems and applied linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2008.
LEFFA, V.J. Transdisciplinaridade no Ensino de Línguas. A Perspectiva das Teorias da Complexidade. Rev. Brasileira de Lingüística Aplicada, 28 v. 6, n. 1, p. 27-49, 2006.
LIMA, C. V. A. Experiências de indisciplina e aprendizagem: um estudo de caso em uma turma de um curso livre de inglês. 2009. 168f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
MATURANA, Humberto R. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.
MATURANA, Humberto R. Biologia do conhecer e epistemologia. In: MAGRO, Cristina; PAREDES, Victor. (Org.). Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p.19-124.
MC LAUGHLIN, B. Theories of second-language learning. London: Edward Arnold, 1987.
MICCOLI, L. S. Learning English as a foreign language in Brazil: a joint investigation of learners experiences in a university classroom or going to the depth of learners classroom experiences. 1997. 279f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Departamento de Educação, Universidade de Toronto, Toronto, 1997.
MICCOLI, L. S. A deeper view of EFL learning: students classroom experiences. Claritas, v. 6, n. 3, p. 185-204, 2000.
MICCOLI, L. S. Individual classroom experiences: A socio-cultural comparison for understanding EFL classroom learning. Ilha do Desterro, Florianópolis, v. 41, n. 1, p. 61-91, 2003.
MICCOLI, L. S. Collective and individual classroom experiences: A deeper view of EFL learning in a Brazilian university. Revista Virtual da Linguagem ReVel, v. 2, n. 2, p.1-29, 2004.
MICCOLI, L. S. Tapando Buracos em um projeto de formação continuada à distância para professores de LE: avanços apesar da dura realidade. Linguagem & Ensino, v. 9, n. 1, p. 129-158, 2006.
MICCOLI, L. S. A Experiência na Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras: levantamento, conceituação, referências e implicações para pesquisa. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 7, n. 1, p. 208-248, 2007a.
MICCOLI, L. S. Por um Novo Tratamento da Experiência na Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras. Revista Crop, n. 12, p. 263-283, 2007b.
MICCOLI, L. S. Experiências de estudantes em processo de aprendizagem de língua inglesa: por mais transparência. Revista de Estudos da Linguagem, v. 15, n. 1, p. 197-224, 2007c.
MICCOLI, L. S. Experiências de professores no ensino de língua inglesa: uma categorização com implicações para o ensino e a pesquisa. Linguagem & Ensino, n. 1, v. 10, p. 47-86, 2007d.
MICCOLI, L. S. Brazilian EFL Teachers Experiences in Public and Private Schools: different contexts but similar challenges. In: KALAJ, P.; MENEZES, V.; BARCELOS, A. M. F. Narratives of Learning and Teaching EFL. New York: Palgrave McMillan, 2008. p. 65-79.
MICCOLI, L. S. Ensino e aprendizagem de inglês: experiências, desafios e possibilidades. Campinas: Pontes Editores, 2010.
MILLER, G.A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, n. 63, p. 81-97, 1956.
MORAES, M.C. A Formação do Educador a Partir da Complexidade e da Transdisciplinaridade. Diálogo Educacional. Curitiba, v. 7, n. 22, p. 13-38, set. / dez. 2007.
MORIN, E. O Método 2; a vida da vida. Porto Alegre: Sulina, 2011.
MORIN, E. A sociologia do microsocial ao macroplanetário. Sintra, Portugal: Europa América, 1998.
NASCIMENTO, M. Linguagem como um sistema complexo: intefases e interfaces. In: PAIVA, V. L. M. O.; NASCIMENTO, M. (Org.). Sistemas adaptativos complexos: lingua(gem) e aprendizagem. Belo Horizonte: Faculdade de Letras / FAPEMIG, 2009. p.61-72.
OCKERMAN , C. Facilitating and learning at the edge of chaos: Expanding the context of experiential education. Proceedings from 1997 AEE International Conference. Disponível em: <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?–nfpb=true&–&ERICExtSearch–SearchValue–0=ED414142& ERICExtSearch–SearchType–0=no&accno=ED414142> . Acesso em: 26 fev. 2012.
PAIVA, V. L. M. O. Caleidoscópio: fractais de uma oficina de ensino aprendizagem. 2002. Memorial (Professor titular) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 2002.
PAIVA, V. L. M. O. Modelo fractal de aquisição de línguas. In: BRUNO, F. C. (Org.). Reflexão e prática em ensino / aprendizagem de língua estrangeira. São Paulo: Editora Clara Luz, 2005. p. 23-36.
PAIVA, V. L. M. O. Comunidades virtuais de aprendizagem e colaboração. In: TRAVAGLIA, L. C. Encontro na linguagem: estudos linguísticos e literários. Uberlândia: Ed. UFU, 2006a, p.127-154.
PAIVA, V. L. M. O. Autonomia e complexidade. Linguagem e Ensino, v. 9, n. 1, p. 77-127, 2006b.
PAIVA, V. L. M. O. Second language acquisition as a chaotic/complex system (trabalho apresentado no congresso da AILA 2008). Disponível em: <http://www.veramenezes.com/publicacoes.html>. Acesso em: 5 ago. 2011.
PAIVA, V. L. M. O. Identity, motivation, and autonomy from the perspective of complex dynamical systems. In: MURRAY, G.; GAO, X.; LAMB, T. Identity, motivation and autonomy in language learning. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2011.
PAIVA, V. L. M. O. Chaos and the Complexity of SLA, 2009 (no prelo). Disponível em: <http://www.veramenezes.com/publicacoes.html>. Acesso em: 5 ago 2011.
PORTO, C. V. Percepções de professores de Letras/Inglês sobre avaliação da aprendizagem: um estudo de caso. 2003. 185 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.
SCHUMANN, J. H. The acculturation model for second language acquisition. In: GINGRAS, R. C. (Ed.). Second language acquisition and foreign language learning. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics, 1978. p. 27-50.
VAN MANEN, M. Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. New York: State University of New York Press, 1990.
VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
RESENDE, L. A. S. Identidade e aprendizagem de inglês sob a ótica do caos e dos sistemas complexos. 2009. 305f. Tese. (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
SILVA E SOUZA, A. S. Mapeando a esperança: um levantamento das experiências no processo de aprendizagem de língua inglesa. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
ZOLNIER, M. C. A. P. Transformações identitárias: um estudo sobre as experiências de professoras de inglês em um projeto de educação continuada. 2011. 229 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
Recebido em 19/08/2011.
Aprovado em 3/10/2011.
- ALONSO, K. F. Clássicos adaptados no ensino de inglês: um estudo de caso das experiências dos estudantes em sala de aula. 2011. 168f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- ANDERSEN, R. (Ed.). Second languages: A cross-linguistic perspective. Rowley, Mass.: Newbury House, 1984.
- BAMBIRRA, M. R. de A. Desenvolvendo a autonomia pelas trilhas da motivação, autoestima identidade: uma experiência reflexiva. 2009. 249f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
- BARATA, M. C. C. M. Crenças sobre avaliação em língua inglesa: um estudo de caso a partir das metáforas no discurso de professores em formação. 2006. 224f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
- BARCELOS, A. M. F.; ABRAHÃO, M. H. V. (Org.). Crenças e ensino de línguas. Campinas: Pontes Editores, 2006.
- COELHO, H. S. H. Experiências, emoções e transformações na educação continuada: um estudo de caso. 2011. 175f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- CUNHA, N. B. Experiências de aprendizagem: um estudo de caso sobre as experiências de estudo fora da sala de aula de alunos de Letras/Inglês em uma instituição particular de ensino superior. 2005. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.
- DONATO, R.; MCCORMICK, D. E. A sociocultural perspective on language learning strategies: The role of mediation. The Modern Language Journal, v. 78, n. 4, p. 453-464, 1994.
- ELLIS, R. A variable competence model of second language acquisition. IRAL- International Review of Applied Linguistics, v. 23, n. 1-4, p. 47-70, 1985.
- HATCH, E. Psycholinguistics: A Second Language Perspective. Rowley, Mass: Newbury House, 1983.
- KRASHEN, S. Principles and practice in second language acquisition New York: Pergamon, 1982.
- LARSEN-FREEMAN, D. Chaos / complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics Oxford: Oxford University Press, v. 2, n.18, p.141-165, 1997.
- LARSEN-FREEMAN, D. Language acquisition and language use from a chaos/complexity theory perspective. In: KRAMSCH, C. (Ed.). Language acquisition and language socialization London: Continuum, 2002. p. 33-46.
- LARSEN-FREEMAN, D. The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese l earners of English. Applied Linguistics, v. 27, n. 4, p. 590-619, 2006.
- LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. Complex systems and applied linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- LEFFA, V.J. Transdisciplinaridade no Ensino de Línguas. A Perspectiva das Teorias da Complexidade. Rev. Brasileira de Lingüística Aplicada, 28 v. 6, n. 1, p. 27-49, 2006.
- LIMA, C. V. A. Experiências de indisciplina e aprendizagem: um estudo de caso em uma turma de um curso livre de inglês. 2009. 168f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
- MATURANA, Humberto R. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.
- MATURANA, Humberto R. Biologia do conhecer e epistemologia. In: MAGRO, Cristina; PAREDES, Victor. (Org.). Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p.19-124.
- MC LAUGHLIN, B. Theories of second-language learning London: Edward Arnold, 1987.
- MICCOLI, L. S. Learning English as a foreign language in Brazil: a joint investigation of learners experiences in a university classroom or going to the depth of learners classroom experiences. 1997. 279f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Departamento de Educação, Universidade de Toronto, Toronto, 1997.
- MICCOLI, L. S. A deeper view of EFL learning: students classroom experiences. Claritas, v. 6, n. 3, p. 185-204, 2000.
- MICCOLI, L. S. Individual classroom experiences: A socio-cultural comparison for understanding EFL classroom learning. Ilha do Desterro, Florianópolis, v. 41, n. 1, p. 61-91, 2003.
- MICCOLI, L. S. Collective and individual classroom experiences: A deeper view of EFL learning in a Brazilian university. Revista Virtual da Linguagem ReVel, v. 2, n. 2, p.1-29, 2004.
- MICCOLI, L. S. Tapando Buracos em um projeto de formação continuada à distância para professores de LE: avanços apesar da dura realidade. Linguagem & Ensino, v. 9, n. 1, p. 129-158, 2006.
- MICCOLI, L. S. A Experiência na Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras: levantamento, conceituação, referências e implicações para pesquisa. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 7, n. 1, p. 208-248, 2007a.
- MICCOLI, L. S. Por um Novo Tratamento da Experiência na Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras. Revista Crop, n. 12, p. 263-283, 2007b.
- MICCOLI, L. S. Experiências de estudantes em processo de aprendizagem de língua inglesa: por mais transparência. Revista de Estudos da Linguagem, v. 15, n. 1, p. 197-224, 2007c.
- MICCOLI, L. S. Experiências de professores no ensino de língua inglesa: uma categorização com implicações para o ensino e a pesquisa. Linguagem & Ensino, n. 1, v. 10, p. 47-86, 2007d.
- MICCOLI, L. S. Brazilian EFL Teachers Experiences in Public and Private Schools: different contexts but similar challenges. In: KALAJ, P.; MENEZES, V.; BARCELOS, A. M. F. Narratives of Learning and Teaching EFL. New York: Palgrave McMillan, 2008. p. 65-79.
- MICCOLI, L. S. Ensino e aprendizagem de inglês: experiências, desafios e possibilidades. Campinas: Pontes Editores, 2010.
- MILLER, G.A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, n. 63, p. 81-97, 1956.
- MORAES, M.C. A Formação do Educador a Partir da Complexidade e da Transdisciplinaridade. Diálogo Educacional Curitiba, v. 7, n. 22, p. 13-38, set. / dez. 2007.
- MORIN, E. O Método 2; a vida da vida. Porto Alegre: Sulina, 2011.
- MORIN, E. A sociologia do microsocial ao macroplanetário Sintra, Portugal: Europa América, 1998.
- NASCIMENTO, M. Linguagem como um sistema complexo: intefases e interfaces. In: PAIVA, V. L. M. O.; NASCIMENTO, M. (Org.). Sistemas adaptativos complexos: lingua(gem) e aprendizagem. Belo Horizonte: Faculdade de Letras / FAPEMIG, 2009. p.61-72.
- PAIVA, V. L. M. O. Caleidoscópio: fractais de uma oficina de ensino aprendizagem. 2002. Memorial (Professor titular) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 2002.
- PAIVA, V. L. M. O. Modelo fractal de aquisição de línguas. In: BRUNO, F. C. (Org.). Reflexão e prática em ensino / aprendizagem de língua estrangeira. São Paulo: Editora Clara Luz, 2005. p. 23-36.
- PAIVA, V. L. M. O. Comunidades virtuais de aprendizagem e colaboração. In: TRAVAGLIA, L. C. Encontro na linguagem: estudos linguísticos e literários. Uberlândia: Ed. UFU, 2006a, p.127-154.
- PAIVA, V. L. M. O. Autonomia e complexidade. Linguagem e Ensino, v. 9, n. 1, p. 77-127, 2006b.
- PAIVA, V. L. M. O. Second language acquisition as a chaotic/complex system (trabalho apresentado no congresso da AILA 2008). Disponível em: <http://www.veramenezes.com/publicacoes.html>. Acesso em: 5 ago. 2011.
- PAIVA, V. L. M. O. Identity, motivation, and autonomy from the perspective of complex dynamical systems. In: MURRAY, G.; GAO, X.; LAMB, T. Identity, motivation and autonomy in language learning Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2011.
- PAIVA, V. L. M. O. Chaos and the Complexity of SLA, 2009 (no prelo). Disponível em: <http://www.veramenezes.com/publicacoes.html>. Acesso em: 5 ago 2011.
- PORTO, C. V. Percepções de professores de Letras/Inglês sobre avaliação da aprendizagem: um estudo de caso. 2003. 185 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.
- SCHUMANN, J. H. The acculturation model for second language acquisition. In: GINGRAS, R. C. (Ed.). Second language acquisition and foreign language learning Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics, 1978. p. 27-50.
- VAN MANEN, M. Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. New York: State University of New York Press, 1990.
- VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente São Paulo: Martins Fontes, 1984.
- RESENDE, L. A. S. Identidade e aprendizagem de inglês sob a ótica do caos e dos sistemas complexos. 2009. 305f. Tese. (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
- SILVA E SOUZA, A. S. Mapeando a esperança: um levantamento das experiências no processo de aprendizagem de língua inglesa. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- ZOLNIER, M. C. A. P. Transformações identitárias: um estudo sobre as experiências de professoras de inglês em um projeto de educação continuada. 2011. 229 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Abr 2012 -
Data do Fascículo
2012
Histórico
-
Recebido
19 Ago 2011 -
Aceito
03 Out 2011