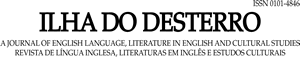Resumo
Neste artigo, objetivamos verificar as condições de surgimento das literaturas indígenas em contexto norte-americano, hispano-americano e brasileiro, em perspectiva comparada, a fim de compreender as interferências coloniais nesses processos. Foram utilizadas abordagens teóricas diversas, a exemplo das pesquisas de Hunt (2002), Fulford (2006), García Canclini (2008), Munduruku (2012), Del Valle Escandante (2013), Viveiros de Castro (2016) e Dorrico et al. (2018). A análise comprovou que, embora condicionadas por mecanismos ocidentais (mercado, público consumidor etc.), as obras indígenas tendem a não se adaptar ao mainstream, o que justifica a necessidade de interpretá-las a partir de seus contextos histórico-culturais.
Palavras-chave
literaturas indígenas; colonialismo; literatura comparada
Abstract
In this article, I aim to establish the conditions for the emergence of indigenous literatures in North American, Hispanic American, and Brazilian contexts, from a comparative perspective, identifying colonial interventions in these processes. I use different theoretical approaches, such as those employed by Hunt (2002), Fulford (2006), Del Valle Escandante (2013), Daniel Munduruku (2012), Dorrico et al. (2018), García Canclini (2008), and Viveiros de Castro (2016). The analysis confirms that even when conditioned by Western mechanisms (market, consumer public, etc.), indigenous books tend to not adapt to the mainstream, thus deserving cultural-historical approaches.
Keywords
Indigenous literatures; colonialism; comparative literature
1. ONDE NASCEM OS NINHOS
Em julho de 2021, quando o mundo ainda refletia sobre os impactos causados pela pandemia do Coronavírus, em Barranquilla, na Colômbia, um grupo de manifestantes amarrou e derrubou uma estátua de Cristóvão Colombo, aos gritos de: “Colombo, assassino”. No mesmo mês e ano, ataques a igrejas se multiplicavam no Canadá, após a descoberta de túmulos em internatos para indígenas, estimando-se que aproximadamente 50 templos tenham sido incendiados. O efeito dominó também encontrou seus ecos no Brasil, onde, naquela data, uma estátua de Borba Gato foi atacada em São Paulo por um grupo denominado Revolução Periférica. Outrora símbolo de fundação da cidade, o bandeirante se tornou, em tempos mais recentes, representante do avanço colonizador pelo interior do país e da consequente dizimação dos povos nativos.
Longe de estarmos diante de uma “coincidência”, presenciamos, na contemporaneidade, a expansão do pan-indianismo norte-americano, que passa também a abarcar os povos das outras Américas, em articulação política que visa lutar contra o neoliberalismo através da troca de experiências e da elaboração de propostas comuns. Nesse sentido, reivindicam-se, inclusive, outros nomes para o continente, a fim de expurgar as marcas deixadas pelos colonizadores nas topografias, adotando-se, em substituição, o termo Abya Yala. Afinal, se para os anishinabes norte-americanos estamos sobre Mikinoc Waajew, a Ilha da Tartaruga, para os kunas Abya Yala é “terra madura”, expressão que usaremos ao longo deste artigo para denominar esse vasto território, tendo em conta que o Sul e o Norte são, também, representações colonialistas fictícias. Assim, buscaremos aqui apresentar algumas conclusões decorrentes de uma pesquisa de doutorado empreendida entre 2016 e 20201 1 Pesquisa realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. , em convênio com a Universidade de Winnipeg, objetivando compreender os contextos de surgimento da literatura indígena no Canadá, no Brasil e, em termos mais gerais, na tradicionalmente chamada América Hispânica.
Assinala-se que a principal metodologia usada nesta pesquisa foi a análise comparativa. Quando de seu surgimento institucional, há mais de cem anos, a literatura comparada objetivava principalmente a então chamada Stoffgeschichte (história dos assuntos). Conforme se consolidou como disciplina, as preocupações dos teóricos se ampliaram, concentrando-se, em meados do século XX, no eixo temático das obras pesquisadas, na evolução do estilo de um autor, no destino de gêneros literários de uma dada época, dentre outras questões. Não sendo a literatura comparada, pois, um método específico de pesquisa, valemo-nos de abordagens filosóficas e antropológicas capazes de nos auxiliar na compreensão das culturas dos povos estudados, como os estudos de Pomedli (2014)POMEDLI, Michael. Living with Animals: Ojibwe Spirit Powers. Toronto: University of Toronto Press, 2014. sobre os ojíbuas, e de Viveiros de Castro (2016)VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac Naif, 2016. sobre os povos da Amazônia.
Nossa principal reflexão se concentra em tentar compreender como os critérios ocidentais sobre o que é ou não literatura interferem, ainda que indiretamente, na produção e recepção das obras de autoria indígena. Desse modo, analisamos à luz dos estudos de Fulford (2006)FULFORD, Tim. Romantic Indians: Native Americans, British Literature and Transatlantic Culture 1756 – 1830. Londres: Oxford University Press, 2006. aspectos concernentes às primeiras obras assinadas por autores nativos norte-americanos, entre os séculos XVIII e XIX, comparando esse movimento com as obras nativas mesoamericanas registradas no século XVI já sob a influência colonial. As reflexões de Calavia Saéz (2006)CALAVIA SAÉZ, Oscar. Autobiografia e sujeito histórico indígena: considerações preliminares. Novos Estudos, v. 76, 2006. Disponível em: http://novosestudos.uol.com.br/v1/Issues/index. Acesso em: 14 abr. 2017.
http://novosestudos.uol.com.br/v1/Issues...
, por seu turno, nos ajudam a compreender a preferência norte-americana pelas biografias, fazendo-nos questionar a primazia da obra de Maria Campbell (1973)CAMPBELL, Maria. Halfbreed. Lincoln e Londres: University of Nebraska Press, 1973. como inaugural do Renascimento Indígena canadense, em detrimento de livro publicado à mesma época (1972) por outra nativa, Alma Greene. A partir desses pressupostos, investigamos, por fim, a recente produção indígena brasileira e sua inevitável associação à literatura infantojuvenil, a partir das teorias de Munduruku (2012)MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970 - 1990). São Paulo: Paulinas, 2012. e Dorrico et al. (2018)DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018..
O ponto de partida de nosso estudo nasce de uma profecia, mais ou menos presente em todo o território de Abya Yala, segundo a qual o deus do Tempo teria criado o sol e a lua, surgindo, com eles, a águia (representando o Norte) e o condor (representando o Sul), que, ao se unirem, formaram o centro do continente (Mesoamérica). Antes juntas, em algum momento as duas aves se perderam, estando, porém, previsto que um dia voltariam a se encontrar. Para Grondin e Viezzer (2021, p. 205-206)GRONDIN, Marcelo; VIEZZER, Moema. Abya Yala: genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Rio de Janeiro: Bambual, 2021. esse encontro já estaria em curso “[n]as Cúpulas Continentais de Abya Yala, [n]os Encontros Continentais de Líderes Espirituais de Abya Yala, [n]as Maratonas Intercontinentais [...] e em eventos globais das Nações Unidas [...]”. Nossa pesquisa demonstra, sobretudo, que, apesar de diferentes, esses povos se tangenciam em sua capacidade criativa de sobrevivência, conforme nos ensina Quetzalcóatl, a serpente emplumada em eterna metamorfose, que, quando perdeu suas penas, não sucumbiu, transformou-se em Vênus, o planeta. Do mesmo modo, Boiuna, a cobra-grande, criadora de muitos povos da Amazônia, nunca morre, apenas se transforma ad infinitum. Em alguma estrela Quetzalcóatl e Boiuna se tocam. Por lá habitam outros deuses esquecidos, uma miríade deles. É que os deuses não dormem nunca, nem quando se pensa que estão mortos.
2. O VOO DA ÁGUIA
Se antes se acreditava em uma América próspera, situada ao Norte, contrastando com sua meia-irmã, a parcela sulista subdesenvolvida do continente, torna-se consenso “que a periferia não está apenas no Hemisfério Sul, não é dado territorial, mas refere-se às margens da sociedade” (BASTOS, 2020BASTOS, Elide Rugai. A história nunca se fecha. Sociologia & Antropologia, v. 10, n. 2: p. 677-694, maio.-ago., 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10214
https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10...
, p. 684). Nesse local difuso e fora do centro de poder, situam-se os povos indígenas que do Polo Norte à Terra do Fogo experimentam, de forma mais ou menos análoga, a precariedade socioeconômica, a violência e as ameaças constantes à sua própria existência. O tratamento discriminatório dispensado de forma generalizada às populações originárias é sintoma de um sistema econômico em colapso, cujo xeque-mate se anuncia pelo avanço do antropoceno. Não à toa, portanto, os autores indígenas contemporâneos se ocupam em denunciar a pobreza material de suas comunidades, associando-a ao processo de deterioração ambiental intrínseco à civilização ocidental.
Justamente porque a literatura (conforme a concebemos sob o prisma ocidental, isto é, em sua forma escrita) está sujeita aos valores ditados por um mercado, o avanço industrial da América do Norte é, paradoxalmente, uma das justificativas para seu pioneirismo entre os nativos, situando-se as primeiras publicações do gênero ainda durante o Romantismo, conforme atesta Tim Fulford (2006)FULFORD, Tim. Romantic Indians: Native Americans, British Literature and Transatlantic Culture 1756 – 1830. Londres: Oxford University Press, 2006.. Para o teórico, a produção literária de autoria nativa se inspirou, naquele momento, no indianismo, modismo literário iniciado por intelectuais ingleses críticos do imperialismo britânico. Fulford acredita que uma carta publicada por Samuel Johnson na London Magazine (1758), por meio da qual aquele autor denunciava as mazelas do processo colonial, tenha inaugurado o estilo. Escrito na primeira pessoa do singular, o texto foi recebido com entusiasmo pelos leitores, que se comoveram com seu conteúdo, acreditando tratar-se de um manifesto de autoria indígena.
Surge, na mesma época, uma série de outras publicações de teor político ou ficcional, a exemplo do poema “Ponteach of the Savage of America” (1766), de Robert Roger, inspirado por acontecimentos reais vividos pelo líder dos odawas2 2 Em inglês o nome da etnia é “Ottawa”. Neste artigo, adotamos sempre as grafias correntes em português, quando existentes. , Pontiac ou Obwandiyag. Mas Tim Fulford vê em Walter Scott a influência definitiva para a consolidação posterior do indígena como elemento literário “nacional”, o que se deveria à sua proximidade com o capitão John Norton, também conhecido como Teyoninhokarawen, cacique da confederação das cinco nações indígenas canadenses. Norton, um hiperpoliglota que dominava doze línguas indígenas e quatro idiomas europeus, seria posteriormente o tradutor de Walter Scott para a língua mohawk.
Não demoraria para que o próprio John Norton (ou Teyoninhokarawen) decidisse escrever sua biografia, projeto que não pôde concluir antes de morrer, restando-nos somente as memórias do que vivenciou durante a Guerra Anglo-Americana de 1812. Esses escritos, embora só tenham se tornado conhecidos do grande público no século XX, atestam uma singularidade do Romantismo anglo-saxônico: enquanto na América Latina a participação de indígenas no processo de produção literária durante o período foi quase nula, na América do Norte3 3 Não investigamos como se deu essa produção literária nas regiões francófonas da América do Norte. o cenário foi distinto. Ainda que o número de escritores indígenas norte-americanos não tenha sido massivo no referido período, eles são relevantes se considerada a baixa produção editorial da época.
Mas, visto que “os primeiros trabalhos publicados por escritores nativos estavam, no geral, limitados a autobiografias, história, diários e periódicos” (WIGET, 1994WIGET, Andrew (ed). Dictionary of Native American Literature. New York and London: Garland Publishing, INC, 1994., p. 336; tradução nossa4 4 No original: “Early work by Native writers was, in the main, limited to autobiography, histories, diaries, and journals”. ), os critérios acadêmicos norte-americanos no que tange à definição do que venha a ser “literatura indígena” são confusos, e surpreendentemente colocam essas obras em uma posição de menor importância para o movimento indígena frente à literatura contemporânea. O verbete “Native American Literature”, da versão eletrônica de “Encyclopedia”, comprova essa contradição:
A literatura indígena produzida no século XIX é uma literatura de transição, uma ponte entre a tradição oral que floresceu séculos antes da chegada dos europeus, e o surgimento da ficção contemporânea dos anos 1960, conhecida como renascimento indígena
(tradução nossa).5 5 No original: “Nineteenth-century Native American literature is a literature of transition, the bridge between an oral tradition that flourished for centuries before the arrival of Europeans and the emergence of contemporary fiction in the 1960s, known as the Native American Renaissance”.
A supracitada publicação deixa claro que o mercado editorial exerceu um papel decisivo para a publicação de textos indígenas durante o século XIX: a temática indianista, já consolidada na literatura norte-americana, voltou a despertar o interesse do público após a ratificação do Removal Act (1880) pelo então presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. A lei autorizava a remoção de diversos grupos de suas terras originárias, fato que levou os cheroquis6 6 Em inglês escreve-se “Cherokee”. a tentarem anular a decisão governamental nos tribunais. Surgem, em sequência, diversas autobiografias indígenas, dentre as quais destacamos Autobiography of Ma-Ka-Tai-Me-She-Kia-Kiak or Black Hawk (1833), The Experience of William Apess, a Native of the Forest (1839), de William Apess, e The Life, History, and Travels of Kah-ge-ga-gah-bowh (1847), de George Copway. Essas obras, assinadas por nativos convertidos ao cristianismo, clamavam por um tipo de reconciliação entre a religião ocidental e as tradições originárias, não despertando, pois, grande interesse acadêmico na atualidade, visto que estavam condicionadas às expectativas dos leitores e ao establishment.
Essa profusão de autobiografias indígenas na América do Norte, em discrepância com a realidade da América Latina, onde publicações desse tipo são raras em qualquer época, chamou a atenção de Oscar Calavita Saéz, que, em sua pesquisa, aponta duas possíveis causas para a supracitada diferença: 1) haveria um apego do protestantismo calvinista às narrativas personalistas – a exemplo das autobiografias –, algo inexistente na América católica, em oposição aos Estados Unidos e Canadá; e 2) durante o Medievo, a novela picaresca, gênero pseudoautobiográfico, se estabeleceu como estilo popular na Península Ibérica, o que levou a crer que as colônias lusitanas e espanholas desenvolveram maior gosto pelas comédias de erros do que por cartilhas de prescrição moral.
O gosto pelas autobiografias aparentemente se manteve na contemporaneidade anglo-saxã, conforme revela a obra mais famosa do celebrado “renascimento indígena” canadense, Halfbreed (1973), de Maria Campbell. Publicada um ano após Forbidden Voice: Reflections of a Mohawk Indian (1972)GREENE, Alma. Forbidden Voice: Reflections of a Mohawak Indian. Toronto: Green Dragon Press, 1972., de Alma Greene, a recepção à autobiografia de Campbell a transformou em uma espécie de texto seminal e leitura obrigatória entre aqueles que se interessam pelos estudos indígenas canadenses (FAGAN, 2009FAGAN, Kristina. et al. Reading the reception of Maria Campbell’s Halfbreed. The Canadian Journal of Native Studies, v. 29, p. 257-328, 2009. Disponível em: http://www3.brandonu.ca/cjns/29.1-2/17Halfbreed%20collaborative.pdf. Acesso em: 23 abr. 2022.
http://www3.brandonu.ca/cjns/29.1-2/17Ha...
), contando com diversas reedições e pelo menos quatro traduções. A obra de Greene, por sua vez, cuja estrutura narrativa não linear apresenta episódios reais entrecortados por histórias da tradição oral, até o presente momento contou somente com uma reedição e, ao que parece, é pouco conhecida fora de sua comunidade.
O relato de Campbell passa a figurar como obra pioneira de sua geração porque se adequou melhor às exigências do mercado ocidental, em oposição ao legado de Greene, hoje esquecido. Por isso, ao invés de pensar as obras indígenas como mais ou menos “legítimas”, entendemos, pelo contrário, que todas as produções são representativas da diversidade cultural desses povos. É preciso, ainda, levar em conta as limitações impostas aos sujeitos periféricos pelas estruturas de poder, porque, ao longo da história os “povos nativos foram progressivamente subjugados pelo Estado e incluídos à força no regime de cidadania canadense” (PAPILLON, 2018PAPILLON, Martin. Structure, Agency, and the Reconfiguration of Indigenous Citizenship in Canada. In: PAQUET, Mireille; NAGELS, Nora; FOUROTM, Aude-Claire (Eds.). Citizenship as a Regime. Canadian and International Perspectives. Montreal: McGill-Queen's Press, 2018., p. 77; tradução nossa7 7 No original: “Throughout Canada’s colonial history, Indigenous peoples were progressively subjugated by the Canadian state and forcibly included in the citizenship regime”. ). Desse modo, as literaturas nativas de todo o continente, conforme veremos ao longo deste artigo, por vezes aparentam atender às expectativas ocidentais, mas, quando analisadas em profundidade, revelam-se como adaptações subversivas que objetivam agenciar os sujeitos através do ativismo político. Por esse mesmo motivo, a literatura indígena norte-americana produzida durante o Romantismo não deve ser ignorada, mas lida a partir de seu contexto histórico, conforme conclui Fulford:
[As histórias de Walter Scott e John Norton] nos dizem que os personagens indígenas do romantismo eram mais ou menos estereotipados – objetivamente, eram clichês ilustrativos do que seria nobreza ou selvageria, mas se analisados de forma mais complexa, eram ambíguos, insólitos, perturbadores. Elas também nos dizem que estes personagens condicionaram as visões existentes sobre os ameríndios dos dois lados do Atlântico, influenciando, por vezes, decisões políticas de cunho colonial. E elas nos dizem que foi dada, a alguns indígenas, oportunidades de autoapresentação de maneira afirmativa frente aos brancos e simultaneamente restritiva para os próprios indígenas – e é por este motivo que estas representações às vezes precisavam ser rejeitadas
(FULFORD, 2006FULFORD, Tim. Romantic Indians: Native Americans, British Literature and Transatlantic Culture 1756 – 1830. Londres: Oxford University Press, 2006., p. 13, tradução nossa).8 8 No original: “They [Norton and Scott’s stories] tell us that Romantic Indians were more or less stereotypical – at their crudes they were clichéd examples of noble or ignoble savagery but at their most complex, they were ambiguous, uncanny, disturbing. They tell us that Romantic Indians conditioned views of real Indians on both sides of the Atlantic, in some instances influencing policy decisions of colonial officials. And they tell us that they gave some Indians opportunities to represent themselves in terms likely to be powerful for whites but simultaneous restrictive for the Indians themselves – and for that this very reason these representations sometimes had to be resisted”.
Importa, por fim, ressaltar que, desde o seu renascimento, a literatura indígena canadense tem experimentado diversas transformações, a exemplo da sua atual profusão de estilos e gêneros. Observamos, pois, a concomitância de escritores que se dedicam a temas tradicionais, como Thomas King, e autores mais inovadores, a exemplo de Tomson Highway. Por outro lado, a consolidação de grupos editoriais indígenas (Kegedonce Press, Native Reality, Pemmican, dentre outros) apontam para um cenário de maior autonomia, cujo desafio, atualmente, é evitar a “guetização”. Ou seja, ao sair das editoras hegemônicas, os autores indígenas se deparam com as dificuldades de alcançar um público mais amplo, para além dos grupos aos quais pertencem. Afinal, sem esse movimento, a almejada “reconciliação” continuará sendo adiada para um futuro utópico, que ninguém sabe quando virá, se é que virá.
3. O MERGULHO DO CONDOR
De todo o território de Abya Yala, foi naquele ocupado pelos espanhóis que primeiro surgiu uma literatura mais próxima do conceito ocidental sobre o tema. É que, antes mesmo da colonização, os povos da hoje chamada Mesoamérica9 9 Há muitos nomes indígenas para o local, cujas traduções variam. Para o Vale Cuauhtinchan, situado no México, por exemplo, atribuem-se os significados: “onde moram homens valentes e fortes”, “lugar onde se encontram excelentes jaguatiricas e águias guerreiras”, “aqueles com espírito invencível” ou “representantes do Sol na Terra”, significados ligados à elite guerreira mexica que exercia atividades em Malinalco. Outra toponomia reconhecida para a mesma região é Texcaltepec, que significa “Monte Rochoso”. possuíam formas de escrita notacional similar aos hieróglifos. Hoje desconhecemos em detalhe esse legado, visto que Frei Juan de Zumárraga decidiu queimar incontáveis livros e ídolos presentes na casa do poeta asteca Netzahualcóyotl e do próprio Montezuma, conforme revela Fernando Baéz (2006, p. 143)BÁEZ, Fernando. História universal da destruição dos livros: das tábuas sumérias à Guerra do Iraque. Tradução de Leo Schlafman. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. em História universal da destruição dos livros. Para o historiador, a tradição católica procurou imortalizar Zumárraga como introdutor da imprensa no México e criador da primeira biblioteca pública naquele país, levando-nos a concluir que a primazia cristã não teria sido viável sem o “bibliocídio” cometido contra os indígenas.
Mas deve-se a outro religioso cristão, Frei Bernardino de Sahagún, a sobrevivência de um dos mais antigos registros escritos originários: o Códice florentino ou História geral das coisas da Nova Espanha. Escrita por indígenas e comentada pelo frade, a obra se presta a comprovar a bestialidade dos antigos costumes astecas. Por exemplo, ao fim do livro primeiro, em que descreve o deus Texcatzoncatl, lemos as conclusões do religioso no próprio corpo da obra: “Vós, os habitantes desta Nova Espanha [...] sabei que todos haveis vivido em grandes trevas de infidelidade e idolatria na qual vos deixaram vossos antepassados, como está claro por vossas escrituras e pinturas e ritos idolátricos (SAHÁGUN, 1829SAHÁGUN, Frei Bernardino de. História general de las cosas de Nueva España. Tomo 1. Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, Oaxaca, 1829., p. 40, tradução nossa10 10 No original: “Vosotros, los habitadores de esta Nueva España […] sabed que todos havéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría en que os dexaron vuestros antepasados, como está claro por vuestras escripturas y pinturas, y ritos idolátricos”. ). Embora entremeado por esse tipo de julgamento eurocêntrico, o Códice florentino é um dos primeiros documentos sobre os ritos e costumes nativos composto por indígenas. Esses indivíduos, embora tenham escrito de forma forçada, possivelmente o fizeram com plena consciência do valor posterior desse legado para a compreensão e a conservação de sua cultura.
Diversos outros códices foram produzidos na região no mesmo período, dentre os quais destacamos o Chilam Balam, escrito pelos remanescentes maias entre os séculos XVI e XVII na Península de Iucatã, e o Popol Vuh, de autoria anônima, mas sabidamente produzido por um ou mais indivíduos quichés da Guatemala, possivelmente no ano de 1554. O estudo dessas obras revela que, embora aquelas sociedades fossem letradas em algum nível, eram notadamente marcadas pela oralidade. É o que conclui Antonio Mediz Bolio, tradutor do Chilam Balam para o espanhol: “[os textos] provêm diretamente de antigos cantos ou poemetos que de pai para filhos foram se perpetuando” (CHILAM BALAM, 1980EL LIBRO DE CHILAM BALAM. Tradução de Antonio Mediz Bolio. San José de Costa Rica: Lehman, 1980., p. 8, tradução nossa11 11 No original: “Sin duda alguna, los textos [...] provienen directamente de antiguos cantos o relaciones poemáticas, que de padres a hijos fueron bajando”. ). Para o tradutor, a transmissão oral perdurou até a dominação espanhola, quando alguns indivíduos, provavelmente sacerdotes, aprenderam a escrever com caracteres europeus.
Também quanto ao Popol Vuh, traduzido em 2019 diretamente do quiché para o português, os comentadores e tradutores concluem tratar-se de obra de caráter oral, o que pode ser percebido pelas estruturas gramaticais predominantes típicas da fala, tais como paralelismos, difrasismos e pause phrasing. Na introdução da obra, escrita por Adrián Recinos, lê-se que “não pode ter existido durante muito tempo uma versão do Popol Vuh em forma literária fixa; e o mais provável é que tenha passado de boca em boca” (POPOL VUH, 2019POPOL VUH. Tradução de Josely Vianna. São Paulo: Editora Ubu, 2019., p. 57). Resta, então, a pergunta: o Popol Vuh que hoje conhecemos, escrito, é uma obra sobrevivente, ou seria, ao contrário, uma pá de cal que sepultou o verdadeiro Popol Vuh, visto que foi inevitavelmente produzido já sob a interferência colonial?
Independente da resposta a essa pergunta, o acesso tardio a tais obras do passado, além de ter contribuído para a escrita indígena e não indígena posterior, nos auxilia a compreender as culturas latino-americanas. Mostra-nos, ainda, que o isolamento intelectual imposto pelas coroas ibéricas acabou por perpetuar a iletralidade entre os colonos, fazendo com que as culturas orais, de origem indígena e africana, fossem, em alguma medida, absorvidas. Assim o demonstra Ángel Rama, em A cidade das letras (1985)RAMA, Ángel. A cidade das letras. Tradução: Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1985.: na história latino-americana, diz o autor, foram sendo outorgados privilégios aos indivíduos letrados. Carlos Pacheco, por sua vez, em La comarca oral (1992)PACHECO, Carlos. La comarca oral: la ficcionalizacion de la oralidad cultural en la narrativa latinoamericana contemporánea. Caracas: La Casa de Bello Ediciones, 1992., retoma a hipótese de Rama para estudar a oralidade nas obras de Juan Rulfo, João Guimarães Rosa e Augusto Roa Bastos, defendendo não ter havido “aculturação” nas sociedades latino-americanas, mas uma “transculturação”, isto é, haveria nessas sociedades, diferentemente das anglo-saxãs, interações culturais bi ou multidirecionais.
Também utilizou os estudos de Ángel Rama como fonte de pesquisa o argentino Néstor García Canclini. Na obra Culturas Híbridas (2008), o platense sustenta que uma das contradições latino-americanas foi a ocorrência do Modernismo – enquanto movimento artístico intelectual –, sem que tenha havido uma real modernização industrial da região durante o mesmo período. O autor compara o índice de analfabetismo existente na França durante o início do século XX com as mesmas estatísticas referentes ao Brasil, para concluir que, por aqui, a tiragem de um romance não superava a marca dos mil exemplares, dada a ausência de público leitor à época.
Trazendo os estudos de García Canclini para o tema de nossa pesquisa, podemos vislumbrar claramente por que a literatura e as artes indígenas demoraram para ganhar os mercados latino-americanos, quando em comparação com as produções assinadas pelos “parentes” norte-americanos. É que ainda hoje a América Latina se caracteriza pela quase inexistência de autores profissionais, visto que o consumo de livros se restringe praticamente às elites. Frente a esse analfabetismo generalizado, García Canclini endossa as conclusões de Rama e de Pacheco, cunhando o termo “hibridismo cultural” para justificar que os países latino-americanos são “resultado da sedimentação, justaposição e entrecruzamento de tradições indígenas (sobretudo nas áreas mesoamericana e andina), do hispanismo colonial católico e das ações políticas educativas e comunicacionais modernas” (GARCÍA CANCLINI, 2008GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas. Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: Edusp, 2008., p. 73).
No que tange à escrita dos nativos, essa “miscigenação artística” torna até mesmo difícil classificar o que venha ou não a ser “indígena”, já que, mesmo as obras escritas pelos autóctones durante os primórdios da colonização, comportam uma absorção do modelo híbrido descrito por García Canclini. É o caso de Ollantay ou Apu Ollantay, obra de autoria desconhecida, escrita no século XVII possivelmente a partir de uma história inca tradicional. No formato de peça teatral, narra o amor proibido do personagem que dá nome à narrativa – um comandante das tropas do chefe Inca Pachácutec – por uma princesa. O Inca acaba por encerrar a própria filha e a neta, fruto do relacionamento interditado, em uma edificação. Ollantay, por sua vez, torna-se fugitivo e passa a agir como inimigo de Pachácutec. A paz só volta a reinar quinze anos depois, quando um novo Inca, filho do anterior, assume o poder. Este Inca seria Tupac Yupanqui, que governou entre 1456 e 1461, conforme nosso calendário.
A obra foi composta por escritor de “educação europeia”, conforme se lê na contracapa da edição assinada por César Miró e Sebastián Salazar Bondy (2008)MIRÓ, César; SALAZAR BONDY, Sebastián. Ollantay: drama incaico de la tradición oral. Lima: Ediciones Peisa, 2008.. Tendo sido, porém, escrita em quéchua, e remontando com muita fidelidade aos costumes indígenas, não há dúvidas de que o autor era também um profundo conhecedor das narrativas orais andinas, sendo, se não um nativo ameríndio, possivelmente um descendente. Interessante ainda notar que a peça, embora registrada em caracteres ocidentais, guarda indícios que remontam a um sistema de escrita ancestral utilizada pelos incas anteriormente à chegada europeia, chamado quipu, baseado em sequências mnemônicas registradas no formato de nós em cordas. Os padrões numéricos utilizados na composição de Ollantay seguem o sistema decimal e duodecimal dos quipus: revela doze personagens que atuam ao longo de quinze cenas, a partir de quinze mudanças de cenários etc., conforme conclui estudo empreendido por Cristiana Bertazoni (2014)BERTAZONI, Cristiana. Apu Ollantay: Inca Theatre as an example of the modes of interaction between the Incas and Western Amazonian societies. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 9, n. 1, p. 27-36, jan.-abr., 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/S1981-81222014000100003
https://doi.org/10.1590/S1981-8122201400...
.
Para diversos especialistas, as obras escritas em momento imediato à colonização não podem, contudo, ser consideradas “literatura indígena”, conforme conclui Heriberto Yépez sobre o códice Popol Vuh:
Tanto as fontes canonizadas como a perspectiva que se utiliza para mediá-las refletem o projeto de manter a voz-outra supostamente literária-náuatle como um relato complementar (e não radicalmente oposto) ao discurso europeu. Para validar este discurso (e as instruções que mantém), foi necessária a invenção do conceito de “literatura indígena” que já se canonizou e que certamente será muito difícil desconstruir, abolir ou superar
(POPOL VUH, 2019, p. 09).
José Alberto Barisone também rejeita a classificação “literatura indígena” para esses textos, porque o termo “literatura” não consegue dar conta de produções alheias aos critérios ocidentais, ainda que, no caso em questão, as obras fossem produzidas a partir de um processo de “adequação” às exigências da sociedade colonial. Barisone (2013, p. 161, tradução nossa)BARISONE, José Alberto. Problemas en el estudio de las literaturas indígenas. Zama. Revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana, v. 5, n. 5, p. 153-167, 2013. DOI: https://doi.org/10.34096/zama.a5.n5.1149
https://doi.org/10.34096/zama.a5.n5.1149...
revela, ainda, que a academia latino-americana tem se concentrado nesses textos, ignorando outras produções indígenas que, segundo ele, ocorreram em diversos outros momentos históricos: “faz-se necessário romper o cerco que significa limitar a atenção somente a obras canônicas […] para poder incluir produções indígenas de etapas posteriores, pois estas não cessaram no período colonial, mas continuaram se desenvolvendo em linhas diversas12
12
No original: “se hace necesario romper el cerco que significa limitar la atención solo a las obras canónicas […] para poder incluir las producciones indígenas de etapas posteriores, pues estas no cesaron en el período colonial, sino que continuaron desarrollándose en líneas diversas”.
”.
Embora os códices e outras obras escritas no século XVI não sejam considerados “literatura indígena” pelos motivos supracitados, para Emilio del Valle Escalante (2013)DEL VALLE ESCALANTE, Emilio (Ed.). Teorizando las literaturas indígenas contemporáneas. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2013., os relatos ancestrais escritos nos primórdios da colonização formam uma espécie de precedente epistemológico e cultural para os autores indígenas da atualidade. O autor situa em 1983 o início da literatura indígena contemporânea, a partir da publicação da obra maia-quiché Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Subsequentemente, diversas outras obras nativas seriam publicadas, surgindo, inclusive, prêmios específicos para elas. A despeito de sua heterogeneidade cultural, essas produções teriam por convergência o uso de idiomas colonizadores para a afirmação das identidades indígenas. Em detrimento dos romances e novelas, os contos curtos e os poemas (especialmente no caso do uso do quéchua) se tornam gêneros favoritos, por sua rápida absorção e disseminação entre o público.
Assim, importa ressaltar que, em certos países latino-americanos, há línguas nativas amplamente faladas pela população em geral, o que explica serem elas também utilizadas por autores não indígenas. Segundo Ana Matías Rendón (2019, p. 201)MATIÁS RENDON, ANA. La discursividad indígena: caminos de la palabra escrita. Cidade do México: Kumay Ediciones, 2019., é o que vemos justamente no Peru, onde a literatura quéchua não necessariamente se confunde com a runa (isto é, “indígena”). A produção runa, ela afirma, se caracteriza, ao contrário da não indígena, por exaltar e resgatar a ancestralidade inca, a exemplo das obras de Dida Aguirre Garcia, Ch’aska Anka Ninawaman e Fredy Almicar Roncalla. Alguns autores peruanos nativos não escrevem somente em quéchua, como Roncalla, autor de obras em espanhol e inglês, e Odi Gonzáles, que adota somente o espanhol.
Assim como ocorre no Canadá, a literatura indígena latino-americana se atrela à resistência dos povos originários, tendo por tema constante a tensão entre os estados-nações e os sujeitos periféricos. Como movimento literário, é igualmente herdeira das lutas civis de maio de 1968, apropriando-se muitas vezes do idioma colonizador para subvertê-lo. No caso particular da América Latina, essa literatura revela que a mestiçagem ou transculturação não bastou para suprimir o preconceito contra as culturas periféricas; pelo contrário, o reconhecimento dessa mestiçagem encontra resistência e segue vencida pela filiação histórica das elites locais às culturas ocidentais dominantes, às quais também se subalternizam.
Tal realidade, conforme veremos a seguir, se repete no Brasil, onde a literatura indígena contemporânea emergiu mais ou menos em concomitância com a de seus pares latino-americanos. Conforme vimos, se, durante os primórdios da colonização, os nativos escreveram sob o jugo do clero espanhol, em tempos recentes, tais produções se tornaram matéria-prima para a escrita de autoria indígena. Também no “Gigante dos Trópicos” os mecanismos de controle ocidental são subvertidos em prol da causa coletiva, o que se reflete na aparente aceitação de critérios editoriais e sua posterior subversão política. Como veremos, a literatura indígena brasileira, como aquelas produzidas em outras partes, extravasa as fronteiras estatais, não se inscrevendo no establishment.
4. O CANTO DO UIRAPURU
A literatura indígena brasileira contemporânea, segundo consenso dos estudiosos e autores da área (DORRICO et al., 2018DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.), é oficialmente inaugurada em 1980, com a publicação de Antes o mundo não existia, dos autores desanas Umusi Parõkumu e Tõramu Kehíri, mas só a partir dos anos 1990 ganhou maior notoriedade. Naquela década e na subsequente, destacaram-se os escritores da chamada primeira geração da literatura nativa, dentre os quais citamos Daniel Munduruku, Kaka Werá Jecupé, Ely Macuxi, Graça Graúna, Eliane Potiguara, Olívio Jekupé e Ailton Krenak. Assim como ocorreu nos contextos norte-americano e hispano-americano, no Brasil a escrita ocidental anteriormente se apropriara dos cantos e histórias nativas com fins colonialistas, a exemplo dos registros de padre Anchieta (século XVI) e de Theodor Koch-Grünberg (século XX).
Surpreende, no entanto, que somente no nosso século a produção artística dos povos originários tenha começado finalmente a chamar a atenção de um público mais amplo e da crítica especializada. Nesse cenário, assistimos à premiação, no campo da literatura, de Daniel Munduruku (Prêmio Jabuti) e de Ailton Krenak (Prêmio Juca Pato), que se tornam, também, escritores best-sellers. Esse movimento não acontece sem contradições, dentre as quais citamos a recente aquisição das obras do artista visual Jaider Esbell pela Galeria Pompidou, de Paris, e a sua consequente valorização no mercado, transformando-o no maior destaque da 34ª Bienal de São Paulo.
Atendo-nos, porém, ao âmbito da literatura, notamos, em nossa pesquisa, que as publicações indígenas brasileiras são com frequência associadas ao público infantojuvenil, quando esse tipo de classificação etária é alheia às culturas originárias. Afinal, o estudo das narrativas tradicionais de todo o território aqui tratado como Abya Yala nos revela que, se ao Norte “os estilos dos contos fluem entre si livremente e a diferença entre narrativas folclóricas e mitos marcante na cultura ocidental é rompida quase que completamente pelos indígenas norte-americanos” (FELDMANN, apud ROEMER, 1983ROEMER, Kenneth Morrison. Native American Oral Narratives: Context and Continuity. In: SWANN, Brian (Org.). Smoothing the Ground: Essays on Native American Oral Literature. Berkeley: University of California Press, 1983., p. 41, tradução nossa13 13 No original: “classes of tales flow freely into one another, and the difference between folktales and myths characteristic of Western cultures breaks down almost completely for the North American Indian”. ), também os nativos da Amazônia não encaixam suas histórias em gêneros literários. Pela leitura de Memórias dos brasileiros – O guaraná dos mawés, conhecemos o surgimento do guaraná segundo o grupo étnico supramencionado, e concluímos tratar-se de narrativa que comporta, além da mítica, elementos de botânica e teor pedagógico (busca ensinar os mais jovens a respeito dos assuntos mencionados).
Esse problema concernente à classificação da literatura indígena também se apresenta nos Estados Unidos, conforme notou Roemer (1983, p. 47, tradução nossa)ROEMER, Kenneth Morrison. Native American Oral Narratives: Context and Continuity. In: SWANN, Brian (Org.). Smoothing the Ground: Essays on Native American Oral Literature. Berkeley: University of California Press, 1983.: “Se os não indígenas estivessem conscientes dos vários contextos das narrativas orais dos povos nativos norte-americanos, estariam menos propensos a entendê-los como contos infantis ou superstições14 14 No original: “If non-Indians were aware of the various contexts of Native American oral narratives, they would be less likely to perceive Indian stories as childish fairy tales and superstitions”. ”. A fala do autor nos ajuda a entender por que a literatura indígena vem sendo associada à literatura infantil pelo imaginário social brasileiro: é que, assim como as obras destinadas às crianças, pertenceria a uma literatura em geral considerada “menor” ou “menos relevante” pela crítica, criada com base na oralidade porque imaginada para ser lida em voz alta e rigidamente relacionada com os projetos pedagógicos da sociedade.
Assim como ocorreu nas outras “Américas”, portanto, também no Brasil os povos originários estabeleceram uma espécie de “negociação tácita”, pela qual o indígena discorda dos critérios ocidentais, mas a eles se submete quase que por falta de opção, buscando burlar as “normas” à sua maneira. Pois, afinal, quando se refere ao desprezo intelectual pela literatura infantojuvenil como campo de estudo, Peter Hunt assinala que os livros dedicados às crianças não ocupam um espaço de estudos relevantes dentro da academia, mas “essa marginalização apresenta certas vantagens: porque é culturalmente pouco ostensiva, a ‘literatura infantil’ não se tornou exclusividade de nenhum grupo ou disciplina” (HUNT, 2002HUNT, Peter (Ed.). Understanding Children Literature. Abingdon: Routledge, 2002., p. 2, tradução nossa15 15 No original: “this marginalisation has had certain advantages; because it has been culturally low profile, ‘children’s literature’ has not become the ‘property’ of any group or discipline”. ). Haveria, pois, uma vantagem para os indígenas nesse sentido, porque se veriam livres de campos acadêmicos tradicionais, conhecidamente mais rígidos e menos maleáveis do que o da literatura infantil.
Dentre esses aspectos vantajosos, destacamos que a literatura destinada a jovens e crianças é segmento do ramo editorial que mais vende no Brasil, ganhando, por isso, maior visibilidade junto à mídia e ao público. Em 2015, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros firmou uma parceria com a empresa Nielsen, especialista em pesquisas de mercado, a fim de precisar o perfil editorial do país. Segundo dados relativos ao ano de 2016, os livros infantis, juvenis e didáticos representavam uma gorda fatia do segmento, compondo 23,03% dos faturamentos. Outras categorias igualmente consideradas expressivas foram: “não ficção trade”16 16 Termo que designa os livros de colorir para adultos. (25,09%), “não ficção especialista”17 17 Outrora intitulados “livros técnicos”. (28,58%) e livros de ficção (23,30%). Investe-se nesse setor principalmente porque “[a] pedagogia sempre desempenhou um importante papel em tudo o que é criado (por adultos) para crianças” (OITTINEN, 2000OITTINEN, Riitta. Translating for children. Abingdon: Routledge, 2000., p. 43, tradução nossa18 18 No original: “Pedagogy has always played an important part in anything created (by grown-ups) to[sic] children”. ), ou seja, existe uma demanda estatal por publicações desse gênero, adotadas como obras paradidáticas em escolas públicas e privadas do país, dado seu valor educativo.
Em parte, essa percepção coincide com o ideal, defendido por alguns indígenas, de que o movimento político organizado pelos povos originários possui um viés pedagógico, conforme revela a tese de doutorado do escritor Daniel Munduruku, intitulada O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970 - 1990). Para o autor, o movimento em questão objetiva oferecer um novo mundo para o Brasil:
Talvez a maior contribuição que o movimento indígena ofereceu à sociedade brasileira foi o de revelar – e, portanto, denunciar a existência da diversidade cultural e linguística. O que antes era visto somente como uma presença genérica passou a ser encarado como um fato real, obrigando a política oficial a reconhecer os diversos povos como experiências coletivas e como frontalmente diferentes da concepção de unidade nacional
(MUNDURUKU, 2012MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970 - 1990). São Paulo: Paulinas, 2012., p. 222).
Esse movimento político mencionado por Daniel Munduruku contou com o apoio de várias entidades, a exemplo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Organização dos Povos Indígenas. Um dos momentos decisivos para a história nacional foi, inclusive, decorrente dessa articulação, quando, em 1987, Ailton Krenak fez, no plenário do Congresso Nacional, a defesa pública de texto que garantisse os direitos dos povos indígenas na Constituição (então em elaboração). Desde então, outras normas passam a ser formuladas no sentido de ampliar o processo de democratização do país, como a própria lei de diretrizes e bases da educação (LDB), lei 9.394, publicada no ano de 1996, que previu a inserção das contribuições de matrizes africanas e indígenas no ensino básico.
Vale ressaltar que a supracitada lei foi posteriormente aprimorada pelas leis 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, tornando-se um marco, ao impor o estudo formal de temas até então renegados: as culturas de matrizes indígenas e africanas. A literatura indígena inicia-se, assim, em período concomitante à implementação de um projeto pedagógico, sendo rapidamente absorvida por esse. Respaldamos essa teoria no fato de que, no ano de 2006, o governo brasileiro criou o Plano Nacional do Livro, cuja finalidade seria, no dizer de Lajolo (2010, p. 106)LAJOLO, Marisa. Literatura infantil brasileira e estudos literários. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 36, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/2316-4018367.
https://doi.org/10.1590/2316-4018367...
, “assegurar a democratização do acesso ao livro, o fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro como fator relevante para o incremento da produção intelectual e o desenvolvimento da economia nacional”. Abriam-se, pois, as portas para um nicho editorial específico, tornando-se quase inevitável a associação entre as obras indígenas e a literatura infantojuvenil. Contudo, assim como o movimento indígena é dotado de um “caráter pedagógico” (MUNDURUKU, 2012MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970 - 1990). São Paulo: Paulinas, 2012., p. 222), também a literatura nativa é política, sendo vista como um caminho para pacificar a sociedade através da educação das crianças “brancas”.
Nesse contexto, quase todos os autores indígenas concordam quanto ao valor educativo de seus trabalhos, dentro e fora das comunidades onde vivem. Márcia Kambeba, por exemplo, argumenta que “[a literatura indígena] nos dá possibilidades para que, fora da aldeia, alunos e pessoas possam se aprofundar em determinado assunto ou mesmo saber como cada povo vive, resiste e defende seu território” (DORRICO et al., 2018DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018., p. 40). Já Ely Macuxi se refere à literatura indígena como uma “oportunidade de contarmos uma outra história sobre nossas tradições que foram desvirtuadas por estranhos” (DORRICO et al., p. 68DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.). A opinião de Cristino Wapichana pouco difere: “A importância para a sociedade brasileira é que, com essas literaturas, se conhece essa diversidade, e quem sabe a partir daí começam a ter um outro olhar, que as sociedades indígenas são um povo, uma nação indígena (DORRICO et al., p. 76DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.).
Embora de acordo com a associação entre suas publicações e a pedagogia, alguns escritores indígenas, no entanto, se declararam contrários à classificação dessas obras com base em critérios ocidentais, a exemplo de Ely Makuxi:
Considerando que as pessoas estejam entendendo as ideias e questões apresentadas por este texto, em sua composição final, propõe-se uma projeção, ou melhor, uma suposição, uma maldade que deveria assustar até a Malévola do filme da Disney: levando-se em conta o poder e a influência das editoras junto aos governos para a venda de livros didáticos e paradidáticos, imagina-se que essa literatura chegue até as escolas indígenas e seja utilizada como referencial sobre culturas indígenas para os indígenas?
(DORRICO et al., p.72DORRICO, Julie. et al. (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.).
O escritor ressalta, portanto, que a literatura indígena não é suficiente para “letrar” os povos não indígenas acerca das culturas originárias. Com esse raciocínio, Ely Macuxi nos leva a contestar a adoção inadvertida dessas obras pelas escolas, pois, afinal, sua leitura descontextualizada poderá gerar novos estereótipos, bem como interpretações equivocadas sobre essas culturas.
Dessa maneira, a fim de aprofundar nossa análise dessas publicações, buscaremos embasamento em estudos filosóficos e antropológicos que justifiquem nossas conclusões. Por exemplo, constatamos, nas narrativas brasileiras estudadas, uma fluidez que nos impede de classificá-las em quaisquer dos gêneros literários ocidentais. Notamos, ainda, a recorrência de personagens que se transformam de humanos em animais ou elementos da natureza (lua, estrela, rio etc.) e vice-versa. Esses personagens, que nomeamos “metamorfos ameríndios”, também aparecem nas obras nativas hispano-americanas e norte-americanas, onde são nomeados tricksters. Não se confundem, pois, com obras de fantasia, atrelando-se à própria ontologia desses povos, conforme revelam Eduardo Viveiros de Castro (2016)VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac Naif, 2016. e Michael Pomedli (2014)POMEDLI, Michael. Living with Animals: Ojibwe Spirit Powers. Toronto: University of Toronto Press, 2014..
Em Living with animals – ojibwe spirits powers, Pomedli (2014)POMEDLI, Michael. Living with Animals: Ojibwe Spirit Powers. Toronto: University of Toronto Press, 2014. analisa como a figura do animal é lida pelo povo ojíbua, a partir do estudo de narrativas orais, bem como da leitura de histórias registradas por autores pertencentes a esse grupo ou por outros pesquisadores preteritamente interessados no tema. Essas histórias, chamadas aadizookanag no idioma anishinaabe, são consideradas sacras pelo povo em questão, daí as dificuldades do autor no sentido de achar um campo acadêmico para seu estudo: teoria da literatura, filosofia, antropologia ou teologia? Vemos, portanto, que, para as culturas nativas, a ficção e a realidade não são tão separadas e aquilo que entendemos como literatura está permeado por aspectos que extrapolam o campo mítico, inserindo-se também na esfera do misticismo.
Essa mesma plasticidade marca a própria visão indígena do mundo e das relações sociais. No dizer de Michael Pomedli, os relatos indígenas indiciam a percepção de que a realidade é uma entidade complexa, isto é, tudo aquilo que é, existe não como definição única e estável, mas como entendimentos múltiplos e possíveis, a depender do ponto de vista. Assim, o mundo, a partir da percepção de um observador, é um, mas, fora desta será de outra natureza: a forma como um homem enxerga um fato, por exemplo, não será idêntica à percepção de um urso sobre o mesmo fato. Desse modo, as ideias do observador sempre podem ser postas em xeque, já que não estabelecem, necessariamente, uma verdade conclusiva. O autor observa, ainda, que, para os ojíbuas, os animais possuem humanidade, o que pode explicar a temática das “metamorfoses ameríndias” sob uma perspectiva mais cosmogônica:
Nesta história de urso, os ojíbuas entendem a afinidade entre animais e humanos no contexto de gênesis ou histórias ancestrais. Conforme tais histórias, os animais no passado tinham características que hoje consideramos exclusivamente humanas. Conforme o tempo passou, porém, os animais perderam muitas dessas características. Os animais no passado, portanto, eram humanos ou se assemelhavam a seres humanos; a separação homem-animal ocorreu depois – uma ideia bastante diferente das teorias evolutivas do Ocidente
(POMEDLI, 2014POMEDLI, Michael. Living with Animals: Ojibwe Spirit Powers. Toronto: University of Toronto Press, 2014., p. XV, tradução nossa).19 19 No original: “In this bear story the Ojibwe understand the affinity between animals and humans in the context of origins or ancient stories. According to those stories, animals in old times had characteristics that today we consider specifically human. As time passed, however, animals lost most of these characteristics. Animals in the past, then, were humans or human-like; the animal-human separation came later – an idea quite different from Western evolutionary theories”.
Essas conclusões se equiparam às do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, quando ele se refere à cosmogonia dos povos originários da Amazônia. Viveiros de Castro também percebeu essa maleabilidade entre entidades humanas e não humanas e visíveis e invisíveis. Para o pesquisador, os papéis individuais e sociais dos membros das comunidades que estudou, muitas vezes, também se caracterizam por não serem entidades fixas. Os status variam conforme as passagens de rituais, a captura de inimigos, o destaque na manipulação de ervas, dentre outras situações culturais específicas. Com base no estudo de diversos outros autores e de sua própria vivência entre esses povos, Viveiros de Castro explica como essas relações de constante transformação social, nas quais os papéis e histórias de cada sujeito são mutáveis, encontra paralelo nas filosofias nativas.
A convergência entre as análises de Viveiros de Castro e Pomedli não explica as alteridades de todos os multiversos das incontáveis comunidades nativas de Abya Yala, mas aponta para um problema antes levantado por Ely Macuxi e outros autores indígenas: a leitura descontextualizada dessas narrativas pode levar o leitor desavisado a compreensões equivocadas. Não é desejável, então, que as histórias nativas se tornem “apropriadas” para as crianças não indígenas brasileiras, sem que haja uma preocupação real por parte das escolas em conhecer esses mundos em profundidade. Quanto ao controle que se faz valer sobre a produção dessa literatura, apesar da emergência de editoras indígenas também no contexto nacional – como a Uka Editorial e a Pachamama Editora –, ainda prevalece a ideia de que essas obras se destinam a suprir os anseios da elite intelectual. Para que o futuro não passe “em branco”, por conseguinte, é importante que essas vozes, por tanto tempo silenciadas, não sejam agora ouvidas apenas pelas crianças, justamente o grupo mais apolítico e pacífico de nossa sociedade.
5. REVOADA
Na análise comparativa que empreendemos a fim de investigar as condições de surgimento das literaturas indígenas nas Américas, encontramos diferenças e semelhanças. A começar pelas disparidades, é notável que nos Estados Unidos e no Canadá os nativos tenham começado a publicar livros entre os séculos XVIII e XIX. Essas primeiras obras, contudo, muitas vezes são excluídas dos estudos indígenas porque constituem, quase sempre, autobiografias condicionadas pelo olhar colonialista, visto que os autores, recém-convertidos ao cristianismo, tentavam comprovar, por meio de seus testemunhos, a supremacia dos valores ocidentais frente às culturas originárias.
Também na América Hispânica, onde os indígenas, aliás, começaram a escrever ainda no século XVI em caracteres ocidentais, os primeiros registros não integram o corpus literário indígena, visto que os textos em questão sequer se pretendiam literários. Havia, pelo contrário, a intenção de registrar as culturas originárias para fins colonialistas, sobretudo a catequese e, por parte dos indígenas, é possível que eles tenham entendido a relevância daquelas produções para a posterioridade. Não deixa de ser relevante, também, que esses escritos hoje sirvam de inspiração para a literatura indígena latino-americana, sobretudo pelo seu caráter histórico. Vemos algo parecido ocorrer no contexto brasileiro, conforme diz Bete Wapichana, quando se refere à etnografia Vom Roraima zum Orinoco (1872), de Theodor Koch-Grünberg: “é muito importante que o livro tenha sido escrito. Teríamos perdido toda a nossa história. Porque, enquanto os parentes estavam lutando para sobreviver, as histórias foram se perdendo. [...] Nas escolas indígenas, hoje, essa é a referência que temos” (TAUPERANG et al., 2019TAUPERANG et al. Makunaimã: o mito através do tempo. São Paulo: Elefante, 2019., p. 56-57).
Em todos os contextos analisados, portanto, é pacífico que a literatura indígena se iniciou entre os anos 1960 (Estados Unidos), 1970 (Canadá) e 1980 (América Latina, com a publicação de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia), sendo notável a influência dos movimentos políticos empreendidos pelas sociedades civis naquele momento. Em todos os casos, observamos também a influência do mercado editorial na definição dessas primeiras publicações. No caso canadense, analisamos duas obras lançadas quase que concomitantemente: Halfbreed, de Maria Campbell, e Forbidden Voice, de Alma Greene. Embora os dois livros tenham sido escritos por mulheres indígenas e tratem da questão do feminino sob a ótica indígena, Halbreed alcançou um sucesso estrondoso, enquanto Forbidden Voice permanece subestimado em seu valor literário. Isso ocorreu, segundo concluímos, porque Campbell, ao contrário de Greene, adotou a autobiografia, gênero bastante caro aos norte-americanos.
A influência mercadológica sobre as produções hispano-americanas não foi analisada, mas, no caso brasileiro, também a indústria editorial tenta definir o que merece ou não destaque nas prateleiras das livrarias. Chamou-nos a atenção, nesse sentido, que a produção dos autores nativos brasileiros esteja atrelada à literatura infantojuvenil. Nosso estudo mostrou que os critérios de classificação não são claros, ficando a dúvida se os livros são exclusivamente dirigidos às crianças, ou se foram assim arrolados pelo mercado editorial. Outros fatores podem contribuir para essa confusão, como o fato de os livros indígenas serem geralmente ilustrados, além de trazerem fortes marcas de oralidade. De todo modo, ficou patente que, para alguns autores indígenas, as narrativas tradicionais não se enquadram nas classificações ocidentais, revelando-nos que estamos ainda distantes de uma compreensão mais abrangente sobre essas culturas.
Last but not least, nosso estudo não pretende derrubar a concepção já canônica de que as literaturas indígenas existem, sobretudo, como manifestações contemporâneas que emergiram nas últimas décadas do século XX. Apenas pretendemos ressaltar que as manifestações anteriores a esse período também merecem ser vistas, sobretudo com um olhar que leve em consideração a posição de agenciamento à qual aquelas comunidades estavam sujeitas. Desse modo, a escrita “forçada” do Códice Florentino também representa uma consciência daqueles povos em construir, para a posteridade, um referencial cultural capaz de eternizar seus valores, assim como a escrita indígena norte-americana oitocentista, embora “condicionada”, representava, naquele momento, uma afirmação viável daqueles sujeitos. Em suma, é possível que mesmo hoje os autores indígenas, em alguns contextos, ainda estejam negociando formas de publicar suas histórias dentro de parâmetros aceitáveis pelo mainstream. Isso, contudo, não esvazia essas obras de sua indigeneidade e tampouco transforma os autores em agentes passivos, revelando, pelo contrário, a capacidade dos povos originários em continuar subvertendo a seu favor contextos que lhes são notoriamente adversos.
Notas
-
1
Pesquisa realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
-
2
Em inglês o nome da etnia é “Ottawa”. Neste artigo, adotamos sempre as grafias correntes em português, quando existentes.
-
3
Não investigamos como se deu essa produção literária nas regiões francófonas da América do Norte.
-
4
No original: “Early work by Native writers was, in the main, limited to autobiography, histories, diaries, and journals”.
-
5
No original: “Nineteenth-century Native American literature is a literature of transition, the bridge between an oral tradition that flourished for centuries before the arrival of Europeans and the emergence of contemporary fiction in the 1960s, known as the Native American Renaissance”.
-
6
Em inglês escreve-se “Cherokee”.
-
7
No original: “Throughout Canada’s colonial history, Indigenous peoples were progressively subjugated by the Canadian state and forcibly included in the citizenship regime”.
-
8
No original: “They [Norton and Scott’s stories] tell us that Romantic Indians were more or less stereotypical – at their crudes they were clichéd examples of noble or ignoble savagery but at their most complex, they were ambiguous, uncanny, disturbing. They tell us that Romantic Indians conditioned views of real Indians on both sides of the Atlantic, in some instances influencing policy decisions of colonial officials. And they tell us that they gave some Indians opportunities to represent themselves in terms likely to be powerful for whites but simultaneous restrictive for the Indians themselves – and for that this very reason these representations sometimes had to be resisted”.
-
9
Há muitos nomes indígenas para o local, cujas traduções variam. Para o Vale Cuauhtinchan, situado no México, por exemplo, atribuem-se os significados: “onde moram homens valentes e fortes”, “lugar onde se encontram excelentes jaguatiricas e águias guerreiras”, “aqueles com espírito invencível” ou “representantes do Sol na Terra”, significados ligados à elite guerreira mexica que exercia atividades em Malinalco. Outra toponomia reconhecida para a mesma região é Texcaltepec, que significa “Monte Rochoso”.
-
10
No original: “Vosotros, los habitadores de esta Nueva España […] sabed que todos havéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría en que os dexaron vuestros antepasados, como está claro por vuestras escripturas y pinturas, y ritos idolátricos”.
-
11
No original: “Sin duda alguna, los textos [...] provienen directamente de antiguos cantos o relaciones poemáticas, que de padres a hijos fueron bajando”.
-
12
No original: “se hace necesario romper el cerco que significa limitar la atención solo a las obras canónicas […] para poder incluir las producciones indígenas de etapas posteriores, pues estas no cesaron en el período colonial, sino que continuaron desarrollándose en líneas diversas”.
-
13
No original: “classes of tales flow freely into one another, and the difference between folktales and myths characteristic of Western cultures breaks down almost completely for the North American Indian”.
-
14
No original: “If non-Indians were aware of the various contexts of Native American oral narratives, they would be less likely to perceive Indian stories as childish fairy tales and superstitions”.
-
15
No original: “this marginalisation has had certain advantages; because it has been culturally low profile, ‘children’s literature’ has not become the ‘property’ of any group or discipline”.
-
16
Termo que designa os livros de colorir para adultos.
-
17
Outrora intitulados “livros técnicos”.
-
18
No original: “Pedagogy has always played an important part in anything created (by grown-ups) to[sic] children”.
-
19
No original: “In this bear story the Ojibwe understand the affinity between animals and humans in the context of origins or ancient stories. According to those stories, animals in old times had characteristics that today we consider specifically human. As time passed, however, animals lost most of these characteristics. Animals in the past, then, were humans or human-like; the animal-human separation came later – an idea quite different from Western evolutionary theories”.
Referências
- BÁEZ, Fernando. História universal da destruição dos livros: das tábuas sumérias à Guerra do Iraque. Tradução de Leo Schlafman. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.
- BARISONE, José Alberto. Problemas en el estudio de las literaturas indígenas. Zama. Revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana, v. 5, n. 5, p. 153-167, 2013. DOI: https://doi.org/10.34096/zama.a5.n5.1149
» https://doi.org/10.34096/zama.a5.n5.1149 - BASTOS, Elide Rugai. A história nunca se fecha. Sociologia & Antropologia, v. 10, n. 2: p. 677-694, maio.-ago., 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10214
» https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10214 - BERTAZONI, Cristiana. Apu Ollantay: Inca Theatre as an example of the modes of interaction between the Incas and Western Amazonian societies. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 9, n. 1, p. 27-36, jan.-abr., 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/S1981-81222014000100003
» https://doi.org/10.1590/S1981-81222014000100003 - CALAVIA SAÉZ, Oscar. Autobiografia e sujeito histórico indígena: considerações preliminares. Novos Estudos, v. 76, 2006. Disponível em: http://novosestudos.uol.com.br/v1/Issues/index Acesso em: 14 abr. 2017.
» http://novosestudos.uol.com.br/v1/Issues/index - CAMPBELL, Maria. Halfbreed Lincoln e Londres: University of Nebraska Press, 1973.
- DEL VALLE ESCALANTE, Emilio (Ed.). Teorizando las literaturas indígenas contemporáneas. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2013.
- DORRICO, Julie. et al (Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018.
- EL LIBRO DE CHILAM BALAM. Tradução de Antonio Mediz Bolio. San José de Costa Rica: Lehman, 1980.
- ENCYCLOPEDIA. Disponível em: https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/native-american-literature Acesso em: 09 jan. 2019.
» https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/native-american-literature - FAGAN, Kristina. et al Reading the reception of Maria Campbell’s Halfbreed. The Canadian Journal of Native Studies, v. 29, p. 257-328, 2009. Disponível em: http://www3.brandonu.ca/cjns/29.1-2/17Halfbreed%20collaborative.pdf Acesso em: 23 abr. 2022.
» http://www3.brandonu.ca/cjns/29.1-2/17Halfbreed%20collaborative.pdf - FULFORD, Tim. Romantic Indians: Native Americans, British Literature and Transatlantic Culture 1756 – 1830. Londres: Oxford University Press, 2006.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: Edusp, 2008.
- GREENE, Alma. Forbidden Voice: Reflections of a Mohawak Indian. Toronto: Green Dragon Press, 1972.
- GRONDIN, Marcelo; VIEZZER, Moema. Abya Yala: genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Rio de Janeiro: Bambual, 2021.
- HUNT, Peter (Ed.). Understanding Children Literature Abingdon: Routledge, 2002.
- LAJOLO, Marisa. Literatura infantil brasileira e estudos literários. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 36, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/2316-4018367.
» https://doi.org/10.1590/2316-4018367 - MATIÁS RENDON, ANA. La discursividad indígena: caminos de la palabra escrita. Cidade do México: Kumay Ediciones, 2019.
- MIRÓ, César; SALAZAR BONDY, Sebastián. Ollantay: drama incaico de la tradición oral. Lima: Ediciones Peisa, 2008.
- MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970 - 1990). São Paulo: Paulinas, 2012.
- OITTINEN, Riitta. Translating for children Abingdon: Routledge, 2000.
- PACHECO, Carlos. La comarca oral: la ficcionalizacion de la oralidad cultural en la narrativa latinoamericana contemporánea. Caracas: La Casa de Bello Ediciones, 1992.
- PAPILLON, Martin. Structure, Agency, and the Reconfiguration of Indigenous Citizenship in Canada. In: PAQUET, Mireille; NAGELS, Nora; FOUROTM, Aude-Claire (Eds.). Citizenship as a Regime. Canadian and International Perspectives Montreal: McGill-Queen's Press, 2018.
- POMEDLI, Michael. Living with Animals: Ojibwe Spirit Powers. Toronto: University of Toronto Press, 2014.
- POPOL VUH. Tradução de Josely Vianna. São Paulo: Editora Ubu, 2019.
- RAMA, Ángel. A cidade das letras Tradução: Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- ROEMER, Kenneth Morrison. Native American Oral Narratives: Context and Continuity. In: SWANN, Brian (Org.). Smoothing the Ground: Essays on Native American Oral Literature. Berkeley: University of California Press, 1983.
- SAHÁGUN, Frei Bernardino de. História general de las cosas de Nueva España. Tomo 1. Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, Oaxaca, 1829.
- TAUPERANG et al Makunaimã: o mito através do tempo. São Paulo: Elefante, 2019.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da alma selvagem São Paulo: Cosac Naif, 2016.
- WIGET, Andrew (ed). Dictionary of Native American Literature New York and London: Garland Publishing, INC, 1994.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
07 Out 2022 -
Data do Fascículo
May-Aug 2022
Histórico
-
Recebido
20 Nov 2021 -
Aceito
21 Mar 2022