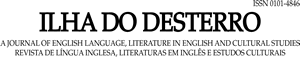Resumo
Com vistas a refletir sobre horizontes de transformação social possíveis, este texto reúne algumas considerações ontológicas, epistemológicas e metodológicas referentes ao trabalho crítico com a linguagem conectada à questão cidadã. Trata-se, pois, de um convite a dialogar sobre discurso e mobilização a partir dos Estudos Críticos do Discurso (RESENDE, 2008; PARDO, 2011; SANTOS, 2017; 2019). Nesta reflexão, trago algumas observações sobre o entendimento discursivo, por meio dos conceitos autorais da Aquilombagem Crítica (Santos, 2019; 2021) e das Redes Pragmáticas (SANTOS, 2017; 2019), e sua emergência em tempos de crise mediados por tecnologias digitais, novos espaços de embate pelo poder de forte influência na manutenção e no apagamento de existências sociais. Enfim, aponto o papel central do discurso para possíveis reexistências.
Palavras-chave:
Estudos Críticos do Discurso; Redes Pragmáticas; Covid-19; tecnologia; cidadania
Abstract
Aiming to reflect on possible horizons for social transformation, the present work brings together some ontological, epistemological and methodological considerations regarding critical work with language connected to the citizen issue. It is, therefore, an invitation to an open dialogue about discourse and mobilization based on Critical Discourse Studies (RESENDE, 2008; PARDO, 2011; SANTOS, 2017; 2019). Thus, some observations are shared based on the comprehension of discourse, through some original concepts (i.e., Critical Aquilombage (Santos, 2019; 2021) and Pragmatic Networks (SANTOS, 2017; 2019), and on the necessity of a discursive-oriented practice in times of crisis – which are mediated by digital technologies, new spaces of struggle for the power that influences social groups in the maintenance and erasure of their social existences.
Keywords
Critical Discourse Studies; Pragmatic Networks; Covid-19; technology; citizenship
Introdução
Debates sobre tecnologia e, especialmente, sobre o poder de sua faceta digital abundam nos últimos vinte anos. Cronologicamente, é no período que abarca o fim dos anos 1990 e 2000 que se pôde de fato observar uma popularização do acesso a sistemas, dispositivos e, consequentemente, modos de ser, em uma realidade peculiarmente ‘facilitada’.
Já desde essa perspectiva, é possível afirmar que se torna impraticável, a partir da lógica da sociedade do consumo, estar alijado ou alijada de algum recurso tecnológico digital e não sofrer cobranças pelo ‘sacrilégio’ de optar por uma vida livre, por exemplo, das redes sociais. Desse modo, é especialmente acerca do tema da abstração tecnológica como estratégia discursiva que se estrutura esta reflexão. A ideia é que aqui seja compartilhado como os Estudos Críticos do Discurso podem ser um potente recurso para encararmos, como investigadores e investigadoras com engajamento crítico-social, os diversos contornos de opressão que se disseminam inclusive pela manipulação da linguagem.
Para tanto, aqui, interessa-me refletir sobre como a tecnologia digital tem servido como instrumento eficaz para estratégias de colonialidade e como isso se agudiza em contextos de crise, como o da pandemia da Covid-19. Assim, na primeira parte da discussão, estabeleço a relação entre a ótica crítica sobre a linguagem, a partir do que chamo de entendimento triádico do discurso, e sua importância para o trabalho social. Na seção de número dois, apresento uma análise de conjuntura que une o contexto de pandemia da Covid-19 com o uso estratégico da tecnologia para a construção de identidades cidadãs, a partir da colonialidade. Na seção três, retomo o debate sobre os estudos do discurso de perspectiva crítica, introduzindo minha contribuição ontológico-epistemológica como pesquisador da área: as noções de existência, resistência e (a atualização de) reexistência como meio de combate à inexistenciação. Na última seção, a partir do debate conceitual e contextual de todo o texto, apresento o construto teórico-metodológico das Redes Pragmáticas como possibilidade de intervenção social coletiva e articulada por meio do trabalho com gêneros discursivos e projetos plurais.
Desejo uma leitura agradável, atenta e crítica, a fim de que possamos unir vozes e forças rumo à consolidação da cidadania.
1. Discurso e tecnologia digital: propondo novas dimensões de análise
Como já discutido por Santos (2017)SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017., o trabalho com o discurso é um empreendimento que deve levar em consideração variados elementos da vida social – tais como crenças e valores socioculturalmente construídos e constitutivos de fenômenos mentais, além de atividades que não necessariamente impliquem linguagem/interação (como movimentos mecânico-biológicos relativos a piscar ou bocejar, por exemplo), presentes na configuração de eventos os quais nós, como analistas, escrutinamos.
É central, pois, trazer para a luz do debate discursivo o mundo social que tem sido configurado desde o que chamo de desencantamento crítico da Internet. Mais especificamente, refiro-me ao momento no qual as pessoas atentas às estratégias colonizadoras envernizadas pelos paradiscursos da ‘facilidade’, da ‘velocidade’ e da ‘comodidade’, encapsulados pelo discurso do desenvolvimento (ou desenvolvimentista), passamos a observar como a tecnologia digital tem sido canalizada para estratégias de poder que repercutem diretamente nas existências de grupos sociais.
Antes de estabelecer a conexão entre tecnologia e poder discursivo, cabe localizar epistemologicamente o debate aqui proposto no que toca ao entendimento de discurso. Para efeitos desta reflexão, o entendimento de discurso reside na perspectiva dos Estudos Críticos do Discurso (ECD) de perspectiva latino-americana (RESENDE, 2008RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008.; PARDO, 2011PARDO, M. L. Teoria y metodologia de la investigación lingüística: método sincrónico-diacrónico de análisis lingüísitco de textos. Buenos Aires: Tersites, 2011.; SANTOS, 2013; 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.; 2019; RESENDE; REGIS, 2017RESENDE, V. M.; REGIS, J. F. S. (Org.). Outras perspectivas em análise de discurso crítica. Campinas: Pontes Editores, 2017.), os quais se caracterizam por aproximar de maneira sensível linguagem e sociedade, em perspectiva de análise contextual. O esforço epistemológico-metodológico dos ECD trabalhados na perspectiva latino-americana caracteriza-se por ser voltado a problemáticas sociais que nos caracterizam de forma bastante particular. Em outras palavras, são pesquisas inspiradoras que trazem luz para temas nevrálgicos como pobreza extrema (ROSA, 2005ROSA, C. M. M. Vidas de rua. São Paulo: Hucitec: Associação Rede Rua, 2005.; RESENDE, 2008RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008.; PEREIRA, 2008PEREIRA, C. P. Rua sem saída: um estudo sobre a relação entre o Estado e a população de rua de Brasília. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Política Social, 2008.; SILVA, 2009SILVA, M. L. L. Trabalho e população em situações de rua no Brasil. São Paulo: Cortez, 2009.; MONTECINO, 2010MONTECINO, L. (Org.). Discurso, pobreza y exclusión en América Latina. Santiago: Editorial Cuarto Próprio, 2010.; MELO, 2011MELO, T. H. A. G. A rua e a sociedade: articulações políticas, socialidade e a luta por reconhecimento da população em situação de rua. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.; 2017MELO, T. H. A. G. Política dos “improváveis”: Percursos de engajamento militante no Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Tese (Mestrado em Antropologia). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.; SANTOS, 2013; 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.; 2019; RESENDE; SILVA, 2017RESENDE, V. M.; SILVA, R. B. (Org.). Diálogos sobre resistência: organização coletiva e produção de conhecimento engajado. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017.), questões raciais (BENTO, 2002BENTO, M. A. S. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público”. Tese (Doutorado em Psicologia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.; CARNEIRO, 2005CARNEIRO, A. S. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese (Doutorado em Educação). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.; MUNIZ, 2009MUNIZ, K. S. Linguagem e identificação: uma contribuição para o debate sobre ações afirmativas para negros no Brasil. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.; MBEMBE, 2018; ALMEIDA, 2019ALMEIDA, S. L. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção e política da morte. São Paulo: N-1 Edições, 2018.; SANTOS, 2019; SANTOS, SANTOS; SILVA, 2021SANTOS, G.; SANTOS, D. S..; SILVA, M. P. Linguagem, corpo e espírito da Natureza: uma proposta de (re)conexão a partir da Aquilombagem Crítica. Crítica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 22(1), p. 67-71, 2021.) e de (identidade de) gênero (ANZALDÚA, 2009ANZALDÚA, G. To(o) queer the writer – loca, escritora y chicana. In: KEATING, A. (Ed.). The Gloria Anzaldúa Reader. Durham: University Press, 2009.; AKOTIRENE, 2019AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.). Esses têm uma caracterização própria quando analisadas a partir da realidade dos países da América Latina.
Defendo que o conceito de discurso pode ser entendido a partir de três prismas basilares: o de manifestação linguística, o retórico-argumentativo e o de ideário. O discurso como manifestação linguística pode ser observado a partir de dimensões gramaticais (isto é, morfológicas, fonético-fonológicas, sintáticas, semânticas etc.), articuladas para realizar na interação social; os dois outros entendimentos aqui mencionados: a saber, o retórico-argumentativo e o ideário. Quando abordo a característica retórico-argumentativa, volto-me ao debate proposto nas publicações de Pardo (2011)PARDO, M. L. Teoria y metodologia de la investigación lingüística: método sincrónico-diacrónico de análisis lingüísitco de textos. Buenos Aires: Tersites, 2011., Marchese (2011)MARCHESE, M. C. El texto como unidad de análisis socio-discursiva: una propuesta a partir del Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos, Buenos Aires: Editorial Tersites, 2011. e López (2001)LÓPEZ, A. Ser ou não ser Triqui: entre o narrativo e o político. In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001., no que diz respeito a como a interação social mostra-se fundamentalmente afetada por estratégias criativas de convencimento e de arregimentação de forças acionais; sobre o tema, podemos retomar o que Wittgenstein (1991)WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. disseca em sua discussão sobre jogos de linguagem, nos quais, em relações intergrupais e individuais, os indivíduos sociais assumem diferentes posturas de criatividade argumentativa, que, aproximando a este debate, visam à consolidação de poder (em diferentes níveis).
Disso, podemos partir para o terceiro lado do discurso que defendo, o de ideário, no que remonta ao trabalho basilar da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 2003.; 2010FAIRCLOUGH, N. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Routledge, 2010.; MAGALHÃES, 2005MAGALHÃES, I. Introdução: a Análise de Discurso Crítica. D.E.L.T.A., 21 (especial), 1-11, 2005.; SENDE, 2008RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008.; 2019RESENDE, V. M. (Org.). Decolonizar os estudos críticos do discurso. Campinas: Pontes, 2019.; PARDO, 2011PARDO, M. L. Teoria y metodologia de la investigación lingüística: método sincrónico-diacrónico de análisis lingüísitco de textos. Buenos Aires: Tersites, 2011.; VIEIRA; RESENDE, 2011VIEIRA, V.; RESENDE, V. M. Análise de discurso (para) a crítica: o texto como Material de Pesquisa. Brasília: Pontes, 2011.; RESENDE; REGIS, 2017RESENDE, V. M.; REGIS, J. F. S. (Org.). Outras perspectivas em análise de discurso crítica. Campinas: Pontes Editores, 2017.). Assim, discurso como ideário tem a ver com as construções simbólicas operacionalizadas por meio da linguagem as quais afetam grupos sociais organizados em (sub)grupos: nesses verdadeiros agrupamentos baseados em visões de mundo, aspectos culturais, geopolíticos e econômicos são constantemente atrelados a modos de ser e de não ser, de permissão e de interdição, bem como de manutenção e de apagamento. Para tanto, as duas dimensões anteriores (linguística e retórico-argumentativa) são estrategicamente manipuladas para o estabelecimento de cenários que sustentem tais ideários. A essa perspectiva sobre a linguagem como instrumento de poder, chamo de entendimento triádico do discurso (ETD).
Para esta discussão, vale destacar o fato de a linguagem (verbal, não verbal e multimodal) estar ancorada de maneira estratégica em praticamente todas as atividades humanas: isso assume um especial contorno quando nos interessa investigar a manutenção, assim como a resistência e a destruição de determinados modos de ser e existir no mundo social. Assim sendo, o entendimento triádico do discurso, posto à observação aqui, parte dos postulados dos ECD em uma perspectiva que articula gramática, filosofia da linguagem e ciências sociais (HALLIDAY, 2004HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. revised by C. M. I. M. Matthiessen. London: Arnold, 2004.; GUIMARÃES, 2004GUIMARÃES, E. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 2004.; MARCHUSCHI, 2008; FUZER; CABRAL, 2014FUZER, C.; CABRAL, S. R. S. Introdução à gramática sistêmico-funcional em língua portuguesa. Campinas: Mercado das Letras, 2014.; BAKHTIN, 1981BAKHTIN, M. M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981.; 2011; HALL, 2005HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2005.; GHON, 2013GOHN, M. G. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2013.). Trata-se, desse modo, de uma busca insistente pela transdisciplinaridade.
2. A tecnologia como discurso: um contexto pandêmico para a cidadania
Um dos temas que mais deveriam ser trazidos às reflexões sobre os estudos linguísticos críticos refere-se ao modo pelo qual os esforços realizados efetivamente repercutem na vida cotidiana das pessoas. É por essa razão que a proposta aqui trazida tem o interesse central de conectar-se com quem está dentro e fora dos debates acadêmicos. Em relação a isso, percebo que, para que existam possibilidades produtivas de diálogo, em uma tentativa real de ponte, os temas que implicam movimentos discursivos transformacionais precisam mostrar-se cada vez mais próximos das pessoas fora dos espaços acadêmicos. Com base nisso, podemos observar como um forte meio de análise dos efeitos discursivos no dia a dia (ou como prefiro chamar, na existência) dos grupos sociais a presença pervasiva da tecnologia digital – com foco nas redes sociais.
Nesta seção, a ideia é refletir sobre como, discursivamente, nas últimas décadas, estratégias de naturalização têm alocado grupos excluídos da ordem do consumo a lugares de apagamento cidadão e até de suas existências; já aos pertencentes a tal ordem, estão configurados espaços de confusão calculada, tendo em vista a regência da ‘realidade’ acontecer via algoritmos. É nesse cenário que podemos problematizar a ocorrência de ‘níveis’ de cidadanias, algo perigosamente paradoxal.
Levando em conta o cenário ambivalente – no que toca à inclusão e à exclusão de grupos sociais – da tecnologia digital em contextos de instabilidade, podemos aliar ao debate sobre discurso e transformação social o colapso global causado pela pandemia do Covid-19. É inclusive a partir desse importante fato histórico que poderemos refletir propositivamente acerca do paradoxo das ‘cidadanias’, as quais definirei como estremadas e elásticas. Antes da explicação de cada uma delas, no entanto, entendo como necessário contextualizar discursivamente a pandemia da Covid-19, no Brasil – uma ilustração cruel do laboratório social viabilizado pela tecnologia.
Durante a pandemia, o globo viu-se diante do inesperado: no início da segunda década dos anos 2000, por conta de um vírus até então desconhecido, o coronavírus (Sars-CoV-2), modos de agir no mundo passaram a ser remodelados de forma compulsória. Foi nos novos contornos sociais, moldados pela pandemia, que a tecnologia aprofundou ainda mais sua presença no cotidiano, nos mais diferentes níveis. Na mescla de uma real ameaça biológica e o caráter quase onipresente de equipamentos tecnológicos (dispositivos, aplicativos e sistemas de informação), o que pôde ser visto – no auge da Covid-19 no Brasil – foi um verdadeiro cenário de filme de horror científico no qual ‘novos’ atores passaram a reforçar o coro de velhas práticas, em uma espécie de sala de experimentação sociodigital. Os algoritmos passaram, então, a serem postos para ‘resolver’ problemas que iam além de soluções pontuais: governos intensificaram estratégias e políticas públicas por meio de aplicativos; bancos navegaram na construção de uma realidade regulada por Inteligência Artificial (IA); e as empresas de dispositivos tecnológicos (como smartphones e computadores, por exemplo) tiveram uma alta em suas vendas.
Desde o início da pandemia, no campo das práticas sociais entendidas como tradicionais, as pessoas foram diretamente afetadas em dimensões centrais como a profissional, a educacional e até a afetiva. De um jeito ou de outro, pode-se dizer que nenhum ser humano passou incólume pelas consequências do descontrole do coronavírus: um fato histórico que marcou o começo de uma década, ao estabelecer um antes e um depois nas práticas sociais e na própria estrutura social. Como já mencionado, os algoritmos passaram funcionar, nesse cenário, como verdadeiras lentes de aumento para a percepção das desigualdades históricas que caracterizam nosso país: com a alta dos casos e do número de vítimas (em grande parte, usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS), tivemos a oportunidade de ver a prática de necropolítica operacionalizada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro – em seu desprezo pela saúde da população, em detrimento da exclusividade referente a pautas econômicas. Não se pode esquecer o bizarro gerenciamento da crise sanitária: desde janeiro de 2019 até o mês do fechamento deste texto (dezembro de 2021), o Brasil contou com quatro ministros da saúde, que pareciam imobilizados entre a tepidez na tomada de decisões de enfrentamento à doença e a completa negligência quanto a medidas de proteção ao contágio – decisões, literalmente, vitais para a população. Já no que diz respeito às notícias oficiais (a saber, vindas do poder executivo, por meio do Ministério da Saúde) pareciam vir de um país diferente do que as redes sociais recorrentemente dissecavam. Em um verdadeiro apagão de dados e informações de Estado, os veículos da imprensa de massa – no ano inteiro de 2020 – assumiram um papel de força-tarefa para garimpar localmente dados e informes sobre contágio e mortes, aproveitando a quebra de braço entre o governo federal, os estados, o distrito federal e os municípios.
A tecnologia digital reforçou sua centralidade ao ser espaço no qual notícias em tempo real, em geral, atualizadas pelas redes sociais e por portais de jornalismo (tradicional e o de foco cidadão), montaram um mosaico de notícias falsas (as famigeradas fake news), bem como da realidade das pessoas que ‘podiam’ ficar em casa versus das que tinham de se arriscar diuturnamente, por exemplo, no transporte público lotado. Alguns grupos sociais puderam experimentar diferentes níveis de permissão para existir: defendo que, em um nítido exemplo do lugar do discurso nas relações de poder, no contexto de pandemia, a classe dominadora brasileira recorreu ao letramento digital para bifurcar um conceito que só faz sentido sendo uno, o da cidadania. Trata-se do paradoxo das cidadanias elásticas e das cidadanias estremadas.
A diferenciação pode ser útil para entendermos como a tecnologia dos séculos XX e XXI tem sido uma ferramenta eficaz para a manutenção de projetos de poder baseados em desigualdades. Isso nos ajuda a pôr em relevo uma questão estratégica e que funciona como meio de ação discursiva propositiva: a necessidade do real exercício da cidadania como proteção de existências dos grupos historicamente subalternizados.
Em tempos como os do começo desta década, não cabe mais sofismar: não se concebe ‘meia’ cidadania ou ‘percentual’ de cidadania, ou ela existe ou inexiste. Sendo mais específico no que toca ao conceito de cidadania aqui defendido, podemos levar em conta, por exemplo, a alcunha que recebe nossa legislação, o de Constituição Cidadã. Ainda assim, mesmo dentro dos parâmetros ditos democráticos, a despeito do louvável título, o final da década passada, legitimou um dos lados mais grotescos do que se entende como identidade brasileira: a figura do conservador reacionário, deslumbrado com práticas colonizadoras.
Para uma expressiva parcela da população brasileira (mais de 50 milhões), a figura de Jair Messias Bolsonaro, mesmo condensando tudo o que anos de esforço progressista combateram, serviu para exercer a função de maior responsabilidade do País. Isso demonstra o grau de influência que a manipulação estratégica e articulada da linguagem e dos textos pode ter para definir aspectos vitais na sociedade, pois tipos identitários que apostam no desrespeito à diferença, na fanfarronice e no desprezo aos direitos humanos, como Bolsonaro, sempre ocorreram na história oficial e individual das pessoas brasileiras.
Os efeitos corrosivos desse tipo de conduta possuem vasta literatura inclusive. A figura simbolizada por tipos como o do 38° presidente do Brasil é a que, ao mesmo tempo, tensiona a perspectiva de que algumas pessoas têm – ou podem ou devem ou merecem ter – mais direitos do que outras; além disso, tais perfis sociais recorrem a estratégias de construção de modelos simbólicos e materiais para apartar condições de existência e manter lugares cristalizados de colonização. Essas figuras dissolvem propositadamente o entendimento de cidadania, esvaziando-a de seu sentido acional e, consequentemente, transformacional, no que se caracteriza por uma visão elástica ou totalmente separatista (neste caso, estremada) entre grupos sociais. Um exemplo de cidadania elástica pode ser visto na reação ao genocídio secular e contemporâneo da população negra brasileira: podemos refletir se essa problemática não alcança um nível expressivo de mobilização porque, eventualmente, para parte da população (que dificilmente assumirá essa postura), pessoas negras ‘podem ter’ menos direitos do que pessoas brancas: como parte de um ideário racista à brasileira, não se trataria de retirar todos os direitos, mas de também não ser uma grande questão o fato de alguns, fundamentais (como, por exemplo, o direito de ir e vir sem o medo de ser violentado) não estarem assegurados a essa população.
Trata-se de uma visão flexibilizada de algo que não cabe negociar: no mínimo, há que ter respeito a uma constituição que, desde sua gênese, vale-se do conceito de cidadania; documento, diversas vezes, apontado como exemplo mundial de texto civilizatório. Como texto, nossa constituição, é uma das mais pujantes obras já construídas em território brasileiro; no entanto, é preciso que cada pessoa esteja atenta para que ela não se torne uma bonita peça de ficção.
Assim, falar sobre discurso e cidadania e relacioná-los à dimensão tecnológica dos algoritmos é também remontar a como a pandemia pode ser vista da perspectiva das cidadanias elásticas e estremadas. Especificamente sobre o entendimento de cidadania estremada, tratarei nas próximas partes desta reflexão, tendo em vista que a essência nociva da cidadania elástica a constitui. Ambos os desenhos de exclusão que proponho aqui estão sempre direcionados às pessoas mais pobres, às miserabilizadas e às perseguidas pelo fato de existirem como são: dentro de um esforço discursivo crítico, elas não devem ser esquecidas como os principais alvos de uma verdadeira ultraconexão anticidadã.
3. Estudos Críticos do Discurso, tecnologia e reexistência: a luta contra a inexistenciação
Ora, a fim de conectarmos a análise de conjuntura da seção anterior às bases epistemológicas que fundamentam esta reflexão, voltemo-nos para os ECD; para isso, alinho-me a uma perspectiva que se nos apresenta como possível para o enfrentamento crítico dos percalços apresentados. Em outras palavras, vejo como bastante produtivo o debate crítico discursivo (facilitado pelos ECD) sobre a noção de reexistência, em parte, com base nos termos de Souza (2009SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: culturas e identidades no movimento hip hop. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.; 2011)SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola Editorial, 2011..
Segundo a autora, que lança mão do debate crítico dos Estudos do Letramento, (a ação via letramento de) reexistência pode ser entendida como formas de avocação e sustentação, por parte de grupos sociais vulnerabilizados, de “novos papéis sociais e funções nas comunidades de pertença e naquelas em que estão em contato” (Souza, 2009SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: culturas e identidades no movimento hip hop. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009., p. 32). Aproprio-me da potente conceituação dessa pesquisadora, acrescentando-a ao que venho desenvolvendo na proposta da Aquilombagem Crítica, AC (Santos, 2019; 2021SANTOS, G.; SANTOS, D. S..; SILVA, M. P. Linguagem, corpo e espírito da Natureza: uma proposta de (re)conexão a partir da Aquilombagem Crítica. Crítica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 22(1), p. 67-71, 2021.): a relação do construto atualizado de reexistência com os conceitos de existência e de resistência. A união desses conceitos pode possibilitar um campo de confronto discursivo contra o que venho chamando de (processos de) inexistenciação.
Assim, a análise de conjuntura trazida pode ser observada como um exemplo de processo de inexistenciação; isto é, a tecnologia digital como um instrumento de manutenção de poder colonizador, intensificado por um contexto de crise aguda (como é o da pandemia da Covid-19). Em linhas gerais, segundo a perspectiva da AC, a inexistenciação pode ser interpretada como um processo discursivo, historicamente operado por estruturas de privilégio e focado em desenvolver estratégias de colonialidade (especialmente, no apagamento de existências sociais), a fim de manter lugares de poder no tecido social. Como um dos tentáculos do poder dos grupos colonizadores, a inexistenciação metamorfoseia-se, ao mínimo sinal de risco, inserindo-se, por exemplo, na produção e popularização de tecnologias sociais.
A tecnologia algorítmica-social que vem assumindo um lugar de transformação de práticas, inclusive utilizada para projetos da colonialidade, pode ser observada como um efetivo processo de inexistenciação, mas também como um meio de enfrentamento aos usos baseados na colonialidade e no apagamento de existências. Estamos nos referindo à retomada das narrativas subalternizadas e a sua ressignificação por parte dos grupos sociais historicamente oprimidos, a relação mencionada entre resistência e – o conceito atualizado – de reexistência (com vistas à preservação de existências).
Desse modo, podemos observar que a relação entre pandemia, projetos de inexistenciação (de grupos sociais miserabilizados e subalternizados) e o uso colonizador das tecnologias digitais – ao qual darei o nome de ultraconexão – tem, nos últimos tempos, consolidado cenários discursivos férteis para os entendimentos do que vimos discutindo como elástico e estremado no que se refere à cidadania. Vejamos, pois, como a noção de cidadania estremada se dá, com base nos apontamentos desenvolvidos até aqui.
De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, problemas com a tecnologia implementada pelo governo para a liberação do auxílio emergencial comprometeram o recebimento do benefício por parte das pessoas mais pobres (segundo o estudo, classes D e E). É a partir disso que podemos observar como grupos subalternizados – conforme discutimos na questão do genocídio da população negra, na primeira seção – além de terem flexibilizada sua cidadania, podem chegar a ser colocados em situação estremada quanto a seus direitos para existir. Nesse sentido, áreas dos ECD, como a Análise de Discurso Crítica (ADC) (RESENDE; REGIS, 2017RESENDE, V. M.; REGIS, J. F. S. (Org.). Outras perspectivas em análise de discurso crítica. Campinas: Pontes Editores, 2017.; RESENDE; SILVA, 2017RESENDE, V. M.; SILVA, R. B. (Org.). Diálogos sobre resistência: organização coletiva e produção de conhecimento engajado. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017.; SANTOS, 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.), ao enfocar a íntima relação entre linguagem, textos e poder social, apontando para estratégias de superação, mostram-se como de grande utilidade para propostas de intervenção transformacional cidadã; ou seja, o foco está na mudança social (FAIRCLOUGH, 2001FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Trad. Izabel Magalhães (Org.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.; 2010FAIRCLOUGH, N. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Routledge, 2010.).
Dentro do que venho organizando como uma via de trabalho dentro dos Estudos Críticos do Discurso, a perspectiva da ADC contribui de modo formidável para embasar tanto o ETD quanto à articulação dos conceitos de existência, resistência e reexistência contra a inexistenciação. Mais especificamente, por meio dos textos (entendidos, assim como a linguagem, desde uma noção ampla, não restrita ao verbal), indivíduos coletivizados representam e identificam o mundo social, sendo, desse modo, possível agir no mundo com vistas a intervir em temas de violências e violações de direitos cidadãos.
Para entendermos como o processo de inexistenciação de grupos vulnera-bilizados (acarretando a bifurcação da cidadania em elástica e estremada) vem acontecendo discursivamente, precisamos retornar à visualização de como, na pandemia da Covid-19, o fenômeno artificial da ultraconexão – ou seja, das múltiplas possibilidades de acesso e deslocamento nocional via dados digitais, a partir de dispositivos eletrônicos virtualmente conectados – coroou práticas crônicas relacionadas ao desrespeito à cidadania como direito pleno. Chegou o momento de concentrarmo-nos no que chamo de cidadania(s) estremada(s).
No País, nem mesmo todo o avanço tecnológico de 2020 mostrou-se suficiente para garantir às populações subalternizadas direitos fundamentais: em pleno auge pandêmico, por exemplo, após pressão popular reverberada pelo congresso, o governo negacionista desse início de década foi obrigado a aumentar o valor do auxílio emergencial para a população diretamente atingida pela doença.
Parte considerável da população mais pobre, indígena e miserabilizada (como a população em situação de rua) – que tiveram seus empregos e renda afetados pelo fechamento das atividades presenciais ou que sentiram frontalmente o agravamento de vulnerabilidades em suas existências – precisou lidar com o modelo digital de acesso ao benefício. Desconsiderando a falta de letramento digital de boa parte da população, as ações do governo, nesse sentido, foram pautadas no uso de sistemas virtuais e aplicativos para dispositivos digitais (como smartphones), que, além de demandarem a necessidade de conexão com Internet de qualidade, não raro apresentavam instabilidades técnicas, as quais agravavam o desgaste do contexto.
A classe média, assim como a rica, vetor inicial de propagação do vírus, conforme debate de Resende e Santos (2020)RESENDE, V. M.; SANTOS, G. A relação entre mídia e população em situação de rua na representação da pandemia no Brasil, um projeto. Rosário: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2020., passou a enfrentar o desafo de se adaptar ao cerceamento da liberdade de trânsito e de interação externa: assim como o lazer, o trabalho passou a ser remoto, a partir das próprias residências, em um desenho compulsório no qual a utilização exacerbada de computadores, gadgets e serviços baseados em banda larga foi identificado como ‘o novo normal’ – aliás um filão de mercado para empresas de tecnologia, especialmente as do mercado de streaming. Para todos os grupos sociais, a má gestão da pandemia, além das terríveis estatísticas de vítimas contaminadas, contribuiu para que questões de saúde mental voltassem à tona de modo mais avassalador, com o aumento dos casos de ansiedade, depressão e suicídio; além disso, a violência doméstica e o feminicídio também tiveram um recrudescimento em diversas regiões do Brasil. A pandemia ultrapassou os limites biológicos, tornando-se uma pandemia psicológica, ética e moral.
A ultraconexão destacou a Internet e as redes sociais como verdadeiros setores chaves do espaço ‘laboratorial’ (mencionado há algumas seções), ao qual grupos subalternizados são sistematicamente encaixados. Por meio dela – assim como pela mídia tradicional – pôde-se observar, mesmo em nível da superfície linguística, como no País o conceito de cidadania é um campo nebuloso (por conseguinte, elástico). Vejamos o exemplo das redes sociais. Elas, no auge da pandemia, funcionaram como um braço midiático, que auxiliou a campanha dos veículos tradicionais contra as ações desastrosas do governo federal na tentativa de controle dos casos de Covid-19 – basicamente, por também verem a questão econômica sendo bastante afetada. As gigantes de tecnologia (como Google e Facebook) transfundiram uma mobilização apoiada (patrocinada) por empresas através da etiqueta eletrônica (ou hashtag) #FiqueEmCasa (um verdadeiro mantra que, junto com o “use máscara”, encerrava praticamente todos os programas de televisão e rádio da Rede Globo).
O veemente posicionamento contrário, mas seletivo, de parte da mídia, encabeçado pelo grupo Globo ao governo Bolsonaro e sua conduta na pandemia (em contraposição à aliança dos grupos de comunicação ligados à Rede Record, RedeTV! e Jovem Pan, por exemplo) mereceria um texto exclusivo – tendo em vista a Rede Globo, de acordo com algumas leituras, ter construído um percurso favorável à ascensão da extrema direita ao poder. Nesta reflexão, o foco é observarmos como os algoritmos formataram um campo de batalha que consagrou antagonismos e a polarização estéril que ora vige no Brasil: negacionistas e seu universo de fake news versus progressistas em busca de estratégias eficazes para a erradicação do bolsonarismo. No campo progressista, por exemplo, o discurso do ‘fique em casa’ foi repercutido, mesmo pouco considerando grupos sociais que viviam em situação de aglomeração em suas próprias casas ou que sequer possuíam moradia. Não é que o tema não tenha sido abordado, mas, durante muito tempo, contra o descaso do governo federal, que estimulava a volta ao trabalho e a circulação de pessoas (na aposta fracassada de uma chamada imunidade de rebanho, a máxima era ‘ficar em casa’).
Nisso, podemos observar como a população brasileira foi dividida entre quem (ainda que enfrentando problemas) ‘podia’ ficar em sua casa, trabalhando a partir de seus equipamentos tecnológicos, com a possibilidade da não exposição, em detrimento de outra parcela que se via impelida a enfrentar o transporte público lotado, com pouco (ou nenhum) acesso a meios de proteção ou ainda sob a insistente nuvem de notícias falsas que incitavam a recusa ao uso de máscaras e até mesmo às vacinas. Uma clara ilustração de um fosso entre quem conseguiu, de um jeito ou de outro, passar a pandemia em ‘ficando em casa’ e quem teve de enfrentar o então desconhecido coronavírus e seus efeitos, sem mencionar a população que nem trabalho nem casa possuía. Eis as cidadanias estremadas.
Todo o processo mencionado aqui caracteriza os processos de inexistenciação. Eles, por discursivos, são facilmente operacionalizáveis em meios sem o controle cidadão, como é o caso da Internet.
Durante muito tempo, especialmente no início dos anos 2000, o discurso caracterizador da rede mundial de computadores apontava para um espaço de liberdade e até de avanços civilizatórios; entretanto, o perceptível, vinte anos depois, é uma aparente tomada do universo cibernético por parte de empresas que controlam existências, a partir do acúmulo de informações sensíveis geradas a partir de dados coletados (por um sem-número de gêneros discursivos digitais).
Observemos que, em termos de dominação, isso atribui um poder imensurável de algumas poucas pessoas sobre muitas pessoas – inclusive sobre como elas se percebem no mundo, ou seja, sobre suas existências. Há, nisso, um lado no qual esse poder passa a servir a estratégias de apagamento (inexistenciação): como, por exemplo, pessoas miserabilizadas (como a população em situação de rua) que não podem acessar um aplicativo para se cadastrar com vistas a receber um auxílio financeiro essencial para sua sobrevivência. A experiência da pandemia, no formato da ultraconexão (que implica ter acesso, minimamente, a dispositivos conectados (e) à rede mundial de computadores), tem confirmado o que centenas de estudos das ciências humanas e sociais vêm demonstrando há anos no Brasil: algumas pessoas têm sim mais direito a ter direitos do que outras. Assim, por conseguinte, neste país, temos uma perigosa elasticidade do que se entende por cidadania, encaminhando para uma postura estremada; configurando, por meio disso, a inexistenciação de grupos historicamente subalternizados. Isso desde os tempos coloniais. A colonização agora está de avatar, encaminhando-se para o chamado metaverso.
Apesar de estar endereçando esta crítica à tecnologia digital como ambiente ótimo para processos de inexistenciação, é importante destacar que ‘o problema’ não é a Internet (aderir a essa conclusão seria pensar em termos reducionistas, uma espécie vilania social de uma entidade etérea e onipresente, como um filme de ficção científica). Não. Não é o espaço digital, como essa nuvem espalhada, que deve ser enfrentado com as estratégias de superação: a resistência – nos moldes aqui explicados – precisa valer-se inclusive dela para pensar e desenvolver estratégias de luta. Quando a ultraconexão é mencionada, intento reconhecer que, deste ponto da civilização, no ocidente, é bastante improvável que haja uma regressão no que toca à comunicação humana via redes sociais e dispositivos ‘inteligentes’.
Direta ou indiretamente, tecnologia digital já é parte da existência, individual e social nos séculos XX e XXI. Desse modo, ‘atacar’ a Internet sem ver nela brechas estruturais possíveis é empreender uma força contra o suprassumo do abstrato, pois a rede de comunicação via dados é construída por pessoas, seres discursivos; dentre essas pessoas, existe quem já está se dando conta que uma realidade mediada por IA é mais interessante, por exemplo, para os bancos do que para a pessoa que tem seu cartão de crédito roubado e que terá de lidar com um robô (que não alcança as sutilezas de quem passa pelos problemas do mundo contemporâneo). A despeito da construção de um mundo ‘mais prático’, baseado em IA, faz toda a diferença ouvir uma voz humana, que respira e que pode desenvolver empatia do outro lado da linha. Também nesse sentido vale pensar em reexistências como estratégia em tempos de ultraconexão. Como expressado, esse mundo de realidade aumentada também é uma construção discursiva, no qual projetos de poder colonizadores têm um oásis de possibilidades. Para propósitos de manutenção de poder da classe dominadora, é fundamental que se neutralizem os alcances que a cidadania, como lugar de reflexividade e ação, pode ter sobre as mentes de milhões de pessoas – interpretadas por essa mesma classe dominadora como números ou braços para o sustentáculo de seus privilégios históricos.
Assim, a reexistência precisa ser vista como resultado da conexão, primordialmente entre a existência (isto é, a possibilidade de ser e de agir no mundo a partir de escolhas discursivas atentas) e a resistência (ação de intervenção transformacional com base em escolhas críticas alinhadas com o embate contra a dominação).
4. Redes Pragmáticas como estratégia de intervenção na luta cidadã
Uma das possibilidades de intervenção ligadas à resistência (direcionada à reexistência) diz respeito ao tema da ressignificação. Faz sentido, portanto, colocar essa ação discursiva como uma das estratégias inseridas na interseção resistir-reexistir.
Indo um pouco mais além, tendo em vista o comentário da seção anterior sobre não vilanizar o que se coloca como suporte, podemos retomar o tema das redes, sem isolá-las na questão dos espaços de troca de mensagens e arquivos operados por empresas multinacionais de tecnologia. Desse modo, ressignificar o conceito de redes pode resultar como um passo importante na ação discursiva proposta pela AC contra a inexistenciação – apresentada nesta reflexão, mais es-pecificamente, na ação colonizadora da ultraconexão como operação estratégica de neutralização da cidadania. É, portanto, nesse entendimento que se encaixam as Redes Pragmáticas (RP) (SANTOS, 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.; 2019).
As RP podem ser entendidas como uma proposta metodológica inserida em propósitos de reexistência, para fins diversos (desde que alinhados à mudança social de grupos subalternizados). Nas palavras de Santos (2017)SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.,
o conceito de redes pragmáticas pode ser entendido por estratégias e recursos utilizados de maneira coordenada (em diferentes perspectivas) para atingir fins práticos e criticamente transformadores para todo o grupo social oprimido. Assim, a ideia corresponderia a um posicionamento coletivo reflexivamente contrário à ordem embotadora, naturalizada (e naturalizante) diluída no discurso da pós-modernidade (...). Entendemos, portanto, as redes pragmáticas como ação social incentivadora da minimização/ausência de um posicionamento mais social rumo a um holisticamente politizado. (SANTOS, 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017., p. 37).
As RP são corolárias de influências propositivas dos ECD alinhadas com o movimento ontológico da Aquilombagem Crítica. Assim, a centralidade das Redes Pragmáticas reside na conexão entre reflexividade e reorientação para a construção de ações concretas de potencial transformador. Tendo em vista sua natureza autocrítica, as RP são norteadas pela análise crítico-reflexiva da prática individual orientada ao coletivo: por isso, tendem a encaixar-se de maneira fértil na defesa da cidadania.
Uma vez aqui colocado à disposição do escrutínio sobre sua consistência, do conceito não se deve perder de vista os itens lexicais que compõem seu rótulo: Redes Pragmáticas. A noção de redes está posta a partir da importância da conexão com o outro, com a diferença, para se construir espaços consistentes de mobilização, ancorada no cultivo do diálogo. A partir de trabalhos de Resende (2008)RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008., Neves (2013)NEVES, R. B. Discursos sobre mobilização grevista de professores/as em Brasília: “prejuízo para todos?”. Dissertação (Mestrado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2013., Santos (2017)SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017. e Melo (2017)MELO, T. H. A. G. Política dos “improváveis”: Percursos de engajamento militante no Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Tese (Mestrado em Antropologia). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017., as RP estruturam uma de suas bases: a de que a mudança se dá efetivamente a partir da aliança de forças coadunadas em um propósito. Em um dos temas centrais deste texto, mencionei a tecnologia como um recurso ambivalente no que toca à inexistenciação, sendo a ultraconexão uma estratégia fragilizadora da reflexão-ação voltada à questão cidadã. É relevante notar que este momento do debate lida com dois entendimentos de ‘rede’ (um referente à troca de dados mediada por algoritmos e outra relacionada à conexão focada na mobilização social): ambos, no entanto, possuem o aspecto social do mundo em sua ligação com a linguagem como ponto nevrálgico, potências tanto de manutenção como de mudança.
Assim, nas R P, a ação de rede está desenhada em quatro eixos, que descrevem etapas não hierarquizadas as quais devem dar conta de promover a autorreflexão, no que toca ao entendimento de si e de seu papel político e potencialmente, bem como ponderar quais as eventuais limitações se apresentam desde o lugar subjetivo-social que se ocupa (movimento que deve ser igualmente aplicado em relação às possibilidades que podem ser levadas a cabo); esse momento é intitulado nas RP como exercício da reflexividade (SANTOS, 2017SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.; 2019). O primeiro eixo é um mergulho no que se entende por existência – mas a partir da reflexividade acional.
Uma vez estabelecidas as estratégias que nutrirão o constante exercício de percepção política de si no mundo social, torna-se central dar um passo adiante, por meio da construção material da intervenção dentro das possibilidades de atuação política que se apresentam. Assim, conectam-se os demais eixos acionais das RP: intervenções antirretóricas, produções críticas-reflexivas e sua visibilização estratégica. Tomemo-los inseridos na reflexão desenvolvida sobre o contexto de pandemia, prospectando algumas contribuições das RP para esse momento.
De acordo com a análise de conjuntura apresentada, o momento pós-pandêmico tende a estar cada vez mais dissolvido na ultraconexão. Nesse cenário, os próximos tempos sociais poderão exigir soluções que insistam no reforço da cidadania, em diálogo com as tecnologias. Como, portanto, as RP, nesse desenho de realidade artificial, poderiam ser encaradas? Procedendo às ilustrações trazidas nas seções anteriores, o que se deve defender veementemente é o engajamento contra a inexistenciação promovida pela classe dominadora, bem como suas estratégias, baseadas na colonialidade. Assim sendo, a relação entre existência e resistência precisa ser posta em nível de letramento. Tendo em vista que o que se busca é a saúde cidadã, será, diante da ultraconexão, preciso investir na reexistência. E, nesse caminho, o trabalho com os textos sociais pode ser colocado como estratégico e produtivo.
Cabe, para tanto, destacar a centralidade dos gêneros discursivos no cotidiano social. O debate pode ser epistemologicamente identificado a partir da conexão entre o dialogismo (ROJO; BARBOSA, 2015ROJO; R. H. R.; BARBOSA, J. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.) e a Linguística Textual (MARCUSCHI, 2008MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.; KOCH; ELIAS, 2010KOCH, I.V; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010.), em uma ligação que relaciona a filosofia da linguagem a uma aplicabilidade pragmática, norteadas pelo peso do contexto na construção textual. Essa ligação encontra na percepção de que, por meio dos textos, articulados em gêneros, agimos também no mundo (FAIRCLOUGH, 2003FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 2003.; 2010FAIRCLOUGH, N. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Routledge, 2010.; RESENDE, 2008RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008.; BAKHTIN, 2011BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes.). Relembrando que, aqui, estou baseando-me em uma visão funcionalista de linguagem, o que permite trabalhá-la a partir de sua perspectiva ampla: ou seja, em suas facetas verbais (escritas, faladas, calcadas na palavra, ou mecanicamente articuladas por gestos de univocidade gramatical, como é o caso da língua brasileira de sinais, Libras), não verbais (audiovisuais, gestuais, sonoros etc.) e multimodais (mescla de semioses verbais e não verbais).
Com o foco no trabalho de luta por cidadania em tempos de ultraconexão, pensar sobre como gêneros – de acordo com Bakhtin, conectados intimamente com a cultura na qual estão inseridos – servem de base para estratégias de poder definirem-se como bem-sucedidas ou não. Um exemplo de intervenção voltada à cidadania e relacionado com as RP poderia ser a construção de um estudo alinhado a um projeto de intervenção relacionando docentes, estudantes, representantes do Estado e da sociedade civil sobre fake news para pessoas mais velhas e com nenhum traquejo com temas de tecnologia; a partir disso, seria possível recorrer ao uso das mesmas tecnologias digitais para calcular os impactos que discursos negligentes no que diz respeito à cidadania podem causar. Em conjunto, poderia fazer parte de outro projeto coletivo o trabalho com o tema dos gêneros discursivos digitais ligados a coleta de informações sensíveis, como termos e políticas de uso e de privacidade (ou ainda de registro de cookies) que as empresas de Internet impõem a usuários e usuárias. Ambas as sugestões baseadas nas RP envolvem a diversidade social e concentram-se no debate sobre como tais gêneros estão em todas as partes acessados no ambiente digital. Eles, muitas vezes0, estão disfarçados de transparência, com textos extensos e meticulosamente construídos por grandes escritórios de advocacia, selados por botões de “eu concordo” (a partir dos quais, legalmente, cada pessoa acaba por autorizar o uso de tudo o que estiver contido em links poucas vezes lidos em sua integralidade).É a partir disso que se pode refletir acerca do que o contexto pós-pandêmico poderá trazer no que toca às existências e à cidadania.
Sem um olhar atento para os movimentos que passarão a ser desenhados – melhor dizer, vendidos – como ‘evolução’ e ‘facilidade’, a percepção elástica da cidadania poderá se tornar cada vez mais presente nas práticas micro e macrossociais. Não se deve perder de vista a lógica do Big Data (grandes volumes de dados de alta densidade e não necessariamente conectados entre si, que vão desde postagens em redes sociais até geolocalização de pessoas e produtos), que passará a, cada vez mais, coletar uma quantidade expressiva de dados pessoais, a fim de, por meio de IA, pautar direcionamentos que estabelecerão o que deve ou não ser prioritário na vida de cada pessoa usuária. Como mencionado, trata-se de um percurso que tende a avançar e se consolidar, que não deve ser encarado como uma catástrofe, desde que se considere seus efeitos no que tange à vulnerabilização social, e, por extensão, como potencial fonte para a prática da cidadania estremada.
Sem a devida atenção a esse processo, a inexistenciação poderá se difundir, como uma questão ainda mais tensa, pois, à parte a classe dominadora (atenta à formação de controladores letrados em tecnologias de ultraconexão), há uma forte tendência a se organizar a sociedade entre quem tem recursos para encher a vida cotidiana de gadgets e serviços baseados em IA e quem estará na dependência quase absoluta desses serviços – cada vez mais, operado por robôs, que, em lugares vistos como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (como o Brasil), devido à debilidade em termos de fiscalização, poderão oferecer serviços pouco efetivos ou com uma impessoalidade afugentadora de luta por direitos (ou pela manutenção deles). Observemos como as chamadas ‘assistentes virtuais’ – serviços digitais que respondem a comandos de voz e que, ao mesmo tempo, coletam dados sistematicamente, sem que se perceba – têm tomado conta da realidade de pessoas da classe média; em nível de políticas públicas, leve-se em conta os notórios recorrentes percalços que muitas pessoas passam para agendar, por exemplo, consultas pelo SUS ou a inoperância de sistemas para agendamento das vacinas contra a Covid-19 (enquanto outras pessoas com poder e influência puderam usufruir das benesses de ir até algum país rico para receber imunização, em um declarado ‘turismo da vacina’). Cidadanias estremadas em alto nível.
Em síntese, na relação entre tecnologia, pandemia e cidadania, as RP poderiam estar a cargo de pensar (em nível de projetos baseados nos quatro eixos de ação) como os gêneros discursivos digitais mencionados (políticas de privacidade, termos de uso, normas de conduta, assim como trocas linguísticas por meio de mensageiros virtuais etc.) desempenham papéis diretos e indiretos na consolidação da ultraconexão. Para tanto, o tema (da ultraconexão) deve ser trazido à tona, nas conexões estimuladas pelas RP (universidade, movimentos sociais, Estado e empresas efetivamente preocupadas com suas práticas), com vistas a debater estratégias factíveis e efetivas na luta cidadã contra práticas elásticas e seu agravamento, caracterizado pela configuração estremada de pessoas e grupos sociais. As metodologias para se chegar a essas considerações deverão sempre passar pelos movimentos contextuais desses encontros; por isso, não existe uma fórmula de como deverão ser feitas as ações que comporão os projetos aqui discutidos.
O que de fato necessita estar sempre à vista é que não se trata de uma ação de efeito rápido, mas sim de algo atrelado à resistência e que esta implica insistência e foco. Desse modo, mostra-se bastante salutar o encontro de mentes e braços críticos com o foco na luta pela cidadania norteando suas ações. Em cenários multiproblemáticos como o da Covid-19, a questão cidadã deve estar à frente de quaisquer outros interesses. Quando a história chegar para as pessoas genocidas (as apoiadoras incluam-se), fomentadores da ultraconexão, interessadas em puir as fibras da cidadania, os ECD precisam ocupar seu lugar de destaque na frente de luta, para podermos avançar na reflexão e na aplicação de outro conceito vital: a justiça.
Considerações parciais
Ao abordar a cidadania como necessidade central para a mudança de realidades de opressão, intentei discorrer sobre como a tecnologia de dados tem se mostrado um dos mais efetivos instrumentos para que opressões sejam mantidas. É nesse sentido, conforme debatido, que defendo que os ECD precisam posicionar-se na trincheira de luta contra a inexistenciação de grupos sociais historicamente oprimidos. O debate gira sobre a questão de perceber como movimentos opacificadores que recorrem a diferentes gêneros discursivos vêm construindo realidades paralelas, amparadas inclusive por dispositivos digitais que mascaram a realidade social. Essa é parte da estratégia de inexistenciação, que divide a cidadania – algo que só em sua integralidade se sustenta – em categorias.
A Covid-19 no Brasil veio junto com um governo que abertamente não prioriza as questões sociais e que põe em prática um projeto de poder baseado na desinformação e no mal-estar. Seja o tema da doença, seja o tema das vacinas, o que não se pode deixar de destacar é como gêneros discursivos tais como notícias, tuítes e notificações, por exemplo, são formas férteis de propagação de notícias falsas (as famigeradas fake news). Tais notícias contribuíram para condutas que ceifaram vidas e vidas no biênio que abriu a década de 2020; essas notícias foram incentivadas pelo estado brasileiro, na figura do chefe de estado eleito em 2019; essas notícias encontram ambiente de propagação nas redes sociais (e aplicativos eletrônicos ultraconectados) para chegar a qualquer pessoa que faça uso de dados móveis. Desse modo, desconsiderar como a inexistenciação alcançou níveis alarmantes durante a pandemia é o mesmo que não pensar sobre como a classe dominadora (promotora da colonialidade) está alinhada com as grandes empresas de tecnologia (as Big Techs). Por mais renda que se tenha, essa dinâmica afeta todas as pessoas que não controlam os algoritmos de megaempresas como Google, Facebook e Uber, por exemplo.
É nesse sentido que o trabalho com as Redes Pragmáticas pode oferecer uma perspectiva de atrelar conhecimentos centrais dos Estudos Críticos do Discurso para uma aplicação relacionada com a experiência, no sentido de entender que, como já mencionado, é bastante difícil observar os próximos tempos sem a interferência difusa da tecnologia de dados. Ainda assim, por meio da relação entre discurso e as R P, é possível pensar estratégias anticoloniais que passem por práticas que fomentem a reflexividade acerca da tecnologia da informação, das razões de serem os algoritmos tão misteriosos e de que, a cada clique, as pessoas cedem partes centrais de si – recorrendo inclusive aos mesmos gêneros discursivos desses meios e outros mais possíveis. O debate pode, aparentemente, assumir algum nível de abstração, mas não se deve seguir por lógicas de aparência: a tecnologia digital, quando a serviço da classe dominadora colonial, repercute diretamente no apagamento das existências das pessoas não letradas ou sob o foco da cidadania estremada.
Assim sendo, pensar como a necessidade de um trabalho baseado na reexistência social orientada à luta pela cidadania precisa ser um imperativo para os próximos tempos, inclusive o pós-pandêmico. Já se está falando acerca de mundos paralelos baseados em wearables, isto é, óculos e roupas, via realidade aumentada nos quais as pessoas passarão a se relacionar por meio de avatares com produtos e serviços pagos, mas em formato virtual; o Facebook (que alterou seu nome, como empresa guarda-chuva, para Meta) já anunciou seu mundo totalmente virtual, o metaverso. Cabe lembrar que a empresa que está apresentando tal ‘inovação’ é a mesma que, na década passada, enfrentou um dos maiores escândalos relacionados à coleta e a manipulação de informações para fins econômicos e políticos (como eleições). O movimento das empresas que possuem os modos de configuração dos algoritmos não se mostra concretamente preocupado com a manutenção da cidadania, se ela não assegurar engajamento. Apostar na polêmica e na polarização, durante as últimas três décadas, tem assegurado receita e lucros recordes para as big techs; a lógica é calculadamente simples: quanto mais tempo se retém alguém conectado, maiores são as possibilidades de difusão de publicidade, por exemplo, e propaganda gera receita. Tal poder conecta-se com os meandros políticos, nos quais lóbis são construídos e seguem atuantes para manter influência, conectada ao que também deseja a classe dominadora.
Por isso, trabalhar com as RP é chamar a atenção para o papel central do discurso nos embates contra processos de inexistenciação, operacionalizados pela fragmentação das cidadanias elásticas e estremadas. Para tanto, os vértices de ação da RP – exercício da reflexividade, produção crítica-reflexividade, visibilidade estratégica e intervenções antirretóricas –, baseados em projetos plurais e propositivos, focam no trabalho com os gêneros do discurso para expor como os processos de inexistenciação ocorrem e, diante disso, elaborar estratégias anticoloniais. É por meio dos gêneros discursivos – que, reforce-se, consolidam a coleta e concentração massiva de dados – que o poder fica retido e passa a ser compartilhado por quem tem como barganhar com grupos atentos a não perderem seus lugares de privilégio, ainda que disso dependam as existências de outros grupos, muitas vezes, por ideologia, entendidos como inferiores. É nessa medida que o trabalho baseado na reexistência deve ser também pautado, a fim de que os grupos que são afetados por esse xadrez maquiavélico possam ter percepção de como ressignificar práticas; que, baseados na autonomia, sigam resistindo por suas existências.
Por fim, como mencionado, já são duas décadas nas que o mundo social tem servido de laboratório experimental para quem tem poder de arquitetar e montar modos de existir no mundo: trata-se de uma geração completa sendo formada e programada para existir em ambientes construídos por grandes empresas, animadas com as altas perspectivas de lucro. Os Estudos Críticos do Discurso, assim como qualquer área do conhecimento humano minimamente preocupada com as relações sociais em tempos insalubres e cada vez mais desiguais, não podem fazer menos do que se colocar como espaço dialógico de resistência rumo à reexistências que garantam existências múltiplas, protegidas por práticas cidadãs fortalecidas.
A Luta Continua.
Notas
-
1
De acordo com o UOL, com o recebimento do auxílio emergencial, liberado por conta da pandemia, houve um aumento de cerca de 10% nas compras a prazo de equipamentos eletrônicos, como smartphones. Disponível em https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/01/22/venda-de-celular-sobe-no-3-tri-de-2020-no-pais-auxilio-emergencial-ajudou.htm. Acesso em 30 de dezembro de 2021.
-
2
Desde a explosão dos casos de Covid-19 no País, devido a desencontros e discordâncias estruturais na gestão da crise na saúde, o governo Bolsonaro convocou e exonerou do Ministério da Saúde o médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta (ministro entre janeiro de 2019 e abril de 2020), o médico oncologista Nelson Teich (ministro entre abril e maio de 2020), o general Eduardo Pazuello (ministro entre os meses de maio de 2020 e março de 2021). O médico cardiologista Marcelo Queiroga é o atual ministro da saúde – até o fechamento deste texto.
-
3
Mesmo tendo como parâmetro o texto constitucional, nesta discussão, compreendo cidadania como o usufruto das potencialidades e limitações que a vida social e a coletividade impõem, a partir da reflexividade sobre o lugar de si no mundo como indivíduo conectado a outros por direitos e deveres, estes baseados no respeito à diferença e à evolução política.
-
4
“Jair Bolsonaro é eleito presidente com 57,8 milhões de votos”. Disponível em https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml. Acesso em 30 de dezembro de 2021.
-
5
Sem celular e internet, mais pobres não recebem auxílio do governo, diz FGV. Disponível em “https://www.poder360.com.br/economia/sem-celular-e-internet-mais-pobres-nao-recebem-auxilio-do-governo-diz-fgv/. Acesso em 31 de dezembro de 2021.
-
6
Fonte: Jornal da USP. Disponível em https://jornal.usp.br/ciencias/pandemia-e-suas-consequencias-estimulam-violencia-e-desesperanca-em-comunidades-carentes/. Acessado em 10 de janeiro de 2022.
-
7
De acordo com a BBC Brasil, “o metaverso descreve uma visão de um mundo virtual 3D conectado, onde os mundos real e digital são integrados usando tecnologias como realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). Este ambiente envolvente estará acessível por meio de fones de ouvido de realidade virtual, óculos de realidade aumentada e aplicativos de smartphone. Os usuários se encontrarão e se comunicarão como avatares digitais, explorarão novas áreas e criarão conteúdo.”. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-59908725. Acessado em 10 de janeiro de 2022.
Referências
- AKOTIRENE, C. Interseccionalidade São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.
- ALMEIDA, S. L. Racismo estrutural São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção e política da morte. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
- ANZALDÚA, G. To(o) queer the writer – loca, escritora y chicana. In: KEATING, A. (Ed.). The Gloria Anzaldúa Reader Durham: University Press, 2009.
- BAKHTIN, M. M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981.
- BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal São Paulo: Martins Fontes.
- BENTO, M. A. S. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público”. Tese (Doutorado em Psicologia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- CARNEIRO, A. S. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser Tese (Doutorado em Educação). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.
- FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 2003.
- FAIRCLOUGH, N. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Routledge, 2010.
- FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social Trad. Izabel Magalhães (Org.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.
- FUZER, C.; CABRAL, S. R. S. Introdução à gramática sistêmico-funcional em língua portuguesa Campinas: Mercado das Letras, 2014.
- GOHN, M. G. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo Petrópolis: Vozes, 2013.
- GUIMARÃES, E. A articulação do texto São Paulo: Ática, 2004.
- HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade 10 ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2005.
- HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar 3rd ed. revised by C. M. I. M. Matthiessen. London: Arnold, 2004.
- KOCH, I.V; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010.
- LÓPEZ, A. Ser ou não ser Triqui: entre o narrativo e o político. In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
- MAGALHÃES, I. Introdução: a Análise de Discurso Crítica. D.E.L.T.A, 21 (especial), 1-11, 2005.
- MARCHESE, M. C. El texto como unidad de análisis socio-discursiva: una propuesta a partir del Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos, Buenos Aires: Editorial Tersites, 2011.
- MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão São Paulo: Parábola, 2008.
- MELO, T. H. A. G. A rua e a sociedade: articulações políticas, socialidade e a luta por reconhecimento da população em situação de rua. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.
- MELO, T. H. A. G. Política dos “improváveis”: Percursos de engajamento militante no Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Tese (Mestrado em Antropologia). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.
- MONTECINO, L. (Org.). Discurso, pobreza y exclusión en América Latina. Santiago: Editorial Cuarto Próprio, 2010.
- MUNIZ, K. S. Linguagem e identificação: uma contribuição para o debate sobre ações afirmativas para negros no Brasil. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
- NEVES, R. B. Discursos sobre mobilização grevista de professores/as em Brasília: “prejuízo para todos?”. Dissertação (Mestrado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
- PARDO, M. L. Teoria y metodologia de la investigación lingüística: método sincrónico-diacrónico de análisis lingüísitco de textos. Buenos Aires: Tersites, 2011.
- PEREIRA, C. P. Rua sem saída: um estudo sobre a relação entre o Estado e a população de rua de Brasília. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Política Social, 2008.
- RESENDE, V. M.; SANTOS, G. A relação entre mídia e população em situação de rua na representação da pandemia no Brasil, um projeto Rosário: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2020.
- RESENDE, V. M. (Org.). Decolonizar os estudos críticos do discurso Campinas: Pontes, 2019.
- RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Etnografia: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
- RESENDE, V. M.; REGIS, J. F. S. (Org.). Outras perspectivas em análise de discurso crítica Campinas: Pontes Editores, 2017.
- RESENDE, V. M.; SILVA, R. B. (Org.). Diálogos sobre resistência: organização coletiva e produção de conhecimento engajado. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017.
- ROJO; R. H. R.; BARBOSA, J. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos São Paulo: Parábola Editorial, 2015.
- ROSA, C. M. M. Vidas de rua São Paulo: Hucitec: Associação Rede Rua, 2005.
- SANTOS, G.; SANTOS, D. S..; SILVA, M. P. Linguagem, corpo e espírito da Natureza: uma proposta de (re)conexão a partir da Aquilombagem Crítica. Crítica. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 22(1), p. 67-71, 2021.
- SANTOS, G. P. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil - um estudo discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Tese (Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
- SILVA, M. L. L. Trabalho e população em situações de rua no Brasil São Paulo: Cortez, 2009.
- SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: culturas e identidades no movimento hip hop. Tese (Doutorado em Linguística). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
- SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
- VIEIRA, V.; RESENDE, V. M. Análise de discurso (para) a crítica: o texto como Material de Pesquisa. Brasília: Pontes, 2011.
- WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
14 Abr 2023 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2022
Histórico
-
Recebido
28 Fev 2022 -
Aceito
23 Maio 2022