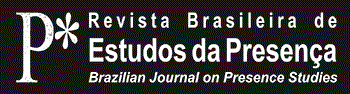RESUMO
Este artigo investiga a importância de um olhar que seja transnacional e ao mesmo tempo inclua os modos de produção nos estudos teatrais no Brasil. A partir do relato das discussões que ocorreram em julho de 2018 na conferência internacional Philanthropy, Development and the Arts, em Munique, o artigo levanta novas possibilidades para os diversos campos da pesquisa teatral. Em vários exemplos apresentados na conferência e sintetizados no presente artigo, questões e práticas que pareciam locais se mostraram como recorrentes em distintos países, inclusive no Brasil, evidenciando sua conexão com redes e fluxos transnacionais. Por fim, é sugerido que o estudo do teatro pela perspectiva da transnacionalidade e dos modos de produção pode constituir uma ação de defesa à pesquisa e ao meio cultural, principalmente em países que passam por processos reacionários como o Brasil.
Palavras-chave:
Transnacionalidade; Estudos Teatrais; Filantropia; Modos de Produção; Teatro para o Desenvolvimento.
ABSTRACT
Transnationality and Modes of Production in Theatre Studies - This paper presents an argument in favor of a transnational approach which also examines modes of production within theatre studies in Brazil. Drawing on discussions that took place in July, 2018, at the Philanthropy, Development and the Arts international conference in Munich, we point to new possibilities that may enrich various fields of theatre research. In several cases discussed at the conference and summarized in this article, seemingly local issues and practices revealed their recurrence in other parts of the world (Brazil included), thus demonstrating their interconnection within transnational networks and circuits. In conclusion, it is suggested that the study of theatre from the perspective of transnationality and modes of production may also constitute an action in defense of research, and of the cultural milieu itself, particularly in countries that are living through reactionary periods, as is the case for Brazil today.
Keywords:
Transnationality; Theatre Studies; Philanthropy; Modes of Production; Theatre for Development.
RÉSUMÉ
Transnationalité et Modes de Production dans les Études Théâtrales - Cet article examine l’importance d’une vision qui est transnationale et englobe en même temps les modes de production du théâtre dans les études théâtrales au Brésil. Basé sur un compte rendu des discussions qui ont eu lieu en juillet 2018 lors de la conférence internationale Philanthropy, Development and the Arts à Munich, l’article présente de nouvelles possibilités pour les différents domaines de la recherche théâtrale. Dans plusieurs exemples discutés lors de la conférence et résumés dans cet article, les problèmes et pratiques qui semblaient locaux se sont présentés comme récurrents dans plusieurs pays, parmi lesquels le Brésil, démontrant leur connexion avec les réseaux et les flux transnationaux. Enfin, il est suggéré que l’étude du théâtre sous l’angle de la transnationalité et des modes de production peut constituer une action de défense de la recherche et du milieu culturel, en particulier dans des pays en proie à des processus réactionnaires comme le Brésil.
Mots-clés:
Transnationalité; Études Théâtrales; Philanthropie; Modes de Production; Le Théâtre pour le Développement
Introdução
Os estudos teatrais brasileiros ainda encontram obstáculos em termos de reverberação e interação internacional, se comparados a outros campos de conhecimento. Pelo menos dois fatores concorrem para esse quadro, e ambos se referem a escolhas de nossa tradição acadêmica.
O primeiro fator é o apego de nossa historiografia teatral à ideia de um teatro nacional, inserida, portanto, nos contextos histórico-ideológicos de formação da nação e comprometida com a definição de uma especificidade artística brasileira. Esses traços fundadores de nossa historiografia teatral estimularam o desenvolvimento de um olhar em que corpus e critérios acabam delimitados por nossas fronteiras nacionais, havendo uma maior concentração de pesquisas sobre manifestações locais. Trabalhos pioneiros como o de Maria Helena Werneck e Angela de Castro Reis (2012)WERNECK, Maria Helena; REIS, Angela de Castro (org.). Rotas de teatro entre Portugal e Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012. conferem ímpeto ao intuito de ampliação desse escopo; seu enfoque transnacional vem sendo continuado em pesquisas recentes que precisam ser expandidas1 1 O livro Rotas de Teatro entre Portugal e Brasil (Werneck; Reis, 2012) apresenta pela primeira vez em nosso país as bases do programa Global Theatre Histories e se afirma como uma exceção no campo da nossa historiografia teatral. A busca das autoras e organizadoras por tecer pontes transatlânticas, em rotas teatrais do século XIX e início do XX, estende a visão sobre a formação do teatro brasileiro para um diâmetro mais amplo, além da ideia de nação. Aplicações atuais desse enfoque em outros âmbitos de nossa historiografia abrangem desde a descoberta de novas rotas comerciais de espetáculos e companhias, percursos de artistas e empresários teatrais, até o estudo da diversidade de trocas internacionais de métodos, ideias, políticas e saberes, incluindo também o teatro moderno e contemporâneo (Andrade, 2017; Andrade; Balme, 2020; Guenzburger, 2020). .
Um segundo e importante fator para o nosso isolamento acadêmico é a pouca atenção que dedicamos às relações entre estéticas teatrais e contextos socioeconômicos. Tal lacuna historiográfica e sociológica é mais sentida na bibliografia que aborda o teatro brasileiro a partir do chamado teatro moderno e, conforme a pesquisa se aproxima do teatro contemporâneo, a lacuna se intensifica2 2 No esforço de preencher essa lacuna, os autores acabam de organizar, em parceria com a pesquisadora Isabel Penoni, a coletânea de artigos Cenas cariocas: modos, políticas e poéticas teatrais contemporâneas, a ser lançada em 2020 pela editora Garamond (Andrade; Guenzburger; Penoni, 2020). . Esse recorrente menosprezo de dados sociais também tem limitado as possibilidades de se estabelecer mais pontos de contato entre os diversos campos dos estudos teatrais e outras áreas do conhecimento.
A partir do relato crítico de uma conferência internacional sobre Filantropia, Desenvolvimento e as Artes, este artigo pretende contribuir para a abertura de novas perspectivas nos estudos teatrais brasileiros, que abranjam a interação dos processos artísticos com seus contextos tanto socioeconômicos como transnacionais. Em julho de 2018, pudemos constatar que o isolamento acadêmico não é um problema exclusivo do Brasil, mas uma especificidade do estudo das artes no mundo todo, especialmente das artes teatrais. Ao participarmos da conferência Philanthropy, Development and the Arts: Histories and Theories3 3 Site da conferência, disponível em: <https://philanthropyconference2018.wordpress.com>. Acesso em: 16 set. 2020. em Munique, trocamos trabalhos e experiências com vinte pesquisadores dos cinco continentes que tentavam, como nós, inaugurar perspectivas de estudos para fora dos limites nacionalistas e/ou esteticistas.
A conferência foi organizada pelo grupo liderado pelos professores Christopher Balme e Nic Leonhardt, diretores do Centre for Global Theatre Histories, da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique (LMU). O encontro internacional foi uma das ações do projeto Developing Theatre: Building Expert Networks for Theatre in Emerging Countries after 19454
4
Site do projeto disponível em: <http://developing-theatre.de/>. Acesso em: 16 set. 2020.
, que é financiado pelo European Research Council. No intuito de criar parâmetros globais que possibilitem visões transnacionais e transculturais do teatro, o projeto Developing Theatre propõe abordagens sobre fluxos e instituições teatrais, para além do estudo tradicional de peças e espetáculos. Para tanto, o projeto introduz conceitos como os de comunidade epistêmica, redes de experts e tecno-política na pesquisa da história do teatro (Balme, 2017BALME, Christopher. Theatrical institutions in motion: developing theatre in the postcolonial era. Journal of Dramatic Theory and Criticism, Lawrence, v. 31 n. 2, p. 125-140, 2017. Available at: <https://muse.jhu.edu/article/663575>. Accessed on: Mar. 28, 2020.
https://muse.jhu.edu/article/663575...
). O escopo do projeto é o surgimento do teatro profissional em países emergentes a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. O foco é especificamente sobre o envolvimento massivo de instituições e governos dos dois lados da Guerra Fria neste processo histórico de profissionalização do teatro, mediante programas coordenados de desenvolvimento e modernização. Grandes ações e investimentos internacionais, como os que a Rockefeller Foundation realizou no teatro da Nigéria, nos anos de 1950, são alguns dos assuntos que, para serem pesquisados, solicitam do projeto Developing Theatre a interação e a cooperação com pesquisadores de diferentes países5
5
A participação de Maria Helena Werneck em atividades e no conselho editorial do Centre for Global Theatre Histories reforça o caráter pioneiro da pesquisadora quanto ao enfoque transnacional nos estudos teatrais no Brasil. O presente artigo é um dos frutos da troca intelectual de longa data que a autora e o autor têm mantido com a professora Maria Helena. Agradecemos a ela especialmente pela abertura à perspectiva transnacional em nossas pesquisas sobre teatro.
, além de uma variedade transdisciplinar que envolve o interesse pelos meios de produção teatral, por políticas culturais, contextos socioeconômicos, processos de globalização etc.
Nós fomos convidados a apresentar trabalhos nessa conferência por conta do interesse da equipe organizadora pelas temáticas e enfoques envolvidos em nossas pesquisas6 6 Esse convite se estendeu para uma cooperação no primeiro semestre de 2020. No momento da finalização do presente artigo, os autores Clara de Andrade e Gustavo Guenzburger estavam em Munique, trabalhando como pesquisadores fellows no Centre for Global Theatre Histories & Developing Theatre Project. Disponível em: <https://gth.hypotheses.org/1178>. Acesso em: 16 set. 2020. . Através do estudo de caso da Petrobras como patrocinadora das artes via Lei Rouanet, Gustavo Guenzburger apresentou diversos impasses da produção cultural no Brasil, revelando um panorama que, como veremos adiante, mostrou-se análogo a experiências em outros países, mas também diferente de qualquer outra política cultural no mundo (Guenzburger, 2020GUENZBURGER, Gustavo.Rio, o teatro em movimentos: estética, política e modos de produção. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.). Do mesmo modo, Clara de Andrade apresentou sua perspectiva transnacional sobre a expansão do Teatro do Oprimido, realçando a interação do método com as políticas culturais francesas para o desenvolvimento social nos anos de 1970/1980 e sua permanência como uma das metodologias teatrais mais praticadas globalmente (Andrade, 2017ANDRADE, Clara de. Teatro do Oprimido de Augusto Boal na França: transformações locais e expansão transnacional. 2017. 245 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.).
Ao compartilharmos sobre nossas pesquisas na conferência Philanthropy, Development and the Arts, encontramos diversos pontos de contato entre trabalhos realizados por pesquisadores de diferentes partes do mundo, em busca de novas abordagens para os estudos das artes. As possibilidades metodológicas surgidas nesse encontro e seu potencial para os atuais desafios da pesquisa em artes cênicas no Brasil nos impulsionaram à elaboração do presente artigo. O argumento principal é de que, ao se abrirem para um olhar transnacional que leve em conta os meios de produção, os estudos teatrais brasileiros poderão ganhar muito mais força de reverberação em pesquisas de outros países, e vice-versa. No relato crítico de algumas exposições da conferência de Munique7 7 A conferência apresentou um amplo painel com 21 apresentações. Alguns desses trabalhos foram escolhidos para serem discutidos no presente artigo de acordo com as possibilidades de comparações e analogias com casos e enfoques brasileiros. , que apresentamos a seguir, essa hipótese estará sendo experimentada e debatida.
A Filantropia e os Desafios das Políticas Culturais na Contemporaneidade
A conferência de Munique foi enriquecida e influenciada pelas apresentações de dois palestrantes convidados (keynotes), ambos especialistas nas relações das grandes fundações estadunidenses com a política externa daquele país no século XX. O primeiro a se apresentar foi Volker Berghahn8 8 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/berghahn_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. , que atua no Departamento de História da Universidade de Columbia, Nova Iorque, e o segundo foi Inderjeet Parmar9 9 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/parmar_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. , do Departamento de Política Internacional da Universidade de Londres. Os dois pesquisadores mostraram, através de painéis históricos e análises políticas, a trajetória das três grandes fundações norte-americanas do século XX - Ford, Rockefeller e Carnegie - e como elas estiveram ligadas ao esforço de uma elite empresarial norte-americana em construir redes de interesses e de poder, tanto a nível nacional quanto internacional. O contato entre esses especialistas de outras áreas com os pesquisadores em artes teve um efeito profundo na conferência, a julgar pelos debates suscitados. Ao mesmo tempo em que os keynotes focaram na atividade das grandes instituições filantrópicas dos EUA, muitos dos outros pesquisadores presentes na conferência apresentaram os seus estudos in loco sobre os efeitos e resultados das políticas culturais advindas desses processos, em países como Nigéria, Filipinas e Coreia do Sul.
Para o nosso objetivo de descortinar para os estudos teatrais brasileiros alguns padrões socioeconômicos da produção teatral, que podem ser comparáveis aos de outros países, alguns fatos se sobressaem dessa trajetória das grandes fundações. Em primeiro lugar, fica clara a lacuna de nossa historiografia teatral no que diz respeito à influência que essas fundações exerceram no chamado teatro brasileiro moderno, através de bolsas de formação internacionais concedidas a profissionais influentes como José Renato, Augusto Boal e Antonio Abujamra. Outros dados que podem enriquecer a compreensão do teatro brasileiro aparecem no estudo das relações das fundações norte-americanas com o Estado, com as ideias de público, de privado e de liberdades democráticas. Para entendermos essa correspondência, precisamos lembrar que os incentivos indiretos brasileiros, como a Lei Rouanet, foram inspirados, originalmente, no modelo norte-americano das deduções fiscais (Guenzburger, 2020GUENZBURGER, Gustavo.Rio, o teatro em movimentos: estética, política e modos de produção. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.).
A partir desse ponto é possível procurar, na trajetória das fundações estadunidenses, esse parentesco com questões que norteiam a implementação e o funcionamento de nossas políticas culturais. Em ambos os países existe primeiramente a ideia libertária de que o indivíduo, e não o Estado, deveria ser o responsável pela escolha dos projetos culturais. Economicamente, isso se traduziria também na responsabilidade financeira por parte da sociedade civil, mesmo que em parceria com o Estado através de deduções fiscais. O sistema norte-americano concede deduções para quem faz doações particulares, e atua em várias áreas sociais, entre as quais a cultura. Tal sistema facilitou historicamente não só a existência das instituições de fomento ligadas às grandes corporações, como também toda uma ecologia de pequenos doadores - mass-philanthropy - que fomentam o grosso dos recursos em filantropia nos EUA, inclusive aqueles voltados para a cultura e as artes.
Esse ideal de uma sociedade civil atuante nas escolhas e nos financiamentos de projetos culturais nunca chegou a se concretizar no Brasil, em grande parte devido ao desenvolvimento histórico de nossas deduções fiscais à cultura. Nos EUA, praticamente todos - pessoas físicas e jurídicas - pagam algum imposto, e todos podem deduzir, do cálculo desse imposto, parte de suas doações. No Brasil da Lei Rouanet e de seus clones locais, apenas 2% das maiores empresas conseguem fazer uso das deduções legais, que por sua vez são quase sempre integrais, ou seja, totalmente deduzidas do imposto a pagar. O resultado disso é que, na versão brasileira, grandes empresas escolhem os projetos culturais que serão totalmente pagos pelo Tesouro, através das isenções. No caso do teatro e de muitos outros segmentos culturais, essa política, que dificilmente poderia ser chamada de pública, tem sido a última a sobreviver à atual crise fiscal justamente por não estar legalmente sujeita a contingenciamentos orçamentários do governo. O elitismo e o viés antiliberal deste mecanismo de desincentivo ao investimento privado em cultura não são percebidos e nem compreendidos pelos próprios agentes culturais brasileiros, muito menos pela população em geral.
Durante o encontro com pesquisadores de outros países, a dificuldade para explicarmos a eles a peculiaridade e as contradições desse sistema brasileiro se mostrou imensa. No entanto, foi possível perceber que a confusão brasileira entre público e privado guarda alguma semelhança com uma estratégia de apagamento das relações entre o Estado e as grandes fundações norte-americanas. Em sua palestra, o professor Berghahn mencionou que a cooperação das fundações com agências governamentais, como a CIA, foi feita sempre de modo mais ou menos sigiloso - até ser causa de um escândalo em 1967, envolvendo a Fundação Ford10 10 Em seu livro America and the intellectual Cold Wars in Europe, Berghahn (2001) narra os bastidores e consequências da revelação, pela imprensa da época, de várias das operações secretas envolvendo a Ford Foundation e a CIA. . Tanto Berghahn quanto Inderjeet Parmar mostraram ainda, em suas apresentações, como esse borramento de limites entre governo e fundações foi importante para embutir interesses políticos e de Estado dentro das grandes ações de filantropia internacional11 11 Inderjeet Parmar (2014) comenta em seu livro, Foundations of the American century: the Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the rise of Americans power, como a dissimulação das conexões governamentais foi importante para construir a imagem de independência das fundações. Parmar aponta 3 ficções norteadoras e resultantes desse processo, que fez com que as grandes fundações estadunidenses fossem vistas como não estatais, não comerciais e não ideológicas (ou científicas). .
A ambiguidade das relações entre mercado e governo também é um tema importante no caso do Programa Petrobras Cultural que apresentamos na conferência12 12 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/guenzburger_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. . Além de levantar para os pesquisadores estrangeiros muitas questões sobre a Lei Rouanet, também trouxe para o debate problemas específicos de nossa maior usuária desse sistema. Os critérios de escolha de projetos utilizados pela Petrobras são, em grande parte, opostos à lógica geral utilizada por outras empresas que usam a Rouanet, especialmente no que diz respeito à produção teatral. E isso tem fundamento na própria história dessa petrolífera semiestatal.
A Petrobras nasce na década de 1950 de um movimento nacional-populista (O petróleo é nosso), que não só liga as noções de povo e nação, mas também condiciona o progresso desses dois termos ao investimento estatal, o único que, segundo essa lógica, seria capaz de acomodar os interesses do capitalismo aos interesses nacionais e populares. De certa forma, esse modelo ideológico permanece na Petrobras como cultura empresarial, e é considerado o responsável por alguns de seus sucessos.
No campo do investimento cultural, e especialmente no fomento ao teatro, esse quadro ideológico faz com que essa empresa semiestatal conjugue estratégia de marca - a parte capitalista da empresa - com investimento social - a parte pública ou nacionalista. A gerência cultural da Petrobras prioriza, por exemplo, projetos que agregam valores socioeducativos, de patrimônio imaterial e tradições populares. Esse tipo de projeto é normalmente preterido pelas empresas privadas que utilizam a Rouanet. Estas geralmente usam a Lei em busca de retorno midiático - especialmente no teatro - e para o patrocínio de projetos culturais eventuais, sem continuidade no tempo. Quanto à Petrobras, alguns artistas e grupos brasileiros que se destacam nacional e internacionalmente pela inovação tiveram durante muitos anos o apoio continuado da empresa13 13 Nas artes do palco, os exemplos são o Grupo Galpão, Grupo Corpo, Cia Armazém, Cia de Dança Deborah Colker e outros. Alguns desses grupos inclusive continuaram a receber patrocínios da Petrobras mesmo quando a empresa entrou em déficit e por isso deixou de poder usar a Rouanet, a partir de 2012. Em 2019, no entanto, todos esses grupos e cias tiveram seus patrocínios cortados pela nova diretriz da empresa. . Esse tipo de política aproxima a atuação da petrolífera à de algumas das grandes fundações em solo estadunidense. No entanto, nos primeiros meses de 2019, sob o comando do governo neoliberal de extrema-direita de Jair Bolsonaro, a Petrobras já anunciou a suspensão - e provável fim - dos patrocínios culturais, inclusive para os projetos de continuidade.
O que o caso Petrobras Cultural e a Lei Rouanet evidenciam é a indefinição da sociedade brasileira quanto à responsabilidade dos setores público e privado no investimento em desenvolvimento humano no País. No Brasil do século XX, a opção estatal determinou o sucesso da indústria petrolífera. No Brasil do século XXI, a indefinição de papéis mantém a responsabilidade pelo investimento em cultura ainda em aberto.
Durante a conferência Philanthropy, Development and the Arts, ficou inevitável para nós a comparação dessa indefinição brasileira com a extrema incisividade e durabilidade de políticas culturais - atreladas a interesses mercadológicos transnacionais - que marcaram a atuação das grandes corporações norte-americanas no século XX.
Christopher Balme, em sua apresentação de boas-vindas à conferência, mostrou como essas políticas incluíam um esforço de desenvolvimento e manutenção de redes de comunicação que ligavam intelectuais e artistas do mundo todo, especialmente no que diz respeito ao surgimento do teatro profissional em países emergentes. As grandes corporações, ao atuarem através das fundações em parceria com agências ligadas ao governo americano, colocavam em prática uma estratégia que anteviu as redes do meio artístico-intelectual como um campo fundamental na disputa pela hegemonia sobre mercados que emergiam a partir do pós-guerra14 14 Em artigo recente, Christopher Balme (2019) demonstra essa lógica através do exemplo da Nigéria, onde jovens artistas, agentes expatriados e um departamento de estudos teatrais na Universidade de Ibadan receberam apoio da Rockefeller Foundation, em consonância com o Council for Cultural Freedom que, por sua vez, era apoiado pela CIA. .
Vimos até aqui que o olhar transnacional da conferência de Munique expande a compreensão sobre as políticas culturais na contemporaneidade. Na parte a seguir, veremos que essa abordagem também abre, para o campo da historiografia teatral, possibilidades epistemológicas até então impensadas.
Redes Transnacionais e Novas Historiografias para o Teatro
Nic Leonhardt, ao apresentar seu trabalho que integra o projeto Developing Theatre, mostrou como os investimentos da Fundação Rockefeller, para institucionalização e profissionalização do teatro nas Filipinas, nos anos de 1950, fizeram parte de uma clara estratégia de legitimação norte-americana no pós-guerra. A professora alemã se concentra no estudo de caso do diretor e dramaturgo Severino Montano. A partir da análise minuciosa de documentos do Arquivo Rockefeller, Leonhardt identificou que as bolsas e subvenções, concedidas pela Fundação a Montano, impulsionaram a criação do Departamento de Teatro no Philippine Normal College e do movimento Arena Theatre, ambos voltados para a formação de atores, diretores, dramaturgos e técnicos da arte teatral.
Em sua apresentação, Nic Leonhardt também mapeou viagens internacionais do diretor teatral das Filipinas para estudos, intercâmbios e articulação de contatos, financiadas pela corporação norte-americana. Esse estudo de caso exemplifica a maneira com que algumas redes estrategicamente aproveitadas ou construídas por grandes fundações, como a Rockefeller, fortaleciam o teatro profissional em países emergentes, através da seleção e financiamento do trabalho de expertises locais. Leonhardt demonstrou que, para além do dinheiro, o que estava em jogo no estabelecimento dessas pontes culturais era a circulação e implantação de ideias no mundo do pós-guerra15 15 Em artigo recente, Nic Leonhardt (2019) detalha essa lógica de redes no caso de Severino Montano. O artigo narra ainda o alcance nacional que o projeto Arena Theatre, de Montano, alcançou nas Filipinas. .
Essa questão apareceu de maneira semelhante no trabalho do pesquisador alemão Jan Creutzenberg, professor da Ewha Womans University, na Coreia do Sul. O foco de sua apresentação foi a interação do diretor e dramaturgo Yu Chi-jin com a mesma Fundação Rockefeller. Ao conceder recursos para Chi-jin e para a criação do Seoul Drama Center nos anos de 1950/1960, a Fundação tentava atuar na restauração da cena teatral sul-coreana no pós-guerra. Considerando que as políticas norte-americanas já influenciavam a esfera cultural da Coreia do Sul desde o fim da Segunda Guerra, enquanto parte de um esforço global face ao comunismo, Creutzenberg explorou, ainda, a maneira com que agendas geopolíticas, ambições cosmopolitas e interesses financeiros contribuíram para a emergência de uma nova noção de contemporâneo no teatro sul-coreano. A seu ver, o cruzamento entre vanguardas do Ocidente e heranças de performances tradicionais, originado no Seoul Drama Center, evidencia a ideologia direcionada para a globalização16 16 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/creutzenberg_abstract1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. .
As apresentações de Nic Leonhardt e Jan Creutzenberg, realizadas na conferência de Munique, revelaram um ponto em comum nos processos de modernização teatral das Filipinas e da Coreia do Sul nos anos de 1950/1960: a implantação e o desenvolvimento, de maneiras distintas, do teatro em formato de arena. No caso das Filipinas, os investimentos da Fundação Rockefeller possibilitaram o desenvolvimento e a disseminação em escala nacional de práticas, saberes e metodologias do trabalho em arena, que fizeram de Severino Montano o grande modernizador e propagador do teatro em seu país. Segundo Leonhardt (2019)LEONHARDT, Nic. The Rockefeller roundabout of funding: Severino Montano and the development of theatre in the Philippines in the 1950s. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 19-33, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5117>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art...
, Montano provavelmente se inspirou nas ideias do livro Theatre in the round, da estadunidense Margo Jones, ainda que ele nunca tenha admitido essa influência. O diretor das Filipinas afirmava que fazer teatro no formato em arena seria recuperar uma tradição secular do seu país e da própria Ásia. Apesar do grande alcance do seu trabalho, Severino Montano nunca conseguiu realizar o seu sonho de construção de um teatro nacional na capital Manila.
Já no caso da Coreia do Sul, de acordo com Creutzenberg (2019)CREUTZENBERG, Jan. Dreaming of a new theatre in Cold War South Korea: Yu Chi-jin, the Rockefeller Foundation, and the Seoul Drama Center. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 34-53, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5118>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art...
, o diretor Yu Chi-jin sempre manifestou abertamente o seu entusiasmo pelas ideias de Margo Jones, especialmente na campanha que levantou os fundos necessários para a construção de um teatro nacional em formato de arena. Esse projeto, que envolveu o apoio de diversas instituições, inclusive a Rockefeller, se concretizou com a inauguração do Seoul Drama Center em 1962. Nesse período inicial, o teatro construído por Chi-jin não teve o sucesso que o diretor pretendia, quanto à internacionalização da cena sul-coreana. Apenas a partir dos anos de 1970, o edifício ganharia importância em um processo de modernização liderado por uma nova geração de artistas que misturaria elementos da tradição com influências globais.
Essa recorrência de teatros de arena, no mesmo período e em distintos países, nos fez refletir sobre a possibilidade de um novo olhar sobre a nossa própria historiografia teatral, em relação à chegada dessa tendência no Brasil. O diretor e autor José Renato, depois de ter experimentado a disposição em arena como aluno na Escola de Arte Dramática de São Paulo, fundamentou suas pesquisas no mesmo livro de Margo Jones, Theatre in the round, que havia sido trazido dos Estados Unidos pelo crítico Décio de Almeida Prado. A partir dessa experiência, Zé Renato fundou o Teatro de Arena de São Paulo, em 1953, aprofundando a pesquisa do formato em arena - no início com repertório estrangeiro, depois se voltando para a inauguração de uma dramaturgia nacional (Magaldi, 1984MAGALDI, Sábato. Um palco brasileiro: o Arena de São Paulo. São Paulo: Brasiliense, 1984.).
Desse modo, no Brasil, assim como em demais casos de países emergentes, a busca por um teatro nacional se uniu às ideias de modernização e renovação da arte teatral, pela influência direta de vanguardas cosmopolitas que então circulavam. O caso brasileiro confirma, portanto, uma constatação dos trabalhos de Leonhardt e Creutzenberg: a disposição cênica em formato de arena não foi uma manifestação de âmbito estritamente nacional dos Estados Unidos, Filipinas, Coreia do Sul ou Brasil, mas sim uma tendência transnacional que circulou pelo mundo a partir dos anos de 1950.
A trajetória inicial do teatrólogo Augusto Boal aprofunda essa conexão transnacional do Teatro de Arena de São Paulo com vanguardas cosmopolitas - uma conexão que, posteriormente, Boal iria expandir para outras redes em escala global com a criação do Teatro do Oprimido. Ainda na década de 1950, Boal passou um período de aprendizagem em Nova Iorque, onde adquiriu conhecimentos sobre dramaturgia nos seminários de John Gassner na Columbia University e também sobre o método Stanislavski, em aulas a que assistiu no Actor’s Studio. De volta ao Brasil, convidado a trabalhar como diretor do Teatro de Arena, Boal passou a difundir esses conhecimentos para muitos profissionais, através dos célebres Seminários de Dramaturgia e dos laboratórios de interpretação naturalista do Arena.
A rede de contatos tecida internacionalmente pelo próprio Boal desde os anos de 1950/1960, assim como sua posterior vida no exílio, certamente contribuíram, nas décadas seguintes, para a expansão transnacional e crescente legitimação do Teatro do Oprimido pelo mundo (Andrade; Balme, 2020ANDRADE, Clara de; BALME, Christopher. Transnational networks of the Theatre of the Oppressed: the institutionalization of a circulating method. Journal of Global Theatre Histories, Munich, v. 4, n. 1, p. 3-20, July 2020. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5128>. Accessed on: Ago. 11, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art...
). Ainda nos anos de sua atuação junto ao Teatro de Arena, Augusto Boal já figurava como um nome do teatro internacional, tendo realizado turnês com o grupo para os Estados Unidos - por iniciativa de Joanne Pollitzer e Richard Schechner -, e participado seguidas vezes do Festival Internacional de Nancy, na França, a convite do então diretor do Festival, Jack Lang. No fim dos anos de 1970, fase em que Augusto Boal encontrava-se exilado em Paris, o autor e crítico Emile Copfermann, editor de seus livros na França, atuou como peça chave na introdução do Teatro do Oprimido ao público francês, apresentando o trabalho de Boal para o meio artístico-intelectual e estabelecendo pontes cada vez mais sólidas com nomes influentes, como o próprio Jack Lang - que logo se tornaria ministro da Cultura no governo de François Mitterrand (Andrade, 2014ANDRADE, Clara de. O exílio de Augusto Boal: reflexões sobre um teatro sem fronteiras. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.; 2017ANDRADE, Clara de. Teatro do Oprimido de Augusto Boal na França: transformações locais e expansão transnacional. 2017. 245 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.).
O caso que apresentamos na conferência, sobre a institucionalização e expansão que o Teatro do Oprimido (TO) ganhou a partir da França17 17 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/andrade_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. , evidenciou que o novo contexto político e cultural francês foi especialmente favorável para a sobrevivência e propagação do método. Tal contexto abriu ao TO a possibilidade de se adaptar e se integrar a políticas estatais construídas por um governo socialista. No início dos anos de 1980, o suporte financeiro das novas políticas públicas de Mitterrand para a cultura contribuiu fortemente para a implantação do Teatro do Oprimido na França, através de projetos realizados em centros sociais espalhados por todo o país. Ao atuar principalmente pela via das políticas de democracia cultural, o TO encontrou meios de se institucionalizar e se multiplicar de forma exponencial e autônoma. Expandiu-se para além das fronteiras francesas e passou a ser utilizado em diversos países da Europa, África e Ásia, organizando-se em redes transnacionais de praticantes (Andrade, 2017ANDRADE, Clara de. Teatro do Oprimido de Augusto Boal na França: transformações locais e expansão transnacional. 2017. 245 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.).
Essa expansão transnacional do Teatro do Oprimido se inseriu em uma mudança global na noção de cultura e no fomento às artes. Naquele momento, o teatro como um todo questionou o modelo de alta cultura, direcionando-se também a projetos em que atuasse como ferramenta para o desenvolvimento social. De fato, Augusto Boal encontrou os meios de sistematizar e disseminar o seu método em escala transnacional justamente na medida em que o TO passou a ser praticado como metodologia social, contribuindo diretamente para o campo do Teatro para o Desenvolvimento (Andrade; Balme, 2020ANDRADE, Clara de; BALME, Christopher. Transnational networks of the Theatre of the Oppressed: the institutionalization of a circulating method. Journal of Global Theatre Histories, Munich, v. 4, n. 1, p. 3-20, July 2020. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5128>. Accessed on: Ago. 11, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art...
).
O Teatro para o Desenvolvimento também foi abordado por outras apresentações na conferência de Munique. Kennedy C. Chinyowa, professor na Tshwane University of Technology, em Pretoria, na África do Sul, apresentou em seu trabalho as problemáticas relacionadas a intervenções artístico-sociais voltadas para a redução do impacto do HIV e da Aids em Malawi - país que possui um dos dez maiores índices do vírus no mundo.
Ao focar sobre o projeto Make Art/Stop Aids, patrocinado pela Art and Global Health Centre, Chinyowa argumentou que, apesar das pesquisas centradas sobre os participantes demonstrarem o benefício das iniciativas de teatro aplicado, contradições de base surgiram no âmbito dessas ações que vêm frustrando os esforços das intervenções. A seu ver, ainda que a Art and Global Health Centre tenha boas intenções enquanto patrocinadora de projetos sociais em comunidades rurais, o gesto filantrópico da instituição é carregado de incoerências. Segundo o professor da universidade sul-africana, intervenções dirigidas por órgãos externos à comunidade tendem a se afastar do foco sobre as pessoas diretamente envolvidas no projeto, criando um modelo de financiamento que acaba se tornando mais opressor que libertador18 18 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/chinyowa_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. . A partir de sua extensa pesquisa in loco e de seu próprio lugar de fala enquanto pesquisador nascido no Zimbabwe, Kennedy C. Chinyowa tornou evidente a questão do olhar paternalista da filantropia sobre o outro, uma reflexão fundamental para toda a conferência, a ser considerada também em estudos sobre projetos filantrópicos sediados no Brasil19 19 O professor Chinyowa desenvolve o olhar sobre esse tipo de contradição em artigo de 2013 (Chinyowa, 2013). .
Redes que agregam projetos de arte e cultura como desenvolvimento explicitam, para os estudos teatrais, a necessidade de apropriação de ferramentas das ciências sociais. Por outro lado, esse enfoque social tem sido até hoje pouco explorado na pesquisa de outras formas de teatro. Na academia, o chamado teatro de arte tem sido considerado geralmente apenas pelo seu viés estético. No entanto, veremos a seguir que um estudo de caso apresentado em Munique demonstrou o potencial de contribuição de um olhar sociológico para a análise de objetos ligados à ideia de um teatro de vanguarda.
Por Novas Epistemologias Teatrais
Helleke Van den Braber, professora da Radboud University Nijmegen, mostrou em Munique seu estudo das cartas que o teatrólogo Edward Gordon Craig trocou com mecenas e patrocinadores20 20 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/van-den-braber_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. . Só o foco dessa pesquisa já chamaria a atenção em um país como o Brasil, onde o patrocínio é um paradigma tão universal na produção teatral quanto é ignorado pela pesquisa acadêmica. Van den Braber usa o caso Craig para tentar mostrar como, no começo do século XX, o compromisso entre mecenas e artista aparecia como uma necessidade para a profissionalização de um determinado tipo de teatro, que buscava sua autonomia frente ao sustento comercial da bilheteria21 21 Recentemente, a pesquisadora publicou sobre os modelos de mecenato do século XIX (Van den Braber, 2017b) e sobre a relação entre Gordon Craig e sua mecenas Marguerite Caetani (Van den Braber, 2017a). .
Gordon Craig contou com pelo menos 32 mecenas ou patrocinadores - até então identificados pela pesquisadora -, dos quais obteve maiores ou menores benefícios materiais e imateriais. Nas 450 cartas analisadas pela professora holandesa, aparecem estratégias negociais e linguísticas envolvidas em trocas de capitais e jogos de legitimação. No estudo dessas estratégias se revela, por exemplo, uma faceta desconhecida de Craig: a do artista de estética revolucionária que solicitou patrocínio durante anos, sem que para isso citasse uma única vez a palavra dinheiro. Tal termo nunca poderia ser explicitado nas negociações, pois seria indigno tanto do ponto de vista do aristocrata mecenas quanto do artista desapegado da instrumentalidade do teatro comercial.
Ao analisar essas estratégias de legitimação, Van den Braber localizou a busca de Gordon Craig por patrocínios dentro da dinâmica de disputas por posições sociais descrita pelo sociólogo Pierre Bourdieu (2011)BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2011.. Segundo a teoria de Bourdieu, o desapego material da arte seria o critério usado por camadas antigas e poderosas da sociedade burguesa para validar seus hábitos culturais, suas posições sociais, seu poder frente a outras frações ascendentes. Quanto mais ligada à ideia de alta cultura e menos interessada em retorno comercial, mais forte seria o papel da arte como fiadora deste jogo de distinções e disputas sociais.
Nesse ponto, a pesquisa da professora holandesa confirmou metodologias que estamos começando a utilizar pioneiramente na pesquisa teatral brasileira, especialmente para o estudo de novos padrões de legitimação artística que o teatro brasileiro adota a partir dos anos de 1980. A sociologia dos fazeres e hábitos culturais se mostrou uma ferramenta crucial para a compreensão da chegada ou surgimento de estéticas pós-modernas e pós-dramáticas no Brasil, assim como da consolidação das vertentes experimentalistas e as consequentes mudanças nos meios de produção teatral (Guenzburger, 2020GUENZBURGER, Gustavo.Rio, o teatro em movimentos: estética, política e modos de produção. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.).
Esse tipo de olhar sociológico tem se mostrado o mais capaz, até aqui, de colocar alguma luz sobre um teatro que migrava de uma prática massiva e de bilheteria para uma dinâmica curatorial e de marketing, centrada no patrocínio. Apenas o estudo das tensões e jogos de legitimação social desse teatro em mutação poderia explicar, por exemplo, o sucesso, a polêmica e as mudanças estéticas desencadeadas pela presença do encenador Gerald Thomas no Rio de Janeiro, a partir de 1985, ano em que voltou à sua cidade natal depois de um começo de carreira promissor em Nova Iorque.
Para se compreender o fenômeno da volta triunfal de Thomas em toda sua complexidade, foi necessário fazer, também com ajuda de Bourdieu, o mapeamento das disputas internas do campo da produção, e localizá-lo dentro da reorganização por que passava a sociedade brasileira do pós-ditadura. Assim como o Gordon Craig do estudo de Helleke Van den Braber, o Gerald Thomas que surge desse mapeamento social é o jogador que anteviu as novas regras de legitimação do teatro. Esse caráter o definiu como o diretor cosmopolita e inventivo que criou e importou não só novas estéticas, mas principalmente os novos meios para sua realização no Brasil. Nesse sentido, Thomas foi o primeiro grande nome da era do patrocínio no teatro brasileiro, uma era que, apesar de ameaçada, persiste até hoje (Guenzburger, 2019GUENZBURGER, Gustavo. Transnationality, sponsorship and post-drama: “The Flash and Crash Days” of Brazilian theatre. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 1, p. 1-15, Apr. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5099>. Accessed on: Mar. 19, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art...
; 2020).
Do mesmo modo, somente um olhar que considera esse jogo de influências, no campo da política cultural no pós-ditadura, pode explicar as distintas recepções nas chegadas de Augusto Boal e Gerald Thomas, dois encenadores que voltavam ao Brasil e ao Rio de Janeiro no ano de 1985. A compreensão da enorme diferença na receptividade dos dois artistas é um exemplo claro do ganho epistemológico proposto neste artigo. Thomas, jovem diretor exitoso no teatro de vanguarda nova-iorquino, foi recebido como um gênio em 50 citações, entrevistas e reportagens no Jornal do Brasil, principal veículo de imprensa em circulação no Rio de Janeiro. Boal, após quinze anos de exílio e já famoso mundialmente pelo Teatro do Oprimido, ao retomar no meio brasileiro sua bem sucedida carreira de diretor no teatro convencional, foi alvo de uma campanha de perseguição pelo mesmo Jornal do Brasil. A condição de Boal enquanto pós-exilado, identificado com a esquerda histórica e que volta do exílio após sucesso internacional, influenciou diretamente a recepção do primeiro espetáculo de sua volta - O corsário do rei. A intensa discussão suscitada pelo espetáculo na mídia jornalística e na classe teatral da época acabou servindo como estopim para um debate sobre política cultural e sua relação com o Estado. A recusa da sociedade brasileira pós-ditadura a toda forma de interferência estatal na cultura fez com que o Boal diretor de espetáculos não reencontrasse o seu espaço no métier do teatro de arte dos anos de 1980. Essa dificuldade de reinserção se acentuou pela inconformidade das ideias de Boal ao novo esquema de legitimação do marketing cultural em ascensão (Andrade, 2014ANDRADE, Clara de. O exílio de Augusto Boal: reflexões sobre um teatro sem fronteiras. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.).
Diferentemente, portanto, de Gerald Thomas, a legitimação do teatro desenvolvido por Augusto Boal a partir de seu exílio se realizou pela sua integração ao campo das políticas do teatro como desenvolvimento social, e não como entretenimento artístico. Essa diferença de inserção só se revela pelo entendimento de como a estética e o discurso desses dois artistas se relacionaram com os novos modos de produção e o neoliberalismo crescente do Brasil dos anos de 1980.
Museus e Ambiguidades entre o Público e o Privado
No Brasil do século XXI, o neoliberalismo aplicado à política cultural se realiza em uma mistura de discurso privatizante com prática de desinvestimento público. O exemplo máximo a ser seguido é sempre o dos Estados Unidos, símbolo de cultura livre, porque baseada em mercado. A ignorância brasileira sobre as nuances, exceções, contextos e problemas surgidos a partir do fomento privado norte-americano à cultura ajuda a criar e manter esse mito. A resposta imediata do governo federal sobre o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, ocorrido em 2018, ilustra bem esse quadro ideológico: o problema não era o descaso financeiro com o museu, mas o fato de sua gestão ser estatal. Dois dias depois do incêndio o governo publicava as medidas provisórias 850 e 851 (Brasil, 2018aBRASIL. Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de Museus - Abram e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 2018a. Available at: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv850.htm>. Accessed on: Sept. 10, 2020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At...
; 2018bBRASIL. Medida Provisória nº 851, de 10 de setembro de 2018. Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 2018b. Available at: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv851.htm>. Accessed on: Sept. 10, 2020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At...
), que extinguiram o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), autarquia referência em políticas públicas e resultado de lutas históricas na Museologia, para criar a Agência Brasileira de Museus (ABRAM), de direito privado. A ideia, a partir de então, seria captar recursos privados para fundos patrimoniais de museus, como acontece nos Estados Unidos. Nessa mudança foram ignorados tanto o histórico brasileiro de pouco interesse no investimento privado à cultura - fora da isenção fiscal integral da Lei Rouanet -, quanto os graves problemas decorrentes dessa prática em outros países.
A relação problemática dos museus norte-americanos com o mercado de filantropia das artes apareceu claramente em pelo menos duas apresentações da conferência de Munique. Professora da Universidade Estadual da Califórnia, a israelense Nizan Shaked mostrou em seu trabalho22 22 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/shaked_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. que a caracterização de interesse público é usada na justificativa para a captação de recursos pelos museus americanos, mas logo depois esquecida nos critérios de escolha artística e na opacidade de suas transações financeiras. A pesquisadora demonstrou que esse sistema - análogo de certa forma à nossa Lei Rouanet - usa a noção de utilidade pública para servir a agendas privadas de uma determinada casta de agentes no mercado das artes. Muitas vezes, os agentes culturais que determinam qual artista será valorizado pelos museus são os mesmos investidores que obtêm lucros com a compra e a venda de suas obras no mercado dos colecionadores privados. Entre alguns resultados desse sistema elitista, baseado na isenção de impostos, estão muitas limitações estéticas e omissões nas programações dos museus, além de restrições ideológicas à cultura como um todo23 23 Em artigo de 2019, a professora Nizan Shaked argumenta que esse tipo de contradição na forma como a sociedade civil estadunidense se organiza em torno do terceiro setor faz parte de um espectro de vulnerabilidades que favoreceram, naquele país, a ascensão do trumpismo, do neofascismo, ou do que ela prefere chamar de econo-fascismo (Shaked, 2019). .
Algumas dessas restrições se fazem sentir fortemente no trabalho que o professor Antonio Cuyler, da Universidade da Flórida, apresentou sobre a captação de recursos e a equidade cultural nos Estados Unidos24 24 Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/cuyler_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020. . Ele mostrou que, lá também, a filantropia às artes pode ser um fator de aumento das desigualdades. Nos EUA, grandes organizações culturais sem fins lucrativos, com orçamentos anuais superiores a 5 milhões de dólares, representam apenas 2% do mercado e, no entanto, recebem mais de 50% das doações. Apenas 10% do total das doações vão para as artes que beneficiam populações marginalizadas, como as de baixa renda, com necessidades especiais, ou as comunidades negra, latina, LGBTQI+ e outras25 25 Em artigo de 2019, o professor Cuyler sugere para as fundações um papel de liderança estratégica na busca por justiça criativa, definida por ele como “(...) a manifestação de todas as pessoas que vivem vidas criativas e expressivas em seus próprios termos” (Cuyler, 2019). .
Extrema Direita, Neoliberalismo e Conservadorismo Cultural
Com a recente eleição de um governo de extrema-direita, ficou evidente no Brasil a tendência de o Estado se ausentar, cada vez mais, da responsabilidade pelo fomento às artes e à cultura. Isso acontece por vários fatores. Em primeiro lugar, a ideologia neoliberal é levada às últimas consequências pela direita contemporânea dos países emergentes. Apesar da histórica participação estatal no desenvolvimento industrial desses países, hoje a maior parte de sua classe política considera o Estado mínimo como uma condição para se atingir o desenvolvimento e a estabilidade. Em segundo lugar, a ascensão do conservadorismo nos costumes começa não só a pôr em xeque o papel do Estado enquanto fomentador de cultura, como também requisita dele uma função de regulação moral, sob a forma de censura às artes. A base política do governo Bolsonaro é em grande parte dominada por lideranças evangélicas neopentecostais que travam, hoje, uma verdadeira guerra cultural contra artistas e professores, que por sua vez vêm sendo tratados como perversores dos bons costumes e parasitas do dinheiro público. No caso do teatro, a Lei Rouanet tem sido vista, dentro desse discurso, como um grande sustentáculo de artistas esquerdistas e aproveitadores.
Com a histórica ausência de tradição filantrópica particular e os recentes cortes de recursos públicos, o estrangulamento econômico de setores como ciência, tecnologia e cultura é hoje uma realidade no Brasil. O esvaziamento político da atuação intelectual não é apenas uma consequência, mas um objetivo desse processo. Se aqui ele ainda se encontra em estágio inicial e sem um final definido, o contato com pesquisadores de outros países nos revelou realidades análogas em estágios bem mais avançados.
Duas semanas antes da conferência em Munique, estivemos em Belgrado, na Sérvia, para o congresso anual da International Federation for Theatre Research (IFTR), que no ano de 2018 teve como tema os fluxos entre teatro e migrações: Theatre and Migration - Theatre, Nation and Identity: Between Migration and Stasis. O contato que tivemos com pesquisadores e artistas turcos nos proporcionou uma ideia da gravidade da censura e do retrocesso na situação das políticas culturais na Turquia26 26 Em 2014, os autores foram convidados a ministrar workshops no Festival Internacional de Teatro de Antalya, no sul da Turquia. Os nomes dos pesquisadores e artistas turcos com quem conversamos na Turquia, na Alemanha e na Sérvia, não serão mencionados aqui como medida de proteção contra possíveis retaliações. . Se pensarmos que a Turquia é um dos poucos países no mundo - junto com China, Rússia, Alemanha e parte do leste Europeu - com tradição de teatros e elencos públicos e estatais, podemos ter ideia da transformação recente que o governo Erdoğan implementou no setor, principalmente após os expurgos que se seguiram à tentativa de golpe em 2015. No congresso anterior da IFTR, realizado em São Paulo, em 2017, houve inclusive uma mesa em teleconferência com professores universitários turcos, que haviam sido recentemente obrigados a se exilar. O discurso ultraliberal na economia e ultraconservador nos costumes, usado pelas forças políticas ligadas ao islamismo radical que apoiam Erdoğan, guarda algumas analogias com a gramática neopentecostal que sustenta o atual governo brasileiro. A mais evidente delas, até agora, é o ataque a professores e artistas desalinhados com o governo, e a consequente inviabilização de uma esfera pública democrática para os debates nacionais27 27 Em 2016, intelectuais e acadêmicos que assinaram uma petição contra o massacre e a deportação do povo curdo passaram a sofrer perseguições, prisões, demissões e processos por parte do governo (Weaver, 2016). .
Considerações Finais
Os exemplos discutidos neste trabalho demonstram como a inclusão de contextos socioeconômicos e transnacionais pode potencializar o alcance e a comunicação dos estudos teatrais. Questões e práticas que parecem exclusivamente locais revelam-se recorrentes em vários países. Da mesma forma, enfoques e metodologias de pesquisa aplicadas em determinado país se mostram úteis para discutir realidades completamente distintas, desde que os contextos institucionais e de produção sejam levados em conta.
Nesse sentido, a indefinição brasileira entre os setores público e privado quanto à responsabilidade no investimento à cultura pôde ser realçada aqui pela comparação entre as políticas culturais da Petrobras e das grandes fundações estadunidenses. Por outro lado, esse mesmo tipo de indefinição apareceu no caso das políticas para museus nos Estados Unidos, onde recursos públicos alimentam um mercado que rende muitos lucros para investidores particulares.
O olhar transnacional permite, por exemplo, uma nova historiografia para o movimento do Teatro de Arena de São Paulo. Confrontado com os casos das Filipinas e da Coreia do Sul, o grupo paulista deixa de ser visto apenas como um símbolo da luta por um teatro verdadeiramente brasileiro, para fazer parte de uma política global de modernização de teatros nacionais.
O papel conector de Augusto Boal entre o Brasil e as vanguardas cosmopolitas que agenciaram esse gênero de políticas fica claro na trajetória internacional do teatrólogo: primeiro como importador de saberes atoriais e dramatúrgicos, depois como criador e exportador de metodologias teatrais que circularam pelo mundo. A própria característica global do Teatro do Oprimido só é compreensível quando unimos, em uma mesma perspectiva, a transnacionalidade de suas redes e sua adaptabilidade a mudanças mundiais nas modalidades de fomento ao teatro e à cultura.
Do mesmo modo, o estudo da diferença entre as recepções dos filhos pródigos Augusto Boal e Gerald Thomas, no Brasil da Nova República, nos mostrou a necessidade de uma sociologia dos modos de produção teatrais. Só ela é capaz de explicar, nesse caso, a rejeição da mídia ao teatro rotulado como de esquerda e a adaptabilidade do teatro de vanguarda ao novo mundo do marketing cultural no pós-ditadura.
Além da confirmação metodológica embutida em cada um dos casos aqui apresentados, algo mais crucial sobressai de nosso relato crítico da conferência de Munique: o desafio da sobrevivência tanto da produção como da pesquisa de teatro e cultura. O intercâmbio com pesquisadores da Turquia nos mostra que, em países que passam por processos reacionários como o nosso, essas atividades também estão hoje sob a mira do governo e de determinados setores da sociedade. Faz-se urgente o entendimento da globalidade desse fenômeno e das formas com que o mesmo se apresenta em cada contexto.
Nessa nova realidade de ataque a professores e artistas28 28 Quanto à guerra aos artistas no Brasil, um bom resumo se encontra em recente reportagem do jornal O Globo (Aragão, 2020). Em relação ao ataque à comunidade científica brasileira, o caso mais emblemático até agora foi o do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, exonerado por Bolsonaro depois que este contestou dados sobre o desmatamento da Amazônia (Pontes, 2019). , ambos passam a ter que justificar e defender a existência de suas atividades, que correm o risco de extinção. O caminho apontado na conferência de Munique, e no presente artigo, fortalece essas possibilidades de defesa, ao estabelecer ligações entre pontos antes aparentemente desconectados. Se quisermos compreender os fluxos transnacionais do teatro, das artes, da educação e da cultura, seremos convocados a refletir sobre suas condições materiais e sociais que, atualmente, estão sob ataque.
Artistas e pesquisadores, ao estudarem seus campos de atuação a partir desse olhar expandido, já estarão fabricando as ferramentas que irão garantir a sua resistência e sobrevivência em um futuro próximo. Frente à onda crescente de ideologias regressivas, cabe aos intelectuais e profissionais da arte e da cultura construírem seus próprios movimentos de solidariedade e resistência, atuando, criando e pesquisando em redes transnacionais.
Notes
-
1
O livro Rotas de Teatro entre Portugal e Brasil (Werneck; Reis, 2012WERNECK, Maria Helena; REIS, Angela de Castro (org.). Rotas de teatro entre Portugal e Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.) apresenta pela primeira vez em nosso país as bases do programa Global Theatre Histories e se afirma como uma exceção no campo da nossa historiografia teatral. A busca das autoras e organizadoras por tecer pontes transatlânticas, em rotas teatrais do século XIX e início do XX, estende a visão sobre a formação do teatro brasileiro para um diâmetro mais amplo, além da ideia de nação. Aplicações atuais desse enfoque em outros âmbitos de nossa historiografia abrangem desde a descoberta de novas rotas comerciais de espetáculos e companhias, percursos de artistas e empresários teatrais, até o estudo da diversidade de trocas internacionais de métodos, ideias, políticas e saberes, incluindo também o teatro moderno e contemporâneo (Andrade, 2017ANDRADE, Clara de. Teatro do Oprimido de Augusto Boal na França: transformações locais e expansão transnacional. 2017. 245 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.; Andrade; Balme, 2020ANDRADE, Clara de; BALME, Christopher. Transnational networks of the Theatre of the Oppressed: the institutionalization of a circulating method. Journal of Global Theatre Histories, Munich, v. 4, n. 1, p. 3-20, July 2020. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5128>. Accessed on: Ago. 11, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art... ; Guenzburger, 2020GUENZBURGER, Gustavo.Rio, o teatro em movimentos: estética, política e modos de produção. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.). -
2
No esforço de preencher essa lacuna, os autores acabam de organizar, em parceria com a pesquisadora Isabel Penoni, a coletânea de artigos Cenas cariocas: modos, políticas e poéticas teatrais contemporâneas, a ser lançada em 2020 pela editora Garamond (Andrade; Guenzburger; Penoni, 2020ANDRADE, Clara de; GUENZBURGER, Gustavo; PENONI, Isabel (org.). Cenas cariocas: modos, políticas e poéticas teatrais contemporâneas. Rio de Janeiro: Garamond, 2020. ).
-
3
Site da conferência, disponível em: <https://philanthropyconference2018.wordpress.com>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
4
Site do projeto disponível em: <http://developing-theatre.de/>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
5
A participação de Maria Helena Werneck em atividades e no conselho editorial do Centre for Global Theatre Histories reforça o caráter pioneiro da pesquisadora quanto ao enfoque transnacional nos estudos teatrais no Brasil. O presente artigo é um dos frutos da troca intelectual de longa data que a autora e o autor têm mantido com a professora Maria Helena. Agradecemos a ela especialmente pela abertura à perspectiva transnacional em nossas pesquisas sobre teatro.
-
6
Esse convite se estendeu para uma cooperação no primeiro semestre de 2020. No momento da finalização do presente artigo, os autores Clara de Andrade e Gustavo Guenzburger estavam em Munique, trabalhando como pesquisadores fellows no Centre for Global Theatre Histories & Developing Theatre Project. Disponível em: <https://gth.hypotheses.org/1178>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
7
A conferência apresentou um amplo painel com 21 apresentações. Alguns desses trabalhos foram escolhidos para serem discutidos no presente artigo de acordo com as possibilidades de comparações e analogias com casos e enfoques brasileiros.
-
8
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/berghahn_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
9
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/parmar_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
10
Em seu livro America and the intellectual Cold Wars in Europe, Berghahn (2001)BERGHAHN, Volker R. America and the intellectual Cold Wars in Europe: Shepard Stone between philanthropy, academy, and diplomacy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. narra os bastidores e consequências da revelação, pela imprensa da época, de várias das operações secretas envolvendo a Ford Foundation e a CIA.
-
11
Inderjeet Parmar (2014)PARMAR, Inderjeet. Foundations of the American century: The Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the rise of Americans power. New York: Columbia University Press, 2014. comenta em seu livro, Foundations of the American century: the Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the rise of Americans power, como a dissimulação das conexões governamentais foi importante para construir a imagem de independência das fundações. Parmar aponta 3 ficções norteadoras e resultantes desse processo, que fez com que as grandes fundações estadunidenses fossem vistas como não estatais, não comerciais e não ideológicas (ou científicas).
-
12
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/guenzburger_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
13
Nas artes do palco, os exemplos são o Grupo Galpão, Grupo Corpo, Cia Armazém, Cia de Dança Deborah Colker e outros. Alguns desses grupos inclusive continuaram a receber patrocínios da Petrobras mesmo quando a empresa entrou em déficit e por isso deixou de poder usar a Rouanet, a partir de 2012. Em 2019, no entanto, todos esses grupos e cias tiveram seus patrocínios cortados pela nova diretriz da empresa.
-
14
Em artigo recente, Christopher Balme (2019)BALME, Christopher. Building theatrical epistemic communities in the Global South: expert networks, philanthropy and theatre studies in Nigeria 1959-1969. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 3-18, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5119>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art... demonstra essa lógica através do exemplo da Nigéria, onde jovens artistas, agentes expatriados e um departamento de estudos teatrais na Universidade de Ibadan receberam apoio da Rockefeller Foundation, em consonância com o Council for Cultural Freedom que, por sua vez, era apoiado pela CIA. -
15
Em artigo recente, Nic Leonhardt (2019)LEONHARDT, Nic. The Rockefeller roundabout of funding: Severino Montano and the development of theatre in the Philippines in the 1950s. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 19-33, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5117>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/art... detalha essa lógica de redes no caso de Severino Montano. O artigo narra ainda o alcance nacional que o projeto Arena Theatre, de Montano, alcançou nas Filipinas. -
16
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/creutzenberg_abstract1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
17
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/andrade_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
18
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/chinyowa_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
19
O professor Chinyowa desenvolve o olhar sobre esse tipo de contradição em artigo de 2013 (Chinyowa, 2013CHINYOWA, Kennedy C. A poetic of contradictions? HIV/AIDS interventions at the crossroads of localization and globalization. Matatu, Amsterdam, v. 43, n. 1, Jan. 2013. Available at: <https://brill.com/view/journals/mata/43/1/article-p203_13.xml>. Accessed on: Mar. 22, 2020.
https://brill.com/view/journals/mata/43/... ). -
20
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/van-den-braber_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
21
Recentemente, a pesquisadora publicou sobre os modelos de mecenato do século XIX (Van den Braber, 2017bVAN DEN BRABER, Helleke. Reciprocal interactions and complex negotiations: three nineteenth-century models of patronage, European Journal of English Studies, London, v. 21, n. 1, p. 43-60, 2017b.) e sobre a relação entre Gordon Craig e sua mecenas Marguerite Caetani (Van den Braber, 2017aVAN DEN BRABER, Helleke. My intention is just to entertain you a little: the patronage relationship between Edward Gordon Craig and Marguerite Caetani. In: FIORANI, Caterina; TORTORA, Massimiliano (org.). Il Novecento di Marguerite Caetani. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2017a.).
-
22
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/05/shaked_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
23
Em artigo de 2019, a professora Nizan Shaked argumenta que esse tipo de contradição na forma como a sociedade civil estadunidense se organiza em torno do terceiro setor faz parte de um espectro de vulnerabilidades que favoreceram, naquele país, a ascensão do trumpismo, do neofascismo, ou do que ela prefere chamar de econo-fascismo (Shaked, 2019SHAKED, Nizan. Looking the other way: art philanthropy, lean government, and econo-fascism in the USA. Third Text, London, v. 33, n. 3, p. 1-21, 2019.).
-
24
Resumo disponível em: <https://philanthropyconference2018.files.wordpress.com/2018/02/cuyler_abstract.pdf>. Acesso em: 16 set. 2020.
-
25
Em artigo de 2019, o professor Cuyler sugere para as fundações um papel de liderança estratégica na busca por justiça criativa, definida por ele como “(...) a manifestação de todas as pessoas que vivem vidas criativas e expressivas em seus próprios termos” (Cuyler, 2019CUYLER, Antonio C. The role of foundations in achieving creative justice. GIA Reader, New York, v. 30, n. 1, 2019. Available at: <https://www.giarts.org/role-foundations-achieving-creative-justice>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
https://www.giarts.org/role-foundations-... ). -
26
Em 2014, os autores foram convidados a ministrar workshops no Festival Internacional de Teatro de Antalya, no sul da Turquia. Os nomes dos pesquisadores e artistas turcos com quem conversamos na Turquia, na Alemanha e na Sérvia, não serão mencionados aqui como medida de proteção contra possíveis retaliações.
-
27
Em 2016, intelectuais e acadêmicos que assinaram uma petição contra o massacre e a deportação do povo curdo passaram a sofrer perseguições, prisões, demissões e processos por parte do governo (Weaver, 2016WEAVER, Matthew. Turkey rounds up academics who signed petition denouncing attacks on Kurds. The Guardian, London, Jan. 15, 2016. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/turkey-rounds-up-academics-who-signed-petition-denouncing-attacks-on-kurds>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
https://www.theguardian.com/world/2016/j... ). -
28
Quanto à guerra aos artistas no Brasil, um bom resumo se encontra em recente reportagem do jornal O Globo (Aragão, 2020ARAGÃO, Helena. Após a demissão de Roberto Alvim, como fica a guerra cultural no governo Bolsonaro? O Globo, Rio de Janeiro, 18 jan. 2020. Available at: <https://oglobo.globo.com/cultura/apos-demissao-de-roberto-alvim-como-fica-guerra-cultural-no-governo-bolsonaro-24198352>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
https://oglobo.globo.com/cultura/apos-de... ). Em relação ao ataque à comunidade científica brasileira, o caso mais emblemático até agora foi o do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, exonerado por Bolsonaro depois que este contestou dados sobre o desmatamento da Amazônia (Pontes, 2019PONTES, Nadia. “Não podemos nos calar”, diz ex-diretor do Inpe sobre censura. Deutsche Welle, Berlin, Ago. 17, 2019. Available at: <https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-podemos-nos-calar-diz-ex-diretor-do-inpe-sobre-censura/a-50060602>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-podemo... ). -
Este texto inédito também se encontra publicado em inglês neste número do periódico.
References
- ANDRADE, Clara de. O exílio de Augusto Boal: reflexões sobre um teatro sem fronteiras. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.
- ANDRADE, Clara de. Teatro do Oprimido de Augusto Boal na França: transformações locais e expansão transnacional. 2017. 245 f. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, Rio de Janeiro, 2017.
- ANDRADE, Clara de; BALME, Christopher. Transnational networks of the Theatre of the Oppressed: the institutionalization of a circulating method. Journal of Global Theatre Histories, Munich, v. 4, n. 1, p. 3-20, July 2020. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5128>. Accessed on: Ago. 11, 2020.
» https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5128 - ANDRADE, Clara de; GUENZBURGER, Gustavo; PENONI, Isabel (org.). Cenas cariocas: modos, políticas e poéticas teatrais contemporâneas. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.
- ARAGÃO, Helena. Após a demissão de Roberto Alvim, como fica a guerra cultural no governo Bolsonaro? O Globo, Rio de Janeiro, 18 jan. 2020. Available at: <https://oglobo.globo.com/cultura/apos-demissao-de-roberto-alvim-como-fica-guerra-cultural-no-governo-bolsonaro-24198352>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
» https://oglobo.globo.com/cultura/apos-demissao-de-roberto-alvim-como-fica-guerra-cultural-no-governo-bolsonaro-24198352 - BALME, Christopher. Theatrical institutions in motion: developing theatre in the postcolonial era. Journal of Dramatic Theory and Criticism, Lawrence, v. 31 n. 2, p. 125-140, 2017. Available at: <https://muse.jhu.edu/article/663575>. Accessed on: Mar. 28, 2020.
» https://muse.jhu.edu/article/663575 - BALME, Christopher. Building theatrical epistemic communities in the Global South: expert networks, philanthropy and theatre studies in Nigeria 1959-1969. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 3-18, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5119>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
» https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5119 - BERGHAHN, Volker R. America and the intellectual Cold Wars in Europe: Shepard Stone between philanthropy, academy, and diplomacy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001.
- BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2011.
- BRASIL. Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de Museus - Abram e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 2018a. Available at: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv850.htm>. Accessed on: Sept. 10, 2020.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv850.htm - BRASIL. Medida Provisória nº 851, de 10 de setembro de 2018. Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 set. 2018b. Available at: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv851.htm>. Accessed on: Sept. 10, 2020.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv851.htm - CHINYOWA, Kennedy C. A poetic of contradictions? HIV/AIDS interventions at the crossroads of localization and globalization. Matatu, Amsterdam, v. 43, n. 1, Jan. 2013. Available at: <https://brill.com/view/journals/mata/43/1/article-p203_13.xml>. Accessed on: Mar. 22, 2020.
» https://brill.com/view/journals/mata/43/1/article-p203_13.xml - CREUTZENBERG, Jan. Dreaming of a new theatre in Cold War South Korea: Yu Chi-jin, the Rockefeller Foundation, and the Seoul Drama Center. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 34-53, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5118>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
» https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5118 - CUYLER, Antonio C. The role of foundations in achieving creative justice. GIA Reader, New York, v. 30, n. 1, 2019. Available at: <https://www.giarts.org/role-foundations-achieving-creative-justice>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
» https://www.giarts.org/role-foundations-achieving-creative-justice - GUENZBURGER, Gustavo. Transnationality, sponsorship and post-drama: “The Flash and Crash Days” of Brazilian theatre. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 1, p. 1-15, Apr. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5099>. Accessed on: Mar. 19, 2020.
» https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5099 - GUENZBURGER, Gustavo.Rio, o teatro em movimentos: estética, política e modos de produção. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.
- LEONHARDT, Nic. The Rockefeller roundabout of funding: Severino Montano and the development of theatre in the Philippines in the 1950s. Journal of Global Theatre History, Munich, v. 3, n. 2, p. 19-33, Nov. 2019. Available at: <https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5117>. Accessed on: Mar. 20, 2020.
» https://gthj.ub.uni-muenchen.de/gthj/article/view/5117 - MAGALDI, Sábato. Um palco brasileiro: o Arena de São Paulo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- PARMAR, Inderjeet. Foundations of the American century: The Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the rise of Americans power. New York: Columbia University Press, 2014.
- PONTES, Nadia. “Não podemos nos calar”, diz ex-diretor do Inpe sobre censura. Deutsche Welle, Berlin, Ago. 17, 2019. Available at: <https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-podemos-nos-calar-diz-ex-diretor-do-inpe-sobre-censura/a-50060602>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
» https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-podemos-nos-calar-diz-ex-diretor-do-inpe-sobre-censura/a-50060602 - SHAKED, Nizan. Looking the other way: art philanthropy, lean government, and econo-fascism in the USA. Third Text, London, v. 33, n. 3, p. 1-21, 2019.
- VAN DEN BRABER, Helleke. My intention is just to entertain you a little: the patronage relationship between Edward Gordon Craig and Marguerite Caetani. In: FIORANI, Caterina; TORTORA, Massimiliano (org.). Il Novecento di Marguerite Caetani Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2017a.
- VAN DEN BRABER, Helleke. Reciprocal interactions and complex negotiations: three nineteenth-century models of patronage, European Journal of English Studies, London, v. 21, n. 1, p. 43-60, 2017b.
- WEAVER, Matthew. Turkey rounds up academics who signed petition denouncing attacks on Kurds. The Guardian, London, Jan. 15, 2016. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/turkey-rounds-up-academics-who-signed-petition-denouncing-attacks-on-kurds>. Accessed on: Mar. 23, 2020.
» https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/turkey-rounds-up-academics-who-signed-petition-denouncing-attacks-on-kurds - WERNECK, Maria Helena; REIS, Angela de Castro (org.). Rotas de teatro entre Portugal e Brasil Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.
Editado por
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Jan 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
01 Ago 2019 -
Aceito
08 Abr 2020