RESUMO
Em Lisboa, as feiras e os seus divertimentos foram uma das mais concorridas manifestações da cultura popular durante a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Entre os divertimentos oferecidos, o teatro era um dos mais apreciados, mas a história apenas guardou a memória das barracas que, nas feiras, passaram a apresentar repertório declamado (comédias, paródias, mágicas e revistas). Votadas ao esquecimento ficaram as barracas de arlequins e saltimbancos, trupes ambulantes que, de terra em terra, apresentavam acrobacias, pantomimas e cenas cómicas. Este artigo pretende trazer à ribalta práticas de teatro popular outrora ‘esquecidas’, como as trupes de arlequins e os seus espetáculos, redefinindo a sua importância no contexto da época e da História do Teatro em Portugal.
Palavras-chave:
Feiras; Teatro; Arlequins; Ginastas; Parada
RESUMÉ
À Lisbonne, les foires et leurs divertissements ont été l’une des manifestations les plus frequentées de la culture populaire au cours de seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Parmi les divertissements proposés, le théâtre était l’un des plus appréciés, mais l’histoire n’a gardé que le souvenir des échoppes qui, dans les foires, commençaient à présenter un répertoire récité (comédies, parodies, féries et revues). Les tentes des arlequins et des saltimbancos, troupes itinérantes qui, d’un pays à l’autre, présentaient des acrobaties, des pantomimes et des scènes comiques, ont été oubliées. Cet article vise à remettre en lumière des pratiques théâtrales populaires autrefois ‘oubliées’, telles que les troupes d’arlequins et leurs spectacles, en redéfinissant leur importance dans le contexte de l’époque et de l’histoire du théâtre au Portugal.
Mots-clés:
Foires; Théâtre; Arlequins; Gymnastes; Parade
ABSTRACT
In Lisbon, the fairs and their amusements were one of the most popular manifestations of popular culture during the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. Among the entertainment on offer, theater was one of the most appreciated, but history has only kept the memory of the shacks that, in the fairs, began to feature a recited repertoire (comedies, parodies, magic and revues). The tents of harlequins and saltimbancos, itinerant troupes that went from place-toplace performing acrobatics, pantomimes, and comic sketches, were forgotten. This article aims to highlight popular theater practices that were once ‘forgotten’, such as the troupes of harlequins and their shows, redefining their importance in the context of the time and the history of theater in Portugal.
Keywords:
Fairs; Theatre; Harlequins; Gymnasts; Parade
“- É entrar senhores! É entrar! Vai principiar a função. Vai principiar. Comprem os seus bilhetes!” (A Revolução de Setembro, 26-10-1860, p. 2). Assim gritavam os palhaços na varanda das barracas de arlequins e saltimbancos que se multiplicavam nas feiras de Lisboa, publicitando a função que estava sempre prestes a começar, mas que não arrancava enquanto a sala não estivesse bem composta: “- Olhem que vai começar o espetáculo, faltam apenas duas pessoas!” (A Revolução de Setembro, 26-10-1860, p. 2). Depois rompia a música, com dois acrobatas a “tocar trombetas”, o palhaço “caixa de rufo”, o arlequim-mor a bater desesperado os pratos e as dançarinas recostadas “à porta do estabelecimento sobre um estrado para tentarem o público com os seus encantos” (A Revolução de Setembro, 26-10-1860, p. 2). Dentro das barracas a algazarra não seria menor com o desfilar de exercícios ginásticos, trabalhos em trapézio, cambalhotas, pantomimas, bailados, poesia e a música sempre infernal do pandeiro, dos clarinetes e dos trombones como pano de fundo.
De onde brotava, de onde saía a vasta arlequinada que enchia as feiras e que andava de terra em terra ao som de uma trombeta e de um tambor, era pergunta para a qual poucos tinham resposta. Muitos já ‘nasciam’ arlequins, entre os saltos e cambalhotas num largo de feira e as palhaçadas numa qualquer praça em dias de festa, não lhes restando outra hipótese senão a de seguir as pisadas de pai e mãe, também eles arlequins de ‘nascimento’. Outros, quase todos oriundos das camadas mais desfavorecidas da população, cedo se tornavam artistas errantes, encontrando nas trupes ambulantes uma hipótese de sobrevivência e subsistência ou a possibilidade de mostrar as habilidades a que se tinham dedicado. Nas feiras de Lisboa (e do resto do país), chegaram a dominar os divertimentos durante vários anos, multiplicando-se as companhias e a vozearia que irrompia das varandas das barracas em noites de função.
Em Lisboa, em meados do século XIX, as companhias de arlequins começavam por se instalar na Feira das Amoreiras (durante a primavera), rumando depois à Feira de Belém (nos meses de verão), terminando a temporada na Feira do Campo Grande (já na altura do outono). De entre o rol de divertimentos oferecidos no recinto das feiras, o teatro sempre foi um dos mais apreciados, mas essa predileção foi sendo arredada dos escritos da elite de então e consequentemente das narrativas da história do teatro em Portugal. Embora alguns autores abordem o tema de modo mais amplo, como é o caso de Mário Costa (1950)COSTA, Mário. Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa. Lisboa: Município de Lisboa, 1950., na obra Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa, fazem-no de forma pouco precisa, com referências mais abrangentes aos teatros erguidos a partir da década de 1870, altura em que, nas feiras, algumas trupes começam a replicar o repertório dos teatros mais populares da cidade, apresentando comédias, dramas e melodramas. Votada ao esquecimento ficava a tradição anterior de pantomimas e acrobacias, misturadas com ditos satíricos, publicitados nas célebres paradas, mimetizadas do teatro de feira francês.
Este artigo pretende resgatar a prática de arlequins e saltimbancos, um teatro essencialmente circense, com os apreciados funâmbulos, ginastas e prestidigitadores, mas também os inevitáveis cómicos e bailarinas, que usavam da declamação, da música, da mímica e da dança para contar as suas histórias. O artigo resulta de uma investigação mais abrangente - a tese de doutoramento É entrar senhores, é entrar! Teatro de Feira em Lisboa: 1850 e 19191 1 Tese de doutoramento em Estudos de Teatro, apresentada à Faculdade de Le-tras da Universidade de Lisboa, em 2017. No âmbito da investigação, já foram publicados os artigos: Teatro de Feira: O genuíno popular do público erudito, em Diffractions - Graduate Journal for the Study of Culture, Issue 4, Spring 2015 e Teatro de Feira: Entre a prática e a representação, in Théâtre: esthétique et pouvoir (Tome 1): De Lántiquité classique au XIX siècle. Paris: Éditions Le Manuscrit, 2016, p. 329-342. - assente numa intensa pesquisa documental em arquivos e bibliotecas nacionais (Arquivo Nacional da Torre do Tombo e Biblioteca Nacional) e municipais (Arquivo Municipal de Lisboa - Histórico, Arco do Cego e Fotográfico -, Arquivo Municipal de Loures e Gabinete de Estudos Olisiponenses, etc.), mas também na consulta sistemática de jornais e revistas, de forma a permitir um levantamento tão exaustivo quanto possível da prática. Vários escritos, produzidos por jornalistas e cronistas que vivenciaram de perto a realidade, demonstram que a tradição não pode nem deve ser secundarizada, assumindo-se como prática incontornável entre 1850 e 1880 e a génese do que viria a ser considerado, mais tarde, teatro de feira.
A essência das primeiras barracas de arlequins e saltimbancos nas feiras de Lisboa residia nos espetáculos, que lembravam as representações de outros tempos - acrobacias, pantomimas, danças e palhaçadas, misturadas com cenas ao jeito das soties da Idade Média e dos “arremedilhos e escarneos” lusitanos (Pinheiro Chagas, 1872PINHEIRO CHAGAS, Manuel. Diário Ilustrado, Lisboa, p. 1, 17 jul. 1872., p. 1) -, mas também nas paradas, com os seus palhaços reclamistas, assim chamados por fazerem, nas varandas dos teatros de arlequins, os reclames falados, gritados ou cantados das peças, com a ajuda dos mais barulhentos instrumentos. As paradas eram de tal forma apreciadas que muitos destes palhaços acabariam por ficar famosos, graças às entusiastas, hilariantes e ruidosas intervenções que faziam, para cativar o público para a função. Joaquim Confeiteiro e Taínha Charuteiro, ‘reclamistas’ das barracas dos irmãos Dallot - dois irmãos franceses que trabalharam em vários circos antes de erguerem os seus próprios teatrosbarraca -, seriam recordados muito para lá do fim das afamadas feiras.
Nos primitivos barracões atuavam companhias ao estilo das que são descritas em obras como Roman Comique (1651-1657), de Paul Scarron (1757)SCARRON, Paul. Roman Comique. 3 v. (1ª ed. 1651-1657) Paris: Durant, Pissot, 1757., ou Le Capitaine Fracasse (1863), de Théophile Gautier (1866)GAUTIER, Théophile. Le Capitaine Fracasse. (1ª ed. 1863). Paris: Charpentier, Libraire-Éditeur, 1866.: trupes ambulantes que andavam de terra em terra, apresentando espetáculos de poucos argumentos mas suficientemente atrativos para captar a atenção do público. O modelo, herdeiro da commedia dell’arte e do teatro de feira em França, tem reminiscências mais longínquas, que remontam à cultura popular da Idade Média ou talvez à antiguidade clássica, com a figura que durante o século XVI ganharia a denominação de Arlequim (um dos Zanni da commedia dell’arte) em primeiro plano.
As características ancestrais de Arlequim - simpático e divertido trapalhão acrobata - ou a influência que a commedia dell’arte e a sua figura mais famosa (precisamente pelas habilidades que era capaz de desenvolver) exerceram nas companhias de funâmbulos, podem estar na origem da designação genérica de ‘arlequins’, mais tarde extensível aos saltimbancos que não integravam apenas acrobacias no seu repertório e que podiam nem se apresentar com o figurino do mais famoso Zanni da comédia italiana. Será difícil identificar a altura exata em que os acrobatas itinerantes começam também a ser designados arlequins - uma das muitas denominações que foram tendo ao longo dos tempos -, embora seja quase certo o seu relacionamento com as companhias de commedia dell’arte e com a ‘apropriação’ dos gestos, do figurino e da comicidade de uma das suas mais populares figuras.
A denominação parece remontar à altura em que os cómicos italianos já atuavam em vários pontos da Europa, com especial destaque para França, onde a sua influência se estendeu aos espetáculos de feira. Nas atuações parisienses, a personagem de Arlequim - sem dúvida uma das preferidas dos que assistiam às funções - dominava grande parte das apresentações das companhias italianas, sendo comum a multiplicação do célebre criado de Bérgamo nas peças apresentadas. Na verdade, quando se instala em França de modo permanente, a comédia italiana e as suas personagens vão sofrendo algumas alterações, relacionadas sobretudo com a dificuldade dos espectadores em entenderem uma língua que não era a sua: “Enquanto em Itália os comediantes podiam contar com uma constante assistência de espectadores familiarizados com as suas obras, que podiam disfrutar com as diferentes formas com que os atores improvisavam as cenas, em França tinham que estudar outros métodos para atrair o público”2 2 Tradução livre. No original: “Mientras que en Italia los comediantes podían contar con una constante asistencia de espectadores familiarizados con las obras y que disfrutaban con las diferentes formas en que los actores improvisaban las escenas, en Francia tenían que estudiar ostros métodos de atraer el público” (Nicoll, 1977, p. 180). (Nicoll, 1977NICOLL, Allardyce. El Mundo de Arlequín: Estudio Crítico de la Commedia dell’arte. Barcelona: Barral Editores, 1977., p. 180). De acordo com Allardyce Nicoll (1977NICOLL, Allardyce. El Mundo de Arlequín: Estudio Crítico de la Commedia dell’arte. Barcelona: Barral Editores, 1977., p. 180-182), essas formas passavam sobretudo por efeitos cénicos espetaculares, com a presença de múltipla maquinaria (que em Itália só era utilizada em obras trágicas), pelo aumento das exibições individuais e pela ampliação da pantomima nas representações. Personagens como Arlequim, cuja acentuada fisicalidade já fazia parte da exigência da personagem, ganham contornos que intensificam ainda mais a sua histriónica movimentação.
Não admira, por isso, que nas feiras de Saint-Laurent e SaintGermain, muito antes da expulsão dos cómicos italianos do Hotel de Bourgogne3 3 As primeiras companhias italianas entraram em França durante o reinado de Carlos IX, sob a regência de Catarina d’Médici. Fizeram sucesso as trupes de Zan Ganassa, Gelosi, Accesi e Fideli, entre tantas outras que, a partir de meados do século XVII, começam a dar representações regulares na capital francesa. Atraíam uma grande multidão ao Petit-Bourbon e ao Palais Royal (espaços que partilham com Molière) e, mais tarde, ao Hotel de Bourgogne, onde se instalam em 1680 e permanecem até 1697, ano em que “[...] vários comentários indiscretos numa das suas obras [La Fausse Prude] provocam a cólera de Madame de Maintenon, a favorita do rei, e uma ordem real os obriga a partirem com lágrimas nos olhos” (Nicoll, 1977, p. 179). , os funâmbulos já se fizessem valer das características das personagens que mais sucesso obtinham, com especial destaque para a figura de Arlequim. Para executarem as suas habilidades, próximas da gestualidade acrobática do criado da comédia italiana, não hesitavam os saltimbancos em ostentar a famosa indumentária de remendos coloridos, “apropriando-se” igualmente da gestualidade trapalhona que tanto divertia os parisienses, introduzindo nos exercícios funâmbulos um elemento cómico até então inexistente. Na companhia Allard4 4 Uma das companhias que se apresentava nas feiras em França. , por exemplo, era comum os dois irmãos, Charles e Pierre, executarem os seus exercícios “um com o traje de Arlequim e o outro com o de Scaramouche”5 5 Tradução livre. No original: “l’un sous le costume d’Arlequin et l’autre, sous celui de Scraramouche» (Vissière; Vissière, 2000, p.7). (Vissière; Vissière, 2000VISSIÉRE, Isabelle; VISSIÉRE, Jean-Louis (Int. e Notas). Théâtre de la Foire. Lisboa: Desjonquères, 2000., p. 7). Após a expulsão dos cómicos italianos (em 1697), as companhias funâmbulas instaladas nas feiras parisienses começam, de forma mais insistente, a integrar as habilidades cómicas nos seus espetáculos e a misturar exercícios acrobáticos com pequenas cenas dialogadas. Nas grandes companhias, a evolução dos espetáculos converte o acrobata Arlequim em ator das comédias de Lesage e Orneval, enquanto nas pequenas trupes é perpetuada a tradição dos saltimbancos, em que a figura de Arlequim continua a ser a do cómico acrobata.
A primeira notícia que se conhece da passagem de uma companhia de arlequins por Lisboa data de 1596, quando dois dançarinos de corda apresentaram as suas habilidades na capital portuguesa, embora a designação de “arlequins” seja atribuída, a posteriori, por Ribeiro Guimarães (1873)GUIMARÃES, J. Ribeiro. Sumário de vária história. V. 3. Lisboa: Rolland & Semiond, 1873., já durante o século XIX (e não quando os artistas passam pela capital portuguesa). A data é comumente referida como a mais antiga raiz do espetáculo circense em Portugal, uma vez que os exercícios se mostravam mais próximos dos apresentados pelas trupes circenses do que pelas teatrais, apesar de, nas feiras, essa fronteira praticamente não existir. Durante muitos anos, os arlequins são o único modelo de teatro reconhecido naquele contexto e a partir do qual os espetáculos se vão reconfigurando (com sucessivas transformações) até se tornarem maioritariamente declamados.
De acordo com Ribeiro Guimarães, uma curiosa coleção de notícias manuscritas relativas, na sua maioria, à segunda metade do século XVI, dá conta da passagem pela capital portuguesa de uma companhia italiana de acrobatas volatins, no já referido ano de 1596. A ajuizar pelo “espanto do autor da relação”, segundo escreve Ribeiro Guimarães (1873GUIMARÃES, J. Ribeiro. Sumário de vária história. V. 3. Lisboa: Rolland & Semiond, 1873., p. 167), parece que até esse ano nunca tinham vindo a Lisboa “volatins ou dançarinos de corda”, apesar de se tratar de um divertimento ou exercício muito antigo, já apresentado inclusivamente pelos romanos. Na obra Sumário de Vária História, o autor manifesta a sua admiração pelo facto de, só naquele ano, passarem por terras lusitanas arlequins do género, uma vez que em França, e no resto da Europa, há muito se executavam exercícios semelhantes. “Vindo naquele tempo tantos estrangeiros a Lisboa”, continua Ribeiro Guimarães (1873GUIMARÃES, J. Ribeiro. Sumário de vária história. V. 3. Lisboa: Rolland & Semiond, 1873., p. 167), era de “estranhar que os arlequins não concorressem às pomposas festas” que na cidade se faziam. O autor oitocentista apelida a dupla italiana de arlequins, mas a designação é atribuída à luz do século XIX, altura em que essas companhias eram presença habitual em feiras e praças circenses. Parece certo que, durante o século XIX, as companhias de funâmbulos ou acrobatas recebiam a designação genérica de arlequins (termo que abarcava um vasto número de atividades), sendo burlantins ou volatins os homens que dançavam na maroma, nome que era dado à corda onde realizavam o exercício. Numa altura em que se “julgava que só por artes diabólicas se podia dançar na corda”, o autor da notícia do século XVI descreve o que viu como “admirável e espantoso” (apud Guimarães, 1873GUIMARÃES, J. Ribeiro. Sumário de vária história. V. 3. Lisboa: Rolland & Semiond, 1873., p. 168).
Com o passar dos anos, as companhias de acrobatas e funâmbulos tornam-se mais regulares em terras lusitanas. Apresentavam-se os arlequins (ora apelidados de funâmbulos, volantins, dançarinos de corda ou acrobatas) em feiras, festas ou, já no decorrer do século XVIII, em teatros, praças de touros ou praças circenses. Durante o último quartel do século XVIII surgem várias notícias de apresentações de companhias acrobatas em Lisboa. Na primeira metade do século XIX, os espetáculos de arlequins intensificam-se com as apresentações a sucederem-se em espaços teatrais e depois também em praças circenses (permanentes ou ambulantes) que vão sendo edificadas: Circo Olímpico, Praça do Salitre, Circo Madrid, Circo Nacional Amor da Pátria, Circo Lisbonense, Praça da Rua da Procissão, Novo Ginásio Lisbonense, entre muitas outras. Nas décadas de 1830 e 1840 surgem vários requerimentos na documentação do Ministério do Reino (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), para a realização de espetáculos ginásticos, nomeadamente no Circo Olímpico, Praça do Salitre e Circo Madrid. Encontram-se também requerimentos para apresentação de espetáculos ginásticos, em pequenos teatros montados na cidade, como é o caso do pedido do francês João Baptista Menay que, em 1849, solicita licença para apresentar exercícios ginásticos, num pequeno teatro que estabelecera na Rua Larga de S. Roque (Portugal, 1849PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1849., Livro 1224, f. 211). Este teatro seria, muito provavelmente, bastante semelhante às barracas de madeira que, por esta altura, começam a ser montadas nos recintos das feiras de Lisboa.
Multiplicados os espaços, intensificam-se as apresentações de espetáculos ginásticos e avolumam-se os artistas que se dedicam à sua prática, fazendo engrossar os requerimentos para a realização de exercícios do género. No entanto, só a partir da década de 1850 surgem pedidos específicos para a apresentação de espetáculos de arlequins (ou ginásticos) nas feiras de Lisboa, mais precisamente na Feira do Campo Grande. É bastante provável que, antes dessa data, algumas companhias já exibissem habilidades nas feiras da capital, tamanha era a circulação de artistas nas praças circenses, mas não foi possível confirmar essa presença em nenhuma das feiras que se realizavam, à altura, em Lisboa, quer devido à inexistência de pedidos de licenciamento na documentação do Ministério do Reino e do Arquivo Municipal de Lisboa, com data anterior a 1850, quer devido ao reduzido número de notícias sobre estes eventos nos periódicos nacionais. Na realidade, até 1869 - ano em que a concessão de licenças para teatros e espetáculos públicos passa a ser da responsabilidade do Governo Civil - são bastante diminutos os requerimentos que solicitam a realização de espetáculos em feiras (Campo Grande, Amoreiras ou Belém), sendo a maioria dos pedidos para a realização de exercícios durante um determinado período (três meses, seis meses ou um ano), em qualquer terra do reino. Muitas companhias de arlequins (ou referenciadas como companhias ginásticas) terão por certo apresentado os seus espetáculos nas feiras de Lisboa, mesmo sem solicitar a respetiva licença nesse sentido. À partida, não seria obrigatório licenciamento específico para a realização dos espetáculos nas feiras quando a companhia já tinha obtido licenciamento da Inspeção Geral dos Teatros para atuar em qualquer terra do reino, sendo necessário, isso sim, uma nova autorização para instalar o divertimento na feira, junto da entidade responsável pelo evento, tal como acontecia com as barracas de venda dos mais variados produtos.
Na Feira do Campo Grande - que em meados do século XIX era uma das mais concorridas, por ser aquela onde as famílias burguesas faziam o abastecimento de vários produtos -, os primeiros requerimentos existentes na documentação do Ministério do Reino datam de 1850, embora seja bastante provável que os arlequins já ali se instalassem bem antes dessa data. Em 1850, no decorrer do mês de outubro, Joaquim da Costa de Oliveira solicita licença para “dar espetáculos de arlequins no Campo Grande, durante a feira” (Portugal, 1850PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1850., Livro 1225, f. 21, 03-10) que ali teria lugar, enquanto Júlia Bosco solicita autorização para, durante todo o mês de outubro, “dar espetáculos de esgrima e ginástica no Campo Grande, a fim de adquirir meios para tirar nova licença” (Portugal, 1850PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1850., Livro 1225, f. 19, 11-10). No caso de Júlia Bosco, embora o pedido não especifique tratar-se da feira, o mais certo é ter sido ali que apresentou os seus espetáculos, uma vez que a feira se realizava durante o mês de outubro. Já no ano anterior, a mesma Júlia Bosco solicitara que lhe fosse permitido “dar espetáculos ginásticos com uma companhia” de que era diretora, em acumulação com a autorização que obtivera “para dar academia de florete” (Portugal, 1849PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1849., Livro 1224, f. 230, 27-08). Com autorização para apresentar espetáculos em qualquer terra do reino durante um ano, é possível que, já em 1849, Júlia Bosco tenha estado com a sua companhia ginástica na Feira do Campo Grande.
Nos anos seguintes sucedem-se os pedidos de companhias ginásticas para dar espetáculos na Feira do Campo Grande, na capital ou em qualquer outra parte do reino. Em 1851, António Morais, diretor de uma companhia de artistas ginásticos, solicita licença para estabelecer uma barraca na Feira do Campo Grande, para ali dar espetáculos durante o período em que decorria o evento (Portugal, 1851, Maço 3557, proc. 349, 08-10). No ano seguinte (1852), surge um requerimento de Vicente Vítor, representante de uma companhia ginástica, para apresentar os seus exercícios na Feira do Campo Grande e em qualquer parte do reino. Um esclarecimento incluído no ofício do Governador Civil de Lisboa permite pensar que a companhia de Vicente Vítor já devia ter estado em anos anteriores na feira, embora em nome do mesmo requerente não apareça qualquer solicitação nesse sentido:
Cumpre-me informar V. Exª que tendo ouvido a respeito desta pretensão o Administrador do Bairro de Alfama6 6 Nesta altura, Lisboa estava dividida em 34 freguesias, repartidas por quatro bairros ou distritos criminais - Alcântara, Alfama, Bairro Alto e Rossio -, de forma a melhor gerir o policiamento e o funcionamento da justiça. , inspetor da referida Feira, este Magistrado declara em um ofício datado de hoje, que tendo a companhia de que se trata trabalhado nos anos anteriores naquela localidade, sem que daí resultassem alguns inconvenientes, parece que nenhum haverá em que se lhe conceda agora a licença que requer (Portugal, 1852, Maço 3560, proc. 418, 25-09).
Os pedidos de licenciamento de companhias ginastas ou de arlequins vão aumentando com o passar dos anos. A presença nas feiras torna-se mais apetecível quando estes certames estendem a sua duração por um ou dois meses, permitindo às companhias uma receita avultada, sem necessidade de grandes deslocações. No arranque da Feira das Amoreiras, em 1866, a Gazeta de Portugal (22-05-1866, p. 2) faz saber que ali se encontram “divertimentos para todos os paladares”, nomeadamente “arlequins, cosmoramas, gabinetes de física, salas de canto, etc., etc. E tudo barato!”. Os preços convidativos destes divertimentos populares levavam cada vez mais público às feiras, permitindo que estes se multiplicassem, ampliassem e diversificassem, barracas de arlequins incluídas. Em 1866, uma das companhias de arlequins instalada na Feira das Amoreiras era “lírico-ginástica7 7 Se atendermos aos pedidos de licenciamento de 1866, é possível que seja a compa-nhia de José Arjona, que solicita licença a 17 de maio (a feira arranca a 20), para espetáculos de física, ginástica, canto (Portugal, 1866, Maço 3632, proc. 404, 17-05). “ (As Notícias, 03-071866, p. 2), enquanto no Campo Grande se apresentavam “duas barracas de arlequins, com músicas celestiais compostas de bumbos, trombones, pratos, caixa de rufo e melodiosos clarinetes” (Diário de Notícias, 16-10-1866, p. 2). Em Belém, de acordo com a estatística das barracas armadas, estariam no recinto do ajuntamento, em 1866, quatro barracas de ginástica e um cosmorama8 8 Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivo Histórico, Câmara Municipal de Be-lém, documentação avulsa referente a “Feiras e Mercados”. .
A partir de 1866, tornam-se regulares os pedidos de licenciamento da companhia dos irmãos Dallot - dois irmãos franceses que se tornaram autênticas estrelas nas feiras de Lisboa -, assim como a presença nas feiras, com especial destaque para a Feira das Amoreiras, onde cedo começam por se destacar entre as demais barracas de arlequins. Em 1867, o Jornal de Lisboa (15-06-1867, p. 3) refere-se à “barraca francesa de arlequins” (possivelmente a dos irmãos Dallot) como aquela que sobressaía “incontestavelmente” pelo “bom gosto, asseio, boa iluminação de gás”, mas, sobretudo, pela forma engraçada como atraía os espectadores, referindo-se, muito provavelmente, às suas paradas. No entender do periódico, era naquela barraca que se encontravam “as melhores diversões”. Ainda durante o ano de 1866, na Feira do Campo Grande, instalam-se duas companhias de arlequins, uma das quais, de acordo com o Diário de Notícias, propriedade de José António Paixão:
A barraca dos arlequins intitulada Companhia das Maravilhas das Montanhas de Penas Cozas ostenta-se entre lonas de variegadas cores e vários quadros com os exercícios de um cão na alta escola, e creio que para opulência de rima puseram-lhe adiante Não é parola. Há os arlequins e pelotiqueiros do Sr. José António Paixão, que para surpreender a turba embasbacada dirige-se ao público dizendo-lhe: Meus senhores, esta companhia chegou da América inglesa, ponto geográfico que todos os artistas da referida ignoram (Diário de Notícias, 17-10-1867, p. 2).
Nos anos seguintes, mantém-se o ritmo relativamente à quantidade de pedidos de licenciamento, com várias companhias a diversificarem ainda mais as suas funções (certamente para fazerem face à elevada concorrência) e a solicitarem mais do que uma licença ao longo do ano. Para 1867, por exemplo, foi possível identificar 15 pedidos de licenciamento:
-
- Júlio Mariani e Henrique Hertansani: licença de seis meses para continuarem a apresentar uma coleção de ratas sábias, diferentes animais ferozes e trabalhos de ginástica (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 342, 17-03);
-
- Joaquim António Paixão: licença de seis meses para apresentar uma compa-nhia volante ginástica, cómica e com exposição de figuras de cera (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 442, 30-04);
-
- Marcos Cazalli: licença de um ano para dar espetáculos ‘compostos de exercí-cios equestres, ginásticos e acrobáticos’ (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 485, 13-05);
-
- Joseph Dallot: licença de seis meses para apresentar os exercícios da compa-nhia volante, ginástica, física e de teatro mecânico, da qual é diretor (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 512, 18-05);
-
- José Bazolla: licença de seis meses para dar espetáculos com uma companhia volante ginástica e equestre223 (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 540, 2305);
-
- António José Machado: licença de seis meses para apresentar a sua companhia ginástica, uma coleção de figuras de cera e um teatro mecânico (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3635, proc. 540, 07-06);
-
- José Arnosi: licença para dar espetáculos públicos de cavalinhos e quadros vi-vos (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3637, proc. 788, 23-07);
-
- Carlos Simões de Oliveira: seis meses de licença para trabalhar com a sua companhia ‘Dramática, Ginástica, Acrobática, Física e Figuras de cera’ (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3637, proc. 995, 14-09);
-
- Domingos da Costa: licença de três meses para dar espetáculos de exercícios ginásticos e fazer exposição pública de uma coleção de figuras de cera (Lisboa, 1867LISBOA. Governo Civil de Lisboa. Registo de alvarás expedidos. NT 184 NR 0506. Lisboa, 1867., Livro 11, Reg. 106, f. 9 v e 10, 14-09);
-
- Romão Martins: licença de seis meses para dar espetáculos de ginástica, física, cenas cómicas e fazer exposição pública de um cosmorama e outros espetáculos próprios de circo (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3637, proc. 1035, 01-10);
-
- Júlio Mariani: seis meses de licença para dar espetáculos de física, ginástica, ra-tas sábias e fazer exposição pública de um cosmorama, e exposição de vários animais e outros espetáculos próprios de circo (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3637, proc. 1039, 02-10);
-
- José Bazolla: licença de um ano para dar representações de dança, ginástica, corda forte horizontal, física, companhia de cavalos, cosmorama e outros divertimentos próprios de circo (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3638, proc. 1206, 12-11); - Francisco Aranda e Companhia, artistas ginásticos: licença de seis meses para ‘trabalhar pela sua arte e juntamente também com bonecos’ (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3638, proc. 1276, 23-11);
-
- Frutuoso de Sousa: seis meses de licença para dar espetáculos de teatro mecâ-nico, ginástica, física e quadros dissolventes e outros próprios de circo (Portugal, 1867PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1867., Maço 3638, proc. 1335, 11-12);
-
- Manuel Lopez Gaston: licença de seis meses para dar representações com uma com-panhia equestre e ginástica (Lisboa, 1867LISBOA. Governo Civil de Lisboa. Registo de alvarás expedidos. NT 184 NR 0506. Lisboa, 1867., Livro 11, Reg. 142, f. 22v e 23, 04-12).
Segundo o Diário Popular (02-06-1868, p. 2), em 1868 estavam instaladas na Feira das Amoreiras “três barracas de arlequins e uma outra onde se mostra[va] um tigre marinho”, enquanto na Feira de Belém, entre outros divertimentos, podiam ser apreciadas três barracas de arlequins, duas de figuras de cera, um circo e dois cicloramas (Diário Popular, 15-09-1868, p. 2). Entre os divertimentos, o jornal destaca o teatro mecânico de Francisco Aranda e José Lorador (que, de acordo com a licença solicitada, também devia apresentar espetáculos ginásticos).
São relativos a 1868 os últimos pedidos de licenciamento que foi possível encontrar na documentação do Ministério do Reino. Quando a competência da concessão de licenças para teatros e espetáculos públicos passa a ser responsabilidade do Governo Civil, os pedidos desaparecem dos arquivos do Ministério do Reino, não tendo sido possível encontrá-los na documentação do Governo Civil de Lisboa. Em 1868, foram identificados 11 pedidos de licenciamento de companhias ginásticas.
Tal como os primeiros funâmbulos das feiras parisienses, as companhias de arlequins que povoaram as feiras de Lisboa, no século XIX, executavam os seus exercícios em barracões de madeira sem grandes condições. Eram, segundo descreve Mário Costa (1950COSTA, Mário. Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa. Lisboa: Município de Lisboa, 1950., p. 128), “simples tábuas forradas de lona já muito estafada”, com o revestimento da parte superior, “de pano ainda mais velho”, e a plateia, “muito rudimentar”, composta apenas de “grosseiras tábuas pregadas a toscos barrotes assentes em chão de terra”. À frente da barraca era montado um pequeno estrado ou varanda (nas barracas mais elaboradas) a servir de parada, onde os palhaços ou arlequins, com a ajuda de um bombo e de uma trombeta, tocada pelos músicos da companhia, “esgrimiam” argumentos em alta voz para cativar o público para a função.
Uma companhia de arlequins completa, como a que o jornalista e folhetinista Júlio César Machado encontra, em 1860, instalada na Nazaré por ocasião das festas da localidade, não reunia mais do que um palhaço, um dançarino de corda, “[...] duas damas, por tal sinal feíssimas, dois homens de forças, para as lutas árabes, três meninos para os recreios do trapézio, e um gracioso, para fazer de prospeto e explicar as belezas do divertimento aos saloios” (A Revolução de Setembro, 13-03-1860, p. 1). A trupe tinha uma barraca,
[...] armada na praça, que lhes servia de camarim durante a função, e de casa no resto do tempo. A sua única propriedade era aquela barraca e um burro que viajava com eles acarretando as bagagens. As bagagens eram uns corpetes de veludilho, umas tangas, um árabe bambo, um fato branco de guizos, e uma caixa com giz para o palhaço (A Revolução de Setembro, 13-03-1860, p. 1).
Para além de Portugal, as trupes eram oriundas de Espanha, Itália ou França. Quando pediam a obrigatória licença ao Ministério do Reino para realizarem os seus exercícios, ora se apresentavam como companhias de arlequins, ora como artistas ginásticos, sendo comuns as referências às dificuldades económicas. Em 1853, quatro artistas ginásticos - João José d’Amil, António Joaquim das Chagas, Francisco de Paula Amor e Pedro dos Santos - requerem licença gratuita, invocando dificuldades financeiras, para poderem exercer a sua atividade na Feira do Campo Grande:
Senhora,
Os abaixo assinados artistas ginásticos, e praças dos Corpos Nacionais desta Capital, faltando-lhes os meios de subsistência, sobreveio-lhes à ideia de estabelecer na próxima Feira do Campo Grande uma pequena e limitada barraca para ali exercerem os trabalhos da sua arte; mas como esta não possa estabelecer-se sem a competente licença, e para esta tirar lhe faltarão os meios: motivo porque fiados no filantrópico coração de V.M. que sempre tendem a enxugar as lágrimas aos infelizes lhes pedem a V. Mde se compadeça da sua triste […]147, ordenando que se lhes passe gratuitamente uma licença provisória só pelo tempo da dita feira. E por tanto
Rogam a V. Mde haja de os diferir como pedem
13 de setembro de 1853 (Portugal, 1853PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1853., Maço 3560, proc. 399).
Raramente estes pedidos eram atendidos, fazendo-se valer a lei, que não permitia a atribuição de licença sem o respetivo pagamento dos direitos de representação.
Muitos dos que saíam de terras distantes, como o súbdito italiano José Basalo9 9 Apesar de surgir referenciado como José Basalo, é provável que se trate do aportuguesamento de Bazolla, em nome de quem surgem pedidos de licenciamento posteriores. (que aportara em Lisboa em março de 1866) (Portugal, 1866PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1866., Maço 3631, proc. 192), traziam consigo a família e a necessidade de a sustentar, não se inibindo de referir esse dado aquando da solicitação da licença. Começam por ser, maioritariamente, companhias de estrutura familiar, disposição comum entre os saltimbancos itinerantes, cuja vida se fazia em constante movimento.
Júlio César Machado, confesso apreciador destes artistas populares, não deixava de se entristecer com a vida que muitos levavam. A propósito dos parcos pertences da companhia instalada na Nazaré, escreve:
Tudo o que possuem na terra é isto: nada mais têm, nada mais virão a ter. E riem sempre, e vivem de fazer rir! Comem e bebem vinho, quando o podem comprar: quando o não há, bebem água e ar. Ar! É uma coisa santa, ao menos, que Deus nos dê ar sem o comprarmos.
Um arlequim, que não tinha às vezes que dar de cear aos filhos, dizia-lhes à noite:
- Atenção! O que se for deitar sem comer, terá cinco réis.
Estendiam todos a mão, recebiam cinco réis, e iam-se deitar sem comer. No dia seguinte o arlequim dizia aos filhos esfomeados:
- Olá! Qual de vocês quer almoçar hoje?
- Eu! Eu! Eu, papá!
- Pois então, o que quiser almoçar há de me dar cinco réis!
E cada um entregava os cinco réis, que, por esta forma, serviam para duas comidas!
Quando montei a cavalo para partir, encontrei-os: iam a pé com uma trouxa cada um, por terem piedade do seu burrito, que lhe custava a poder consigo. Achei-os felizes no meio da sua desgraça e reconheci que há uma coisa ainda pior que ser arlequim - é ser burro de arlequim! (A Revolução de Setembro, 13-03-1860, p. 1).
Não era fácil a vida das companhias de arlequins que então mostravam as suas habilidades nas feiras de Lisboa, e que se viam obrigadas a partir rumo a novas paragens, onde quer que fosse possível instalar as diminutas barracas de madeira com cobertura de lona. Apesar de também eles se apresentarem como saltimbancos, algumas crónicas da época evidenciam uma assumida distância entre os arlequins e outras companhias errantes, sem que seja possível perceber em que medida se concretizava essa diferença a não ser no afastamento que algumas procuravam fazer relativamente à vida sem alternativa dos arlequins acrobatas. São os próprios saltimbancos que estabelecem a distância, a exemplo do que acontecera em Itália, durante o século XVI, quando, segundo M. A. Katritzky, era constante a luta dos primeiros cómicos dell’arte “para se distanciarem do estigma associado aos bufões, artistas de rua e charlatães”10 10 Tradução livre. No original: “to dissociate themselves from de stigma attached to buffoni, street players and mountbanks” (Katritzky, 2006, p. 35). (Katritzky, 2006KATRITZKY, M. A. The Art of Commedia: A Study in the Commedia dell’Arte 1560-1620 with special Reference to the Visual Records. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006., p. 35). Quando passam defronte das barracas de arlequins, segundo escreve Júlio César Machado, os saltimbancos
[...] devem sentir-se nobres e orgulhosos de não serem como eles; ficaram talvez sem pai nem mãe em pequenos e entraram logo para as companhias ambulantes, gente do acaso, caras que têm o seu quê de egípcio, criaturas para quem não há festas senão as que fazer para divertir os outros pelas feiras, que ninguém vê senão naquelas épocas, porque para eles não há passear nas ruas, nem ver procissões, nem inaugurações - não há senão pantomimas, ginástica, trapézio, trampolim; mas trabalham, sustentam a mulher e os filhos, e não gastam em vinho o que vão ganhando para pão (Diário de Notícias, 20-06-1872, p. 1).
O mesmo Júlio César Machado traçou-lhes a fisiologia nas páginas d’A Revolução de Setembro (04-08-1854, p. 1), queixando-se da desconsideração com que eram tratados artistas para quem o trapézio e o salto mortal eram “uma espécie de sopa, vaca e arroz quotidiano e inalterável”. Atuando sempre com as mínimas condições, restou-lhes a consideração do público, que não deixou nunca de os visitar - hoje numa pequena aldeia, amanhã numa vila e depois numa cidade -, assim como os arlequins nunca deixaram, enquanto puderam, de o entreter com as suas habilidades cómicas e acrobáticas. Nas paradas ou dentro das barracas, sobrava-lhes a graça, “[...] a dançar na corda, a brincar no arame bambo, a dar o salto de trampolim ou a pôr giz nos sapatos das bailarinas, espreitando-lhe a saia” (A Revolução de Setembro, 13-03-1860, p. 1).
Face à proliferação de divertimentos nas feiras, as paradas das barracas de arlequins ganham uma importância crucial. Sem se equipararem às das companhias das feiras parisienses nem às dos teatros do Boulevard du Temple, cumpriam na perfeição o objetivo de cativar o público para o espetáculo, por entre o frenesim de gente, música e vozes que se vivia nas feiras das Amoreiras, Belém e Campo Grande.
Como companhias de poucas posses que eram, as paradas dos primeiros arlequins assentavam em simples estrados, montados na frente dos singelos barracões de madeira, entretanto substituídos por pequenos balcões ou varandas, por onde desfilavam palhaços, acrobatas e bailarinas, formando uma verdadeira algazarra de vozes, trombetas e tambores, na tentativa de atrair a multidão que os contemplava estupefacta,
[...] como se os estivesse a ver num tutti li mundi e fossem sombras a dançar diante da gente, perna acima, perna abaixo, pirueta daqui, cambalhota dali - tudo de boca aberta, os pequenitos a estalar de desejos de irem ver a festa, as mães muito entretidas, os pais gostando sem terem ares disso, e até, num rancho ou noutro - muito contente a lembrar-se dos seus tempos - algum velhinho que já não pode mexer-se, todo dobradinho em dois como um U virado (Diário de Notícias, 20-06-1872, p. 1).
Ao palhaço competia enaltecer as virtudes do espetáculo que decorreria no interior da barraca, socorrendo-se dos seus dotes de reclamista (obrigatórios para a função) mas também da comicidade associada à personagem, coadjuvado pelas diminutas mas barulhentas orquestras e pelas bailarinas e coristas da companhia. Cobertas por maillots de algodão (exigidos pela decência da época), as raparigas colocavam por cima “saiotes em arco, feitos de tecido ordinário, enfeitados a lantejoulas”, “botas de cano alto, cheio de fantasias” e “cabeleiras de estopa ou de retrós desbotado” (Costa, 1950COSTA, Mário. Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa. Lisboa: Município de Lisboa, 1950., p. 127). De faces avermelhadas (resultado da maquilhagem grosseira), “saracoteavam-se com desenvoltura, arte e elegância e cantavam dentro das suas acanhadas possibilidades de tiples”, um ou dois “números de maior agrado, musicados por uma modesta charanga” constituída por três ou quatro elementos (Costa, 1950COSTA, Mário. Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa. Lisboa: Município de Lisboa, 1950., p. 127). Nas paradas imperava a declamação em modo publicitário mas também satírico, com desafios ao público em tom provocatório, qual Tabarin que, em vez de unguentos, procura vender entradas para a próxima função. Tal como no estrado onde o mais famoso charlatão das ruas de Paris desenvolvia “diálogos impossíveis, recheados de injúrias e de ditos sem sentido” para “envolver o público”11 11 Tradução livre. No original: “ces conversations impossibles, farcies de quoli-berts et de coq-à-l’âne, qu’ils engagent avec leurs maîtres pour mettre le public en train” (Fournel, 1863, p. 250). (Fournel, 1863FOURNEL, Victor. Tableau du Vieux Paris. Les Spectacles Populaires et les Artistes des Rues. Paris: E. Dentu, 1863., p. 250), os palhaços reclamistas não se cansavam de apelar aos visitantes das feiras de Lisboa, fazendo uso de gracejos, chalaças e vitupérios, para os deter junto à parada, num primeiro momento, fazê-los rir continuamente, e, por último, obrigá-los (voluntariamente) a entrar no teatro-barraca.
Um desenho de Manuel de Macedo (Figura 1), que acompanha um folhetim de Pinheiro Chagas, publicado no Diário Ilustrado (17-07-1872, p. 1), evoca a ancestral tradição das paradas. Na imagem é visível a entrada, a bilheteira e parte do balcão exterior de uma barraca de madeira, onde uma figura, que pelas vestes (maillot às riscas) se assemelha a um Arlequim ou palhaço, e dois músicos (ambos de colete), com um bombo (o que tem uma fita na cabeça) e uma corneta (o de chapéu), parecem convidar o aglomerado de gente, em baixo, para o espetáculo. Há um cartaz por detrás dos músicos onde, apesar de não serem percetíveis todas as letras, deduz-se estar escrita a frase Grande Função. Noutra zona do balcão, junto à entrada, cinco elementos, que pela indumentária aparentam fazer parte da companhia que se prepara para a dita função, dão mostras de aguardar a entrada do público. Dois desses elementos - a figura sentada no varandim, na zona mais próxima ao eventual Arlequim ou palhaço, e uma outra em plano mais recuado - envergam um vestido e uma espécie de lenço ou touca na cabeça. Os restantes elementos (aparentemente dois rapazes e uma rapariga, embora a distinção não seja muito clara), envergam chapéu, colete, calções ou saia (o que está sentado no varandim), uma fita ou chapéu (o que se entrevê entre as duas figuras sentadas no varandim), maillot e uma espécie de pano, capa ou estranho casaco até aos pés (o que está encostado à porta de entrada). Mesmo sendo difícil definir quais as funções que cada um desempenha na trupe (bailarinas, acrobatas ou atores), conclui-se que são elementos da companhia que se encontram no balcão para ajudar à chamada do público, provavelmente com a realização de algum pequeno número. Em baixo, por entre o aglomerado de gente, distingue-se um homem, de bengala ou sombrinha debaixo do braço, que adquire bilhete para a função, enquanto os restantes elementos aguardam a sua vez para adquirir também o ingresso ou observam simplesmente a atuação.
O desenho de Manuel de Macedo “reproduz” a parada de um teatro na Feira das Amoreiras (segundo a legenda e de acordo com o folhetim que acompanha a ilustração), apresentando parte de um dos muitos barracões de madeira que eram montados junto à Capela de Monserrate, pelas trupes de arlequins, quando o reclamista tenta cativar o público para o espetáculo, com a ajuda de dois músicos. Os três envergam vestes singelas, como era prática destas companhias: enquanto a indumentária do Arlequim (ou palhaço) se resume a um maillot às riscas, os músicos não ostentam qualquer peça de vestuário particular, para além de um chapéu e uma fita na cabeça, distinguindo-se dos restantes elementos da trupe pelos instrumentos - o bombo e a corneta. Quanto às figuras do lado direito, muito provavelmente atores, bailarinas/coristas e acrobatas, embora no momento que o desenho fixa não estejam em ação, deduz-se que já tenham tido a sua intervenção ou aguardem ainda que esta aconteça. Em muitas paradas, os palhaços e os músicos eram acompanhados por bailarinas ou outros elementos da trupe, que vinham eles próprios apresentar pequenos números ou simplesmente sorrir ao público. Na descrição que faz destas companhias, Alfredo de Mesquita (1994MESQUITA, Alfredo de. Alfacinhas. 2. ed. (1.ª ed. 1910). Lisboa: Veja, 1994., p. 107) refere que os elementos da trupe apareciam na varanda, à medida que se iam vestindo:
As actrizes mais nutridas ajustavam ao corpo um maillot e saiote de bailarina, esfregavam com alvaiade os cotovelos e o que mostravam do seio pelo decote do corpinho de cetim semeado de lantejoulas, besuntavam um decilitro de azeite no penteado, e assim vinham sorrir à multidão.
O desenho de Manuel de Macedo permite ainda perceber a exiguidade dos barracões (apesar de não apresentar uma visão global do espaço) e a confusão que imperava junto destes pequenos teatros, com os chamamentos do palhaço, o som da corneta e do bombo e o bulício próprio das gentes que se aglomeravam para assistir às atuações. Vários cronistas e folhetinistas, que frequentaram as feiras naqueles tempos, recordam estes primitivos teatros, as suas paradas e a algazarra que se instalava com o chamamento dos palhaços, como acontece com Júlio César Machado (1873MACHADO, Júlio César. Manhãs e Noites. Lisboa: Livraria Moderna, 1873., p. 195-196):
-
- Entrar, senhores! Entrar!... grita lá de cima, do alto do corrimão do proscénio da parada, um arlequim de boa voz, meio pendurado no ar, irmão dos cometas e das estrelas, passeando no éter como os deuses, e berrando a seguinte frase, singela e grande - Esta é a barraca frequentada pelas damas diplomáticas!... O povo olha pasmado para ele e escuta-o em transportes de admiração; mas dali a nada já não sabe para onde há-de voltar-se quando outro o chama, rodeado de boleras de saia curta e pantalona cor-de-rosa, e outro com o seu tambor, dá-lhe que dá-lhe, como se estivesse exercendo uma vingança de acordo com as trombetas, que já têm os beiços inchados de soprar a barriga ao monstro!
-
- Vai principiar, senhores!
-
- Já vai tocar-se a grrrande sinfonia, e dar começo ao espectáculo!
-
- Toca a música! berra um d’esses Cíceros da feira, rompendo em eloquência. Comprem os seus bilhetes, senhores; a função hoje é a melhor. Admirável! É admirável! Entram todos os artistas da companhia.
É um delírio. As três barracas da entrada, o Grande Cosmorama com vistas de guerra, o Teatro e os arlequins, abalam-se de júbilo e de bulha! É a metralha toda do motim musical, abrindo com os latões, que são o artigo de fundo da harmonia, trrrão, tão tão, até já não haver forças para tocar o rufo, e assoar com os beiços o nariz de pau de pífano!...
E o palhaço grita ainda por cima daquela inferneira:
- Entrem senhores! Aproveitem os poucos lugares que ainda há e passem a tomar assento no meio da numerosa e escolhida sociedade, que está lá dentro à espera de que vá o pano acima!
Através da ilustração, publicada no Diário Ilustrado, é ainda possível perceber a simplicidade do público que maioritariamente afluía a estes teatros, patente na modéstia do vestuário da maioria dos elementos do aglomerado - homens e mulheres -, apesar da intenção do autor em apresentar alguma diversidade de estratos sociais.
Quando os arlequins e as suas paradas reinavam nas feiras, apesar das escassas referências que estes espetáculos merecem por parte dos periódicos de então, vários cronistas e articulistas não se mostravam indiferentes aos inventivos chamamentos que irrompiam das varandas das singelas barracas. Segundo Júlio César Machado, a companhia com que se depara em 1860, na Nazaré, não fazia “senão tocar tambor para reunir o auditório”, desde que “rompia a aurora”, fazendo-se valer das virtudes da parada (A Revolução de Setembro, 02-10-1860, p. 2). Armava-se o tablado à porta, “e um dos mimos encetava uma palestra ao povo”:
- Entrem rapazes! Entrem se querem ver o que nunca viram nem tornam a ver na sua vida! Se eu lhe fosse a dizer tudo o que aqui se faz, não chegava o dia para lhe acabar a história! Nós temos trabalhado sempre a dezasseis vinténs, para outra casta de gente que vocês não são: hoje, porém, queremos que vejam de tudo, e pusemos isto a pataco, para não morrerem sem nos terem admirado! Vá! Vá! É entrar rapaziada! Pataco por cabeça. Quem não tiver cabeça… não paga nada.
E depois era um alvoroço, um estrondo, uma assuada, uma verdadeira sedição contra a tranquilidade de um pobre diabo morigerado e de boas intenções (A Revolução de Setembro, 02-10-1860, p. 2).
Competia-lhes enaltecer “os méritos do espetáculo, que estava sempre quase a começar”, mas quantas vezes não tinha o público de esperar mais de uma hora, “sentado nas tábuas duras da superior, ou com algum bico de prego da geral” a espetar-se-lhe “nas carnes, antes que o pano subisse” (Mesquita, 1994MESQUITA, Alfredo de. Alfacinhas. 2. ed. (1.ª ed. 1910). Lisboa: Veja, 1994., p. 108). “- Olhem que vai começar o espectáculo, faltam apenas duas pessoas”, gritava, na Feira do Campo Grande, o diretor de uma companhia de arlequins, também em 1860:
Quem se quiser divertir entre; três vinténs o lugar superior, bancos à farta, fica o nariz do público mesmo em cima do palco. Com trinta réis vai-se para a geral, e com franqueza ainda melhor, porque se pode estar de pé ou de cócoras. Quem quiser entre, aqui não se obriga ninguém, tomara eu mais espaço para receber os fregueses. - É entrar, o espetáculo começa, faltam só duas pessoas (A Revolução de Setembro, 26-10-1860, p. 2).
Nas paradas dos teatros das feiras de Lisboa tanto se evidenciavam o palhaço reclamista (quase sempre detentor da atenção principal), como o tenor e a prima-dona de uma companhia “lírico-ginástica”, na Feira das Amoreiras, em desgarradas de trombone, bombo e pratos (As Notícias, 0307-1866, p. 2), as “trombetas e tambores” que lutavam para se fazerem ouvir na Feira de Belém (Diário de Notícias, 10-09-1867, p. 3), as “músicas celestiais” de duas barracas de arlequins, “compostas de bombos, trombones, pratos, caixa de rufo e melodiosos clarinetes”, na Feira do Campo Grande (Diário de Notícias, 16-10-1866, p. 2), ou o branco que fazia de preto (Germano José Lopes) na barraca dos arlequins de José António Paixão, que tocava pratos e tambor e gritava: “É a pataco! É a pataco, vai principiar a função! Entrem todos! Entrem todos! Quem não tem cabeça não paga nada!” (Diário de Notícias, 18-11-1866, p. 1). Falavam com “abundância de gestos e palavras” estes arlequins, com toda uma lógica muito sua, capaz de persuadir o aglomerado de gente que passava a “entrar nas suas barracas” (A Revolução de Setembro, 28-05-1871, p. 2).
O auge dos arlequins, em finais da década de 1860 e inícios da década de 1870, com as feiras sempre a abarrotar de gente, ávida destes divertidos espetáculos, acabaria por determinar o princípio do declínio de muitas companhias (as que não conseguiram acompanhar as mudanças que os tempos impunham, com o obrigatório desenvolvimento de espetáculos e barracas) e proporcionar uma “nova vida” a todas aquelas que, a reboque da multiplicação do público e dos novos teatros que se instalaram nas feiras, foram-se aprimorando e alterando repertórios. A tradição dos arlequins não desapareceu das feiras com os primeiros teatros de declamação, mas a tendência seria a da multiplicação de barracas que procuram a aproximação aos teatros de segunda ordem. Nos primeiros anos do século XX, quando a Feira de Alcântara tinha substituído a das Amoreiras, a Feira de Agosto a de Belém, e os teatros apresentavam sobretudo comédias, paródias, mágicas e revistas, já pouco mais restava do que a memória do tempo em que os arlequins provocavam uma autêntica algazarra, onde tudo valia para cativar o público, embora a tradição perdurasse, em parte, nas paradas que alguns teatros de cariz declamado mantinham, e nas variedades - canto, dança e aparato visual - que sempre se apresentaram como a essência do teatro de feira.
Durante os anos de 1927 e 1928, o comediógrafo Penha Coutinho discorre sobre os teatros de feira e sobre os artistas que neles atuaram nas Boémias Teatrais, crónicas publicadas semanalmente, ao longo de um ano, na revista ABC, mas deixa voluntariamente em claro o tempo em que, nos ajuntamentos da capital, apenas se instalavam barracas de arlequins, por pouco assunto fornecer, em seu entender, “no que diz respeito a teatro” (ABC, 19-05-1927, p. 18). Para o cronista, é na Feira de Belém, no início dos anos 1870, que “a arte de Talma” começa “a mostrar-se digna de algum interesse”, mais precisamente com os teatros D. Afonso e D. Luís, as mais antigas barracas que, no seu entender, “se assemelhavam” a teatros, nas feiras da capital (ABC, 19-05-1927, p. 18). Penha Coutinho, como tantas outras individualidades do seu tempo e ao longo dos tempos, não reconhece na anterior tradição de arlequins e saltimbancos qualquer modelo teatral, identificando-a sem realçar a sua importância no contexto das feiras lisboetas. As informações entretanto resgatadas de arquivos e periódicos contradizem este entendimento, evidenciam a importância da prática e permitem identificá-la como teatro de feira, um teatro que evolui dos multifacetados espetáculos de arlequins para um modelo de repertório declamado, com consequentes alterações ao nível da estrutura das companhias e da própria construção dos teatros, mas mantendo uma identidade comum. Embora tenham mais tarde desaparecido quase por completo, durante muitos anos foram os arlequins que reinaram nas feiras, com os seus inconfundíveis chamamentos: “É entrar senhores! É entrar! Vai principiar a função. Vai principiar. Comprem os seus bilhetes!”.
Notas
-
1
Tese de doutoramento em Estudos de Teatro, apresentada à Faculdade de Le-tras da Universidade de Lisboa, em 2017. No âmbito da investigação, já foram publicados os artigos: Teatro de Feira: O genuíno popular do público erudito, em Diffractions - Graduate Journal for the Study of Culture, Issue 4, Spring 2015 e Teatro de Feira: Entre a prática e a representação, in Théâtre: esthétique et pouvoir (Tome 1): De Lántiquité classique au XIX siècle. Paris: Éditions Le Manuscrit, 2016, p. 329-342.
-
2
Tradução livre. No original: “Mientras que en Italia los comediantes podían contar con una constante asistencia de espectadores familiarizados con las obras y que disfrutaban con las diferentes formas en que los actores improvisaban las escenas, en Francia tenían que estudiar ostros métodos de atraer el público” (Nicoll, 1977NICOLL, Allardyce. El Mundo de Arlequín: Estudio Crítico de la Commedia dell’arte. Barcelona: Barral Editores, 1977., p. 180).
-
3
As primeiras companhias italianas entraram em França durante o reinado de Carlos IX, sob a regência de Catarina d’Médici. Fizeram sucesso as trupes de Zan Ganassa, Gelosi, Accesi e Fideli, entre tantas outras que, a partir de meados do século XVII, começam a dar representações regulares na capital francesa. Atraíam uma grande multidão ao Petit-Bourbon e ao Palais Royal (espaços que partilham com Molière) e, mais tarde, ao Hotel de Bourgogne, onde se instalam em 1680 e permanecem até 1697, ano em que “[...] vários comentários indiscretos numa das suas obras [La Fausse Prude] provocam a cólera de Madame de Maintenon, a favorita do rei, e uma ordem real os obriga a partirem com lágrimas nos olhos” (Nicoll, 1977NICOLL, Allardyce. El Mundo de Arlequín: Estudio Crítico de la Commedia dell’arte. Barcelona: Barral Editores, 1977., p. 179).
-
4
Uma das companhias que se apresentava nas feiras em França.
-
5
Tradução livre. No original: “l’un sous le costume d’Arlequin et l’autre, sous celui de Scraramouche» (Vissière; Vissière, 2000VISSIÉRE, Isabelle; VISSIÉRE, Jean-Louis (Int. e Notas). Théâtre de la Foire. Lisboa: Desjonquères, 2000., p.7).
-
6
Nesta altura, Lisboa estava dividida em 34 freguesias, repartidas por quatro bairros ou distritos criminais - Alcântara, Alfama, Bairro Alto e Rossio -, de forma a melhor gerir o policiamento e o funcionamento da justiça.
-
7
Se atendermos aos pedidos de licenciamento de 1866, é possível que seja a compa-nhia de José Arjona, que solicita licença a 17 de maio (a feira arranca a 20), para espetáculos de física, ginástica, canto (Portugal, 1866PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo. Lisboa: ANTT, 1866., Maço 3632, proc. 404, 17-05).
-
8
Arquivo Municipal de Lisboa - Arquivo Histórico, Câmara Municipal de Be-lém, documentação avulsa referente a “Feiras e Mercados”.
-
9
Apesar de surgir referenciado como José Basalo, é provável que se trate do aportuguesamento de Bazolla, em nome de quem surgem pedidos de licenciamento posteriores.
-
10
Tradução livre. No original: “to dissociate themselves from de stigma attached to buffoni, street players and mountbanks” (Katritzky, 2006KATRITZKY, M. A. The Art of Commedia: A Study in the Commedia dell’Arte 1560-1620 with special Reference to the Visual Records. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006., p. 35).
-
11
Tradução livre. No original: “ces conversations impossibles, farcies de quoli-berts et de coq-à-l’âne, qu’ils engagent avec leurs maîtres pour mettre le public en train” (Fournel, 1863FOURNEL, Victor. Tableau du Vieux Paris. Les Spectacles Populaires et les Artistes des Rues. Paris: E. Dentu, 1863., p. 250).
-
Editor responsável: Gilberto Icle
Referências
- COSTA, Mário. Feiras e outros Divertimentos Populares de Lisboa Lisboa: Município de Lisboa, 1950.
- FOURNEL, Victor. Tableau du Vieux Paris Les Spectacles Populaires et les Artistes des Rues. Paris: E. Dentu, 1863.
- GAUTIER, Théophile. Le Capitaine Fracasse (1ª ed. 1863). Paris: Charpentier, Libraire-Éditeur, 1866.
- GUIMARÃES, J. Ribeiro. Sumário de vária história V. 3. Lisboa: Rolland & Semiond, 1873.
- KATRITZKY, M. A. The Art of Commedia: A Study in the Commedia dell’Arte 1560-1620 with special Reference to the Visual Records. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006.
- LISBOA. Governo Civil de Lisboa. Registo de alvarás expedidos NT 184 NR 0506. Lisboa, 1867.
- MACHADO, Júlio César. Manhãs e Noites Lisboa: Livraria Moderna, 1873.
- MESQUITA, Alfredo de. Alfacinhas 2. ed. (1.ª ed. 1910). Lisboa: Veja, 1994.
- NICOLL, Allardyce. El Mundo de Arlequín: Estudio Crítico de la Commedia dell’arte. Barcelona: Barral Editores, 1977.
- PINHEIRO CHAGAS, Manuel. Diário Ilustrado, Lisboa, p. 1, 17 jul. 1872.
- PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo Lisboa: ANTT, 1849.
- PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo Lisboa: ANTT, 1850.
- PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo Lisboa: ANTT, 1853.
- PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo Lisboa: ANTT, 1866.
- PORTUGAL. Ministério do Reino. Relação dos livros e documentos do Archivo deste Ministério recolhidos ao Archivo da Torre do Tombo Lisboa: ANTT, 1867.
- SCARRON, Paul. Roman Comique 3 v. (1ª ed. 1651-1657) Paris: Durant, Pissot, 1757.
- VISSIÉRE, Isabelle; VISSIÉRE, Jean-Louis (Int. e Notas). Théâtre de la Foire Lisboa: Desjonquères, 2000.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Ago 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
30 Jan 2023 -
Aceito
22 Maio 2023
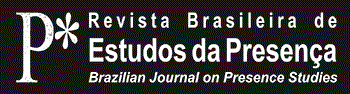


 Fonte: Diário Ilustrado (17-07-1872, p. 1).
Fonte: Diário Ilustrado (17-07-1872, p. 1).