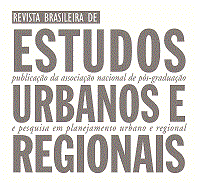Resumo
A insurgência inaugurou o século XXI com uma série de rebeliões metropolitanas. Buenos Aires, Atenas, Reykjavik, Tunes, Cairo, New York, Madri, Phnom Penh, Istambul, São Paulo e inúmeras outras cidades ao redor do mundo rebelaram-se de formas diferentes, rejeitando as políticas existentes e assaltando o Estado com alternativas. Muitas dessas alternativas surgiram da própria produção da vida cotidiana urbana dos manifestantes e foram prefiguradas em seus próprios meios de assembleias e deliberação. Este artigo examina, por um lado, se essas rebeliões metropolitanas constituem um novo tipo de cidadania urbana insurgente que realizaria e demandaria novas formas de democracia direta, e, por outro, como elas podem inspirar um planejamento urbano insurgente. Esse exame é feito por meio da análise da interseção entre os processos de “fazer a cidade acontecer” (city-making), “ocupar espaços urbanos” (city-occupying) e “reivindicar direitos” (rights-claiming). Ademais, é-se considerada a transformação da esfera política e do planejamento por elas produzida.
Palavras-chave:
planejamento; urbano; insurgente; cidadania; digital; rebelião; democracia
Abstract
Insurrection inaugurated the 21st century with a series of metropolitan rebellions. Buenos Aires, Athens, Reykjavik, Tunis, Cairo, New York, Madrid, Phnom Penh, Istanbul, São Paulo, and countless other cities around the world presented distinctive forms of rebellion that rejected existing politics and stormed the state with alternatives. Many of these alternatives arose out of the insurgents’ own production of city life and were prefigured in their own processes of urban assembly and deliberation. This article considers whether they constitute a new kind of insurgent urban citizenship - one that both enacts and asserts new forms of direct democracy - and how they could inspire an insurgent urban planning. It does so by examining the intersection of city-making, city-occupying, and rights-claiming in which they emerge and considers the transformation of the political and of planning that the enactment of a new politics produces.
Keywords:
city-making; city-occupying; rights-claiming; urban rebellion; democracy; citizen- ship; insurgent urban planning
Discutirei, neste ensaio, a noção de “planejamento urbano insurgente” como forma de problematizar as premissas e as práticas do planejamento urbano institucionalizado. Para tanto, preciso estabelecer o significado do modificador “insurgente”. Que tipo de planejamento é insurgente? A que isso se refere? Sugiro que planejamento urbano insurgente é o tipo de planejamento que tem como fundação e que se endereça, em suas práticas, a movimentos de cidadania insurgente, isto é, movimentos que tomaram forma nas rebeliões que fizeram das cidades, durante os últimos séculos, proeminentes loci de novas formas de cidadania, contestando as formas nacionais de associação. Essas rebeliões foram de diversos tipos, compondo uma complexa genealogia que inclui, por exemplo, a Comuna de Paris de 1871 e o Occupy Wall Street de 2011. Além disso, a natureza da contestação da cidadania foi variada, indo desde demandas pelo alargamento dos direitos existentes à imposição de alternativas radicais. Desenvolverei essas distinções de planejamento a partir das rebeliões metropolitanas dos últimos quinze anos, pois, hoje, desenvolver um planejamento urbano insurgente significa engajar-se nos movimentos de cidadania insurgentes contemporâneos em que nos encontramos.2 2 Desenvolvi o conceito de cidadania insurgente em várias publicações, mais integralmente em Holston (2008). A edição brasileira foi publicada em 2013.
A insurreição inaugurou o século XXI com uma série de rebeliões metropolitanas. No final dos anos 1990 e início dos 2000, os piqueteros bloquearam o tráfego de Buenos Aires, demonstrando novas formas de organização política e social frente à esmagadora exclusão econômica. Em 2003, bolivianos, amotinados em El Alto, bloquearam estradas municipais para exigir água e gás. Em 2005, a juventude levantou-se nas banlieues de Paris, queimando carros e desafiando a polícia. Manifestantes contra as desapropriações do capitalismo ocuparam as artérias e os pulmões de diversas cidades, começando, em 2009, em Atenas e Reykjavik, disseminando-se para Tunis, Cairo, New York e Madri em 2010 e 2011, irrompendo em Santiago e Phnom Penh em 2012, circulando por Istambul e São Paulo, em 2013, e Caracas em 2014, bem como por inúmeras outras cidades ao redor do mundo.3 3 Entre diferentes fontes sobre esses levantes, são citadas: Schneider Mansilla e Conti (2003); Balibar (2007); Lazar (2008); Panayotakis (2009); Hughes (2011); Taylor et al. (2011); Castells (2012); Charnock, Purcell e Ribera-Fumaz (2012); Razsa e Kurnik (2012); El-Kazaz (2013); Tugal (2013); Holston (2014).
Essas insurreições urbanas marcaram as duas primeiras décadas deste século com formas de protesto que, embora distintas, apresentavam muitas características em comum. Elas atingiram a cidade em si, não simplesmente os edifícios das fábricas ou do governo - os alvos mais usuais nos séculos anteriores -, mas os espaços de circulação urbana e de assembleia, ocupando-os e preenchendo-os com novas formas de convocação. Em alguns casos, os manifestantes pediam que o Estado alargasse os direitos existentes, incluísse o excluído e mudasse a política feita pelos canais políticos estabelecidos. No entanto, em muitos outros casos, eles rejeitaram as políticas delegadas e verticalizadas, desafiando o Estado com fontes e concepções alternativas de direitos que surgiram de suas produções da vida na cidade e que foram prefiguradas em seus próprios processos de assembleia e deliberação. Assim, as demandas por alternativas mais radicais não foram para que os Estados ampliassem os direitos já existentes. Foram, em vez disso, para que os Estados reconhecessem a legitimidade e a inevitabilidade de direitos que emergiram a partir das próprias lutas diárias para fazer a cidade acontecer - no processo de produzi-la por meio da vida e do trabalho de seus residentes - e daquilo que foi forjado durante as formas alternativas de assembleia política. A interseção entre (1) “fazer a cidade acontecer” (city making), (2) “ocupar a cidade” (city-occupying) e (3) “reivindicar direitos” (rights-claiming) gerou movimentos por novas formulações de cidadania que eu chamo de insurgentes, as quais, simultaneamente, demonstram e fazem valer novas formas de democracia direta.
Cidadania digital?
Todas essas rebeliões urbanas usaram a mídia digital como elemento central de mobilização. Muitos observadores afirmam que a sociabilidade do urbanismo “digitalmente inspirado” cria uma nova e revigorada cidadania ou, ao menos, condições que favorecem o desenvolvimento de um novo engajamento cívico digital. A esse respeito, Shirky (2008SHIRKY, C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations. New York: Penguin, 2008.) argumenta que a conectividade da Internet torna fácil a criação de redes on-line de “amigos por afinidade de pensamento” (linked-minded friends) e que, por esse meio, é possível mobilizar rapidamente esses amigos em grupos que têm capacidade de tomar ação política. Zuckerman (2014ZUCKERMAN, E. New media, new civics? Policy & Internet, v. 6, n. 2, p. 151-168, jun. 2014. 10.1002/1944-2866.poi360
https://doi.org/10.1002/1944-2866.poi360...
, p. 159, 164), por sua vez, sugere que o uso da mídia social está produzindo novas formas de engajamento cívico através da criação de uma superabundância de espaços de deliberação. Castells (2012CASTELLS, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012., p. 9-10, tradução do autor) faz uma afirmação ainda mais forte: “Redes sociais digitais oferecem a possibilidade para uma ampla e irrestrita deliberação e coordenação de ação”.
Certamente, esses observadores analisam limitações, moderam seu entusiasmo com a discussão de problemas proeminentes e insistem na importância de conectar espaços urbanos digitais e presenciais (face-to-face). Mas eles promovem, claramente, os exemplos dos contrapoderes da Internet para transformar a democracia: do papel do Twitter e do Facebook na derrubada de regimes repressivos na Primavera Árabe, passando pela capacidade do FixMyStreet de engajar moradores na curadoria diária de infraestrutura coletiva e pela Tumblr Page Nós somos os 99%, que potencializou o Occupy Wall Street, aos protestos relâmpagos do #YoSoy132, os quais se tornaram um movimento rebelde nas últimas eleições presidenciais mexicanas.4 4 Outros pesquisadores são mais críticos ao ativismo online como meio de revigorar a democracia. As posições variam daqueles que desconsideram essa possibilidade (GLADWELL, 2010; MOROZOV, 2011) aos que são moderadamente céticos (TUFEKÇI, 2014).
Como avaliar esses argumentos sobre a geração, ou não, de novas cidadanias digitais (mais frequentemente urbanas), em particular sobre o uso das mídias sociais tanto como fim quanto como meio de projetar um novo futuro de cidadania? Essa pergunta é essencial para avaliar a capacidade das recentes rebeliões metropolitanas de gerar novas formas de cidadania democrática. Para avançar nessas considerações, é necessário encontrar, urgentemente, uma linguagem crítica de investigação e análise. Um problema que frequentemente observo é que as afirmações de uma nova cidadania “digitalmente inspirada” anunciam que algo novo substitui (ou pelo menos compete com) a cidadania nacional existente, sem definir ou problematizar as condições antecedentes de formas que poderiam permitir uma avaliação comparativa. Essa escorregada alimenta a hipótese daquilo que se deseja provar. Dizer que o novo rejeita a democracia representativa existente é, sem dúvida, uma afirmação correta, mas oferece pouco ao avanço do trabalho conceitual necessário para avaliar e projetar uma alternativa. Em um estimulante estudo etnográfico sobre o Occupy Slovenia, por exemplo, Razsa e Kurnik (2012RAZSA, M.; KURNIK, A. The Occupy Movement in Zizek’s hometown: direct democracy and a politics of becoming. American Ethnologist, v. 39, n. 2, p. 238-258, maio 2012. 10.1111/j.1548-1425.2012.01361.x
https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012...
, p. 240, 250, tradução do autor) atribuem ao movimento o desenvolvimento de uma “democracia de ação direta” como “alter- nativa” tanto ao “modelo baseado no consenso” do Occupy Wall Street quanto, e mais fundamentalmente, à “teoria liberal clássica”. Contudo, sem estabelecer o que se entende sobre essa teoria, é difícil, para os leitores, avaliar as contribuições do Occupy Slovenia para “radicalizar a democracia [...] [por meio] de novas formas experimentais de efetivar a democracia e de re-imaginar o político”. Esse “performar” e “re-imaginar” se referem ao que estou chamando de “planejamento insurgente”. Essa possibilidade é difícil de ser avaliada porque os autores não elaboram o que o planejamento, como disciplina de intenções, deve, sob tais condições, se parecer, nem analisam as condições do “liberalismo” que poderiam ser, presumivelmente, transgredidas. Eu não estou pedindo um tratado sobre liberalismo e democracia. Não obstante, um conjunto mínimo de argumentos consistentes e historicamente fundamentados seria útil.
O que se entende por “cidadania” nacional e/ou digital é, muito amplamente, tido como algo certo ou inequívoco, sem que seja analisado (a) como uma forma particular de associação, com uma genealogia histórica específica em relação a processos de formação política; (b) como uma definição tanto de inclusão quanto de exclusão, baseada no direito de nascimento em um lugar (ius soli) ou de ancestralidade (ius sanguinis); (c) como uma combinação de requisitos formais que criam as divisões de grupos sociais pela definição de critérios de afiliação e de uma substantiva distribuição de direitos e práticas para aqueles que são considerados membros; (d) como uma ética de pertencimento que é frequentemente militarizada e racializada; e assim por diante.
Dada a falta de problematização, é importante estabelecer, como patamar inicial de estudo, não apenas o contexto histórico no qual a nova cidadania da insurgência metropolitana parece emergir, mas também o texto histórico que ela pretende reformular. Portanto, eu analiso, no que se segue, as condições de texto e contexto por meio das quais me refiro à urbanização periférica global, à emergência de movimentos de direito à cidade e à cidadania urbana que por eles é produzida. Depois, examino recentes exemplos de insurgência urbana, com a intenção de sugerir problemas e critérios para avaliar a capacidade de tais movimentos e do urbanismo digital e suas medidas de forjar novas formas e conteúdos de cidadania. Fundamentalmente, esses critérios referem-se à capacidade de gerar formas associativas que sustentem uma cidadania urbana substantiva.
Globalização e a emergência da cidadania urbana, 1950-2000
As quatro globalizações dos últimos 70 anos - urbanização, democratização, imigração e neoliberalização - resultaram não na redução do significado do “lugar” para a articulação da cidadania, mas no reaparecimento da cidade como um locus substantivo para seu desenvolvimento - mais substantivo, de fato, que a comunidade imaginada do Estado-nação que dominou a formulação nas últimas décadas.5 5 Para uma análise desse processo, ver: Holston (2001). Ainda que a maioria dos cidadãos permaneça intensamente nacional, as cidades, em muitos países, tornaram-se, durante esse período, os loci mais salientes para a emergência de novas formas, de agendas e de experimentos de cidadania, transformando a noção de cidadania nacional. No Brasil, por exemplo, inovações da cidadania urbana local formataram, profundamente, a Constituição Federal de 1988 e a legislação por ela autorizada, a emergência de novos partidos políticos nacionais, o desenvolvimento de políticas públicas nacionais de urbanização e muitos outros aspectos relacionados à transformação democrática do país (HOLSTON, 2008HOLSTON, J. Insurgent Citizenship: Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2008. ).
O crescimento das cidades e a invenção da democracia também coincidem com a institucionalização do neoliberalismo como uma organização de Estado e como uma racionalidade da privatização, da descentralização e do desapossamento. Embora essas combinações de urbanização, democratização e neoliberalização sejam “locais” de intensa combustão, elas produzem uma notável condição similar em todo o mundo: uma grande quantidade da população mundial - em breve se aproximando da maioria - vive hoje em periferias urbanas empobrecidas, em condições ilegais ou irregulares de residência, no entorno de centros urbanos que se beneficiam de seus serviços e de sua pobreza. Essas condições também têm gerado uma resposta característica: precisamente em periferias urbanas, residentes vêm a entender suas necessidades básicas não apenas em termos de habitar e sofrer a cidade, mas também em termos de construí-la, de fazer a paisagem da cidade, da sua história, da vida cotidiana e da política como um lugar para eles próprios. Os muitos significados desse fazer frequentemente aglutinam-se na ideia de que eles têm direito ao que produzem, isto é, têm direito à própria cidade.
Essa transformação da necessidade em direito fez das cidades uma arena estratégica para o desenvolvimento de cidadanias novas e insurgentes. Em outras palavras, nessas cidades, cidadanias nacionais estão sendo reconfiguradas a partir de conflitos a respeito dos termos e das aspirações da vida urbana contemporânea. Quero enfatizar, portanto, que, apesar de as políticas econômicas brutais do trabalho, da terra e da lei segregarem os pobres urbanos nas periferias e reduzirem-nos a uma “vida nua” de servidão e violência, essas mesmas estruturas de desigualdades incitam os residentes marginalizados a demandar uma vida digna de cidadãos, articulada como um direito à cidade que eles fazem acontecer. Durante a metade do último século, esses movimentos de “direito à cidade” estiveram exacerbadamente focados em problemas de pobreza urbana, sendo liderados pelas classes subalternas da cidade e, particular- mente nas recentes décadas, por aliados das classes médias, universidades, organizações não governamentais (ONGs) e, ocasionalmente, dos partidos políticos. Assim, as experiências de cidade da classe trabalhadora tornaram-se, de maneira significa- tiva, fontes novas e sem precedentes para a transformação do planejamento urbano (políticas, instrumentos e normas) e da cidadania (expectativas, práticas, direitos, leis e estatutos). Esses processos de fazer acontecer a cidade (city making) e de autoconstruir a cidadania (citizen making) coincidem no tempo e no espaço. A força dessa interseção desestabiliza, profundamente, não apenas as condições existentes da vida urbana e cidadania nacional, mas também as formulações políticas em planos, constituições, organizações e movimentos. Uma pergunta importante é se, desde os anos 2000, os levantes urbanos continuam sendo pautados pelo “fazer acontecer” a cidade, a cidadania e a política a partir das classes trabalhadoras, ou se eles foram alterados por outras agendas.
Quem é o sujeito do “direito à cidade” - humanos ou cidadãos?
Enfatizo que o direito insurgente à cidade confronta os regimes entrincheirados com formulações alternativas de cidadania, e não meramente com protestos e violência idiossincráticos e/ou instrumentais.6 6 Além de Holston (2008), ver: Appadurai (2002) e Bhan (2014). Essa formulação constitui uma nova pauta conceitual para o direito à cidade, desenvolvido primariamente em cidades do sul global. Em outras palavras, os agentes dessa alternativa ao pertencimento nacional pautaram-na não em termos de revolução, intervenção divina ou mesmo de necessidades humanas. Menos ainda em termos de relações dependentes de clientelismo. Ao contrário, para muitos dos pobres urbanos, o direito à cidade tornou-se um tipo específico de demanda por uma ordem diferente: uma reivindicação de cidadãos, um direito de cidadania, um direito articulado, com referência à cidadania e a suas pautas legais, éticas e performativas.
David Harvey poderia, claramente, querer enquadrar esse direito no paradigma dos direitos humanos quando ele o descreve como “um dos nossos mais preciosos, contudo, mais negligenciado dos nossos direitos humanos” (HARVEY, 2008 HARVEY, D. The right to the city. New Left Review , n. 53. p. 23-40, set./out. 2008. , p. 23, tradução do autor). No entanto, ele não desenvolve tal argumento. Na verdade, essa falta de formulação é sintomática da notável tendência - incluindo de ativistas de ONGs - de chamar o “direito à cidade” de “direito humano”, assumindo que o paradigma dos direitos humanos é uma fundação efetiva para ele, teórica ou empiricamente. Mas será que realmente é? O direito ao abrigo e, por extensão, à moradia pode ser um direito humano. Posso aceitar que seja; não estou convencido, no entanto, de que seja a melhor - no sentido de mais efetiva - fundamentação para moradia. A mesma lógica pode ser aplicada à cidade? Há um correspondente ao “direito humano ao subúrbio”, por exemplo, que ajude a dar sentido a um “direito humano à cidade”? Em outras palavras, quem é o sujeito do direito à cidade - humanos ou cidadãos?
Embora aqui não seja o lugar para desenvolver um debate sobre a sustentação filosófica dos direitos humanos em relação ao direito natural, ao positivo e a outros tipos de direitos, uma concepção de direito fundamentada na ontologia da natureza humana como essencial e normativa é, no mínimo, antropologicamente suspeita. Imagino que o problema dos imigrantes urbanos ilegais tenha motivado Harvey a enquadrar o direito à cidade como um direito humano, isto é, a necessidade urgente de incluir e cobrir, em sua esfera de proteção, precisamente aqueles que não têm direitos nacionais e que são, por definição, deles excluídos. Dada a quantidade extra- ordinária desse tipo de residente urbano, não seria isso um movimento estratégico eficiente, ainda que filosoficamente duvidoso?
Na verdade, essa estratégia não é nem efetiva nem a melhor opção disponível, se se foca o problema na questão de qual é a comunidade política mais efetiva para organizar a heterogeneidade de habitantes que caracteriza tantas regiões metropolitanas atualmente, uma heterogeneidade em que muitos residentes não são cidadãos nacionais. Ao menos um aspecto é claro: dada a multinacionalidade das cidades contemporâneas, a comunidade política mais efetiva não pode fundar-se na associação ao Estado-nação, nem na cidadania nacional. Poderia ser uma organização planetária de direitos humanos. Muitas pessoas concebem o direito à cidade como um direito humano exatamente desse modo. No entanto, como tenho argumentado, essa compreensão parece pouco plausível, e, ademais, os direitos humanos lidam com problemas conceituais, ontológicos e éticos relacionados a essa substância elusiva chamada “natureza humana” que não precisam ser resolvidos - isso se é realmente possível uma solução - para que seja fundamentado o direito à cidade. Em vez disso, sugeriria que a melhor fundação para esse direito é a própria cidade, organizada por uma cidadania baseada na residência, para a qual o pertencimento ao Estado-nação, o status nacional de imigração e a natureza humana são irrelevantes. É esse o tipo de cidadania urbana que pessoas na Cidade do Cabo, São Paulo, Mumbai e, ainda, em lugares radicais como São Francisco - penso aqui nas carteiras de identidade municipais e no acesso a tratamento de saúde baseados somente em residência urbana - estão inventando, em resposta à espoliação neoliberal e às desigualdades derivadas das prerrogativas da cidadania nacional.
Assim, penso que é mais efetivo, política, antropológica e filosoficamente, argumentar que a urbanização do sul global nos últimos quinze anos transformou o enquadramento conceitual do direito à cidade, articulando-o como um direito de cidadania urbana, no qual a fundação primeira desse direito de cidadão é o pertencimento à cidade e não ao Estado-nação. Ao articularem o direito à cidade como um direito de cidadania, os residentes urbanos estão também inventando uma cidadania urbana distinta da nacional - e distinta, também, de uma noção planetária de humano. A formulação do direito à cidade como um direito de pertencimento urbano é, a meu ver, uma resposta mais atraente para alguns dos mais constrange- dores problemas políticos e sociais do nosso tempo.
A próxima pergunta é: qual tipo de cidadania é a “cidadania urbana”? Suponhamos que a cidadania, em geral, seja entendida como uma norma de associação definida pela participação em uma comunidade política, na qual a atribuição formal de pertencimento ocasiona a distribuição substantiva de obrigações e prerrogativas vinculadas à associação, como direitos, deveres, recursos e práticas. Nesses termos, qual tipo de adesão a “cidadania urbana” constitui, que tipo de pertencimento ela requer, qual forma de substância? Se tais perguntas são fundamentais para a compreensão de qualquer cidadania, elas são especialmente importantes para compreender a cidadania urbana, porque ela não está formalmente constituída em quase nenhum lugar do mundo contemporâneo e tem sido sistematicamente desmantelada pelo Estado-nação e por seu respectivo tipo de cidadania - isto é, a cidadania nacional - ao longo dos últimos 400 anos.7 7 Para um estudo histórico de soberanias em competição, ver: Spruyt (1994).
Dessa forma, só é possível decidir se nós estamos, de fato, testemunhando o ressurgimento de uma cidadania urbana nas últimas décadas, se houver critérios conceituais para identificá-la. Dada a supremacia e o antagonismo da cidadania nacional, é pouco provável que a cidadania urbana receba legitimação formal das fontes nacionais de direito e das instituições de autoridade. Pelo contrário, é mais provável que ela emerja de novas fontes de associação montadas pelos residentes a partir de suas produções compartilhadas de cidade durante suas atividades de vida e trabalho.8 8 Recordo aqui o uso de Arendt (1958, p. 7, tradução do autor) do termo vida ativa “para designar três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação”, que, juntas, geram a “condição humana”. Curiosamente, Arendt não inclui a língua na primeira ordem de características, mas, adaptando a consideração de lexis (fala) de Aristóteles, considera isto essencial para a atividade da ação por meio da qual surge a esfera da vida política. Em termos de montagem, a cidade constitui um produto vasto e coletivo, em que cada residente cumpre uma parte no fazer. Esse fazer é a base da afirmação de ter um direito à cidade: o direito de colaborador ao que cada um faz, uma afirmação que não tem qualquer correlação com o status formal ou informal de trabalho, residência ou imigração. Pelo contrário, ela só tem correlação com a vida ativa dos residentes. Por essa razão, a residência é a condição que melhor viabiliza a produção da cidade como um produto coletivo. Nesse sentido, as associações que se desenvolvem entre aqueles que “fazem a cidade acontecer” (city makers) serão subversivas às prerrogativas nacionais na medida em que a residência urbana for a principal qualificação para associação e a filiação nacional for irrelevante. Esse antagonismo mútuo (de fato, subversivo) entre cidade e nação - ou entre princípios de pertencimento urbano e nacional - parece ser um fator difundido na recente emergência da cidadania urbana a partir da sua obscuridade.
Considero, portanto, a cidadania urbana como uma forma de associação em que o “fazer a cidade acontecer” é, simultaneamente, o contexto e o conteúdo de um sentido de pertencimento, no qual o fazer é entendido como a soma das atividades dos residentes, sendo a residência o critério primário de associação. A cidadania urbana como uma forma de associação é constituída (1) quando, a despeito de outras identidades, a residência determina a associação à comunidade; (2) quando a cidade é o primeiro locus da comunidade política; e (3) quando a reivindicação de direitos relacionados à produção da cidade e as atuações cívicas a ela ligadas constituem a agenda e a mobilização da associação. Com base nisso, proponho que uma das significativas consequências da globalização da democracia para cidades-regiões seja a geração de novas cidadanias urbanas. Sugiro, ainda, que essas novas cidadanias urbanas não vêm necessariamente suplantar ou negar a cidadania nacional, mas elas produzem duas consequências importantes e insurgentes. Elas, frequentemente, levam à reformulação da cidadania nacional e são acessíveis a indivíduos não nacionais, bem como aos nacionais marginalizados.
Cidades insurgentes do século XXI
Investi um tempo estabelecendo o texto e o contexto da emergência da cidadania urbana porque isto fornece o melhor enquadramento para observar a onda de levantes metropolitanos que têm sacudido o mundo nos últimos quinze anos. Esse tipo de revolta acelerou o passo na segunda década deste século. Em 2009, cidades da Grécia, Islândia e de outros países ocidentais se rebelaram. Esses levantes se espalharam no final de 2010 e início de 2011 para a Tunísia e o Egito urbanos; retornaram para o Ocidente em 2011, com os movimentos Occupy em cidades dos Estados Unidos e da Europa - especialmente na Espanha; irromperam no Chile e Camboja em 2012, Turquia e Brasil em 2013, Venezuela e Hong Kong em 2014.
Há variações óbvias e marcantes entre esses levantes: alguns deles foram respostas diretas ao colapso financeiro de 2008 e ao estouro das bolhas imobiliárias (na Grécia, na Islândia, nos Estados Unidos e na Espanha); outros estiveram mais focados em questões de liderança nacional (por exemplo, os da Tunísia e do Egito). No entanto, como muitos analistas têm documentado, eles compartilham um conjunto de características semelhantes e fundamentais, tais como: a ocupação ostensiva do espaço urbano; a rejeição da política representativa; a mobilização contra o sucateamento de bens e serviços públicos; a resistência à violência policial; o uso de novas mídias sociais; e a emergência de novas esferas públicas de participação e de sociabilidade.9 9 Para referências bibliográficas, ver a nota de rodapé número 3 deste artigo.
Muitas dessas características são também encontradas nos movimentos urbanos de cidadania insurgente no final do século XX (HOLSTON, 2008HOLSTON, J. Insurgent Citizenship: Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2008. ). O ponto em comum mais importante é que o que mobilizou as pessoas, tanto antes quanto agora, foi a demanda generalizada por um tipo de cidade diferente, uma cidade livre e justa. O aspecto central dessas mobilizações é a compreensão do fracasso das condições urbanas em termos de direitos. As pessoas compartilham a opinião de que têm direito a melhores condições de vida, as quais não foram ainda realizadas - um direito à cidade que elas fizeram ao vivê-la e que deve ser condizente com seus esforços diários, um direito que foi violado. Por isso, os diversos tipos de manifestantes falaram sobre direitos de diversos tipos. A soma das falas sobre direitos foi algo maior que uma lista de demandas individuais. Para mim, essa visão maior tornou-se clara depois de ver um cartaz que estava sendo sustentado em uma manifestação de rua em São Paulo, em meados de junho de 2013. Em um mar de cartazes que faziam demandas específicas, um deles se destacava por possuir uma reivindicação mais geral: “A aula hoje é aqui. O assunto? Cidadania”. O cartaz falava da descoberta de uma nova geração de brasileiros da cidade como local de insurgência (o “aqui”) e da vida das ruas como a agenda da cidadania democrática (“a aula”). Nesse sentido, especificamente no caso das rebeliões urbanas no Brasil, após uma década de paciência com o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), os protestos de junho de 2013 indicaram o desenvolvimento de formas de cidadania urbana insurgente que são, simultaneamente, similares e diferentes dos movimentos que transformaram o Brasil entre 1970 e início dos anos 2000.10 10 Ver também Caldeira (2015).
Da mesma forma que as revoltas anteriores transformaram, significativamente, a natureza da democratização e da cidadania democrática conforme percorriam o mundo no último quarto do século passado, as mobilizações dos anos recentes ao redor do mundo encorajam a esperança de que mudanças democráticas sejam aprofundadas neste novo século. Uma forma de avaliar essa esperança é perguntar sobre o que pode ser diferente nos levantes recentes. Essa pergunta traz para o foco novas possibilidades e limitações para a constituição de um bem comum urbano mais democrático. Isso ajuda a indicar se um novo pacto de cidadania está fazendo com que residentes urbanos sejam mais propensos a se tornarem participantes ativos na condução dos assuntos públicos e no compartilhamento de benefícios.
Um aspecto revelador e distintivo das recentes revoltas urbanas é que os manifestantes contrabalançam as mobilizações contra um adversário - por exemplo, o planejamento do Estado, os despejos e remoções, a representatividade do governo ou o capitalismo - com a demonstração de uma alternativa. Alguns pesquisadores (GRAEBER, 2002 GRAEBER, D. The new anarchists. New Left Review, n. 13, p. 61-73, jan./fev. 2002. ) têm descrito esse tipo de demonstração como a prefiguração dos elementos desejados em uma nova ordem social, de tal modo que os participantes estruturam suas ocupações a partir das características que eles gostariam que o mundo viesse a incorporar. Assim, a rejeição à democracia representativa mobiliza uma política de democracia direta para governar os acampamentos por meio de reuniões gerais, redes horizontais e grupos de trabalho, com foco no desenvolvimento de estratégias tanto de contestação como de proposição de direitos de cidadania e de práticas justas. Os manifestantes não se contentam apenas em contestar as falhas na comunicação verticalizada com seus representantes políticos eleitos. Eles demonstram o que uma forma diferente de política pode ser com a criação de novas formas de comunicação horizontal, por meio de assembleias e mídias sociais abertas, participativas e deliberativas, sem a necessidade de uma liderança. Essas novas formas são exemplos de planejamento insurgente.
Similarmente, o desemprego, os despejos e a generalizada “monetarização de tudo” são desafiados por uma crítica ao neoliberalismo e por propostas de uma nova economia, de desmercantilização e do uso de recursos. As falhas do planejamento urbano institucionalizado - como a falta de transporte acessível, a gentrificação e a redução do espaço público - e os crimes de corrupção praticados pelo governo são refutados pelos acampamentos e pelas próprias mobilizações que ocupam a cidade, dando um exemplo de nova sociedade. O sucateamento dos serviços públicos de saúde, da educação e da segurança são contestados não apenas pelos protestos massivos, mas também pela efetiva execução de serviços sociais dentro dos próprios acampamentos e ocupações - mais uma vez, exemplos de planejamento insurgente. A produção de novos meios de comunicação substitui os ultrapassados meios de comunicação, monopolizados ou censurados, existentes. Todos esses processos políticos e de planejamento alternativos tornam-se novas fontes para uma cidadania gerada fora da alçada do Estado.
Uma segunda característica distintiva dos recentes levantes urbanos refere-se ao fato de que eles articulam seus argumentos por meio de novas identidades políticas e também da Internet. Essas duas características tornam-nos menos localizados que os movimentos de cidadania urbana anteriores. Assim, eles podem se referir a um lugar, mas esse lugar é a cidade como um todo, não vizinhanças ou territórios específicos, para usar os termos a partir dos quais as gerações anteriores de cidadania urbana insurgente costumavam se organizar. Essa é uma consideração importante para um planejamento contemporâneo insurgente. Particularmente significante é a mobilização digital de “coletivos” que hoje organizam a juventude - sobretudo estudantes, mas não somente - em torno de questões de identidades temáticas, como identidade negra, LGBT, poesia, grafite, justiça e meio ambiente. Esses coletivos são relativamente novos como fenômeno de massa, e eles enfatizam a associação horizontal e sem liderança. Durante os protestos recentes, tais coletivos fundiram-se em um corpo político, geralmente sem qualquer formalidade ou hierarquia, por meio da Internet. Via mídias sociais, eles tiveram uma experiência de comunidade na participação conjunta; e indivíduos a eles afiliados foram energizados com uma forte sensação de legitimação como manifestantes. Essa mesma vitalidade também energizou algumas organizações pré-existentes e movimentos sociais importantes para os levantes, como o Movimento Passe Livre (MPL) e as organizações de hip-hop, no caso do Brasil.
Quando as faíscas do redesenvolvimento autocrático (Turquia), do aumento de tarifas do transporte público (Brasil) e da violência policial (em ambos os países citados) foram visualizadas na Internet, a combustão expandiu, dramaticamente, os conceitos de equidade e direito à cidade, catalisando novos públicos para uma causa comum. Dessa forma, uma nova geração de brasileiros e turcos - residentes habituais da Internet - está inovando suas formas de expressão política através da Internet, das mídias sociais e dos celulares, bem como dos fóruns on-line, das assembleias digitais e presenciais, das oficinas e marchas e, ainda, das novas maneiras de deliberação. Tudo isso nutre, diretamente, uma nova produção cultural da juventude. Assembleias, passeatas e multidões, é certo, não necessitam de mídia digital. Contudo, aplicativos sociais e digitalização oferecem uma nova dimensão à organização democrática, isto é, aquela da promessa, ainda não efetivada, de novas formas de democracia direta. Eles consolidam, assim, um novo - e agora comprovado - recurso de organização política que tem a capacidade de expressar e produzir grandes solidariedades horizontais.
Occupy Wall Street, Indignados, Tahrir Square, Gezi Park, São Paulo e Hong Kong, todos esses exemplos indicam que as novas rebeliões metropolitanas logo desaparecem como atividade de rua, mas que, ao mesmo tempo, algo delas permanece para ser reacendido em outro dia. Ambos os resultados derivam do mesmo problema: elas são mais protestos ou movimentos insurgentes? Estou considerando os primeiros como uma objeção às condições atuais, estruturada em pedidos de mudança feitos às autoridades existentes. Na medida em que as recentes revoltas são desse tipo, elas sofrem de uma contradição debilitante, porque usam uma linguagem - isto é, a linguagem dos direitos, da política, do bem-estar, do desenvolvimento, da cidadania e do Estado - que pretendem rejeitar. Em outras palavras, exigem que o sistema político produza mudanças, mas rejeitam tanto as políticas existentes quanto a invenção de novas instituições políticas nos moldes das políticas existentes. Sem estas últimas, as revoltas estão fadadas a desaparecer sob a forma de “movimentos de petição” de pouca consequência ou de pouco impacto social.
Por movimentos insurgentes, refiro-me àqueles que contestam as condições atuais por meio da articulação de propostas alternativas surgidas das próprias assembleias autoempoderadas de cidadãos que investigam, decidem e agem, sacudindo as autoridades públicas com essas mesmas alternativas. As demandas desse tipo de movimento não são para que o Estado amplie os direitos e os recursos já existentes. Ao contrário, são para que o Estado aceite a legitimidade dos direitos desenvolvidos a partir dos recursos provenientes das lutas vividas pelos próprios participantes no processo de produzir a cidade, articulados nas suas próprias assembleias políticas e abertos a uma cidade/sociedade diferente.
Esse processo político alternativo tem a capacidade de gerar novas formas associativas e organizacionais - com efeito, novas instituições - que substanciem uma cidadania urbana que, necessariamente, subverta as instituições pré-existentes. Por essa razão, o ponto central do planejamento insurgente precisa ser definido a partir desses processos políticos alternativos, e seus métodos devem focar-se em descobri-los e engajá-los. Acredito, então, que a tomada e a ocupação de espaços da cidade constituem um processo político alternativo, no qual possuir a cidade é reivindicá-la como “bem comum”, como um produto coletivo. Nesse sentido, ocupar é uma instância da condição geral da cidadania urbana insurgente.11 11 Entre as correntes de pensamento sobre a cidade como bem comum, é preciso mencionar Hardt e Negri (2009) e Harvey (2012). Como este último argumenta (2012, p. 78, tradução do autor), “[...] o direito a esse bem comum [isto é, a metrópole] precisa certamente ser acordado por todos aqueles que tomam parte em sua produção”.
Os novos levantes, no entanto, são uma mistura complexa de protesto e insurgência. Nesse amálgama, eles são também como os movimentos de cidadania insurgentes anteriores - ainda que, de um modo geral, as instituições subversivas dos movimentos anteriores, tão relevantes para a democracia entre os anos 1970 e 2000, tenham pouca presença nas novas revoltas. No caso do Brasil, que conheço melhor, a comparação é, de certo modo, desencorajante. As inovações participativas da década de 1990 - como os conselhos municipais de saúde, educação e habitação - tiveram pouco ou nenhum papel nas manifestações de junho de 2013 e subsequentes. É possível argumentar que seus mais eficientes mecanismos de política popular foram aniquilados ao serem absorvidos pela máquina nacional do PT. Ao serem nacionalizados, eles perderam a urgência e a insurgência fundamentais para lidar com questões locais. Similarmente, as associações de moradores das periferias urbanas - que tiveram grande participação nas inovações dos anos 1970 e 1980 - também tiveram pouca presença nas manifestações recentes, embora muitas delas tenham mantido uma atuação efetiva em nível local. Nesse sentido, comparativamente, os cenários de política insurgente do novo século parecem escassos, sobretudo no caso do Brasil. Uma iniciativa básica para planejadores urbanos insurgentes é distinguir, nesse contexto, o que chamei de insurgente dos protestos dos movimentos metropolitanos contemporâneos e ajudar a criar processos políticos alternativos.
Certamente, entre as mais promissoras inovações das revoltas urbanas recentes, estão aquelas que tentam criar novas condições para a democracia direta por meio das assembleias gerais e do uso das mídias sociais digitais para convocá-las e até para gerenciá-las. O que é especialmente promissor, a meu ver, é a possibilidade de criar formas associativas em que seja possível ingressar por meio de “adesões digitais”. Encerro este artigo com uma observação sobre esse potencial. Um problema-chave a ser investigado pelo planejamento urbano insurgente é se o método digital do urbanismo (Web 2.0) pode engajar os fluxos de armazenamento de dados da cidade aberta (Web 1.0) para produzir uma nova retórica da vida política. Por retórica, refiro-me ao sentido clássico ateniense de meio para transformar cidadãos comuns (idiotai) em cidadãos públicos e politizados - um idiotai sendo alguém absorvido pela vida privada, em contraste com o cidadão, que encontra autorrealização na vida da cidade. Contudo, também é preciso perguntar se esses meios digitais são mera conveniência, algo como algum aparelho elétrico que torna a tarefa de cortar grandes quantidades de cebola muito mais fácil. Eles constituem uma nova retórica política ou são um novo meio de autoabsorção, uma nova forma de “autocentramento”, uma nova “idiotice”? Além disso, para construir uma retórica que converta interesses privados ou pessoais em interesses públicos, os planejadores insurgentes devem considerar em que medida o desenvolvimento colaborativo (crowdsourcing) da democracia direta gera não apenas multidões temporárias, amorfas e festivas, mas também associações, instituições e organismos públicos capazes de sustentar uma sociedade - no sentido de afiliação - e, portanto, de definir uma cidadania. Em outras palavras, uma retórica que crie um demos digital (como numa demokratia), em vez de uma hoi polloi digital (uma plebe). Não quero dizer que multidões amotinadas não sejam importantes para a vida pública e para a cidadania. Todavia, sem a formação de um demos digital mais coeso, as hoi pollois digitais não são, em geral, suficientemente motivadas a fazer coisas em conjunto a fim de sustentar o desenvolvimento e a realização de projetos.
Assim, os levantes digitalmente mobilizados de 2009-2014 põem o projeto político utópico da mídia social digital em consideração. Esse projeto viabilizará, de fato, assembleias entre cidadãos que estão cansados da política representativa? As plataformas de software e os aplicativos de celulares gerarão recursos digitais para organizar solidariedades horizontais e para facilitar novas formas democráticas de argumentação e decisão? Eles vão possibilitar, em outras palavras, uma democracia direta em uma sociedade de massa, produzindo novas formas e agendas de conselho da cidade? Essa é uma possibilidade atraente, anteriormente considerada inatingível, dada a escala das cidades e sociedades contemporâneas. As recentes revoltas sugerem, por um lado, que as novas formas de cidadania insurgente são, realmente, eficazes na mobilização de massa e na definição de temáticas, algo que uma democracia direta em escala urbana requereria. Por outro, elas também demonstram as limitações da atual safra de aplicativos sociais, os quais são usados para formar assembleias ao redor de temas específicos, mas não para estruturar a própria deliberação democrática.
Essas são, com efeito, perguntas que incitam o desenvolvimento de cidadanias urbanas insurgentes e o planejamento insurgente a elas associado. Conquanto os levantes urbanos contemporâneos ainda não tenham desenvolvido formas digitais de deliberação capazes de promover melhores argumentos democráticos, eles, ao menos, apontam para alguns dos problemas que devem ser investigados.
Bibliografia
- APPADURAI, A. Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics. Public Culture, v. 14, n. 1, p. 21-47, 2002. 10.1215/08992363-14-1-21
» https://doi.org/10.1215/08992363-14-1-21 - ARENDT, H. The Human Condition Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- ARENDT, H. The Origins of Totalitarianism New York: Harcourt, 1968 [1951].
- BALIBAR, É. Uprisings in the Banlieues. Constellations, v. 14, n. 1, p. 47-71, mar. 2007. 10.1111/j.1467-8675.2007.00422.x
» https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2007.00422.x - BAVISKAR, A. Between violence and desire: space, power, and identity in the making of metropolitan Delhi. International Social Science Journal, v. 55, n. 175, p. 89-98, 2003.
- BHAN, G. The improvement of poverty: reflections on urban citizenship and inequality in contemporary Delhi. Environment and Urbanization, v. 26, n. 2, p. 1-14, out. 2014. 10.1177/0956247814542391
» https://doi.org/10.1177/0956247814542391 - CALDEIRA, T. São Paulo: the city and its protests. Kafila, 5 jul. 2013, n.p. Disponível em: http://kafila.org/2013/07/05/sao-paulo-the-city-and-its-protests-teresa-caldeira/. Acesso em: 15 dez. 2015.
» http://kafila.org/2013/07/05/sao-paulo-the-city-and-its-protests-teresa-caldeira - CALDEIRA, T. Social movements, cultural production, and protests: São Paulo’s shifting political landscape. Current Anthropology, v. 56, n. S11, p. S126-S136, out. 2015. 10.1086/681927
» https://doi.org/10.1086/681927 - CASTELLS, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012.
- CHARNOCK, G.; PURCELL, T.; RIBERA-FUMAZ, R. ¡Indígnate!: the 2011 popular protests and the limits to democracy in Spain. Capital & Class, v. 36, n. 1, p. 3-11, fev. 2012. 10.1177/0309816811431937
» https://doi.org/10.1177/0309816811431937 - DESAI, R.; SANYAL, R. Urbanizing Citizenship: Contested Spaces in Indian Cities. New Delhi: Sage Publications India, 2012.
- EL-KAZAZ, S. It is about the park: a struggle for Turkey’s cities. Jadaliyya, 16 jun. 2013, n.p. Disponível em: http://www.jadaliyya.com/pages/index/12259/it-is-about-the-park_a-struggle-for-turkey%E2%80%99s-cities Acesso em: 15 dez. 2015.
» http://www.jadaliyya.com/pages/index/12259/it-is-about-the-park_a-struggle-for-turkey%E2%80%99s-cities - GLADWELL, M. Small change: why the revolution will not be tweeted. New Yorker, 4 out. 2010. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell Acesso em: 15 dez. 2015.
» http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell - GRAEBER, D. The new anarchists. New Left Review, n. 13, p. 61-73, jan./fev. 2002.
- HARDT, M.; NEGRI, A. Commonwealth Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- HARVEY, D. The right to the city. New Left Review , n. 53. p. 23-40, set./out. 2008.
- HARVEY, D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso, 2012.
- HOLSTON, J. Urban citizenship and globalization. In: SCOTT, A. J. (Ed.). Global City-Regions New York: Oxford University Press, 2001. p. 325-348.
- HOLSTON, J. Insurgent Citizenship: Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- HOLSTON, J. Cidadania insurgente: Disjunções da democracia e da modernidade no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- HOLSTON, J. Come to the street: urban protest, Brazil 2013. Anthropological Quarterly, v. 87, n. 3, p. 889-902, 2014. 10.1353/anq.2014.0047
» https://doi.org/10.1353/anq.2014.0047 - HUGHES, N. ‘Young people took to the streets and all of a sudden all of the political parties got old’: the 15M movement in Spain. Social Movement Studies, v. 10, n. 4, p. 407-413, nov. 2011. 10.1080/14742837.2011.614109
» https://doi.org/10.1080/14742837.2011.614109 - KUYUCU, T.; ÜNSAL, Ö. ‘Urban transformation’ as state-led property transfer: an analysis of two cases of urban renewal in Istanbul. Urban Studies, v. 47, n. 7, p. 1479-1499, jun. 2010. 10.1177/0042098009353629
» https://doi.org/10.1177/0042098009353629 - LAZAR, S. El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia. Durham: Duke University Press, 2008.
- LEFEBVREH. The Right to the City. In: KOFMAN, E.; LEBAS, E. (Ed). Writings on Cities Malden: Blackwell, 1996 [1967]. p. 63-181.
- MOROZOV, E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: Public Affairs, 2011.
- PANAYOTAKIS, C. Reflections on the Greek uprising. Capitalism, Nature, Socialism, v. 20, n. 2, p. 97-101, jul. 2009. 10.1080/10455750902941110
» https://doi.org/10.1080/10455750902941110 - RAZSA, M.; KURNIK, A. The Occupy Movement in Zizek’s hometown: direct democracy and a politics of becoming. American Ethnologist, v. 39, n. 2, p. 238-258, maio 2012. 10.1111/j.1548-1425.2012.01361.x
» https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012.01361.x - SCHNEIDER MANSILLA, I.; CONTI, R. Piqueteros, una Mirada Histórica Buenos Aires: Australis, 2003.
- SHIRKY, C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations. New York: Penguin, 2008.
- SPRUYT, H. The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton: Princeton University Press , 1994.
- TAYLOR, A. et al (Ed.). Occupy! Scenes from Occupied America London: Verso , 2011.
- TUFEKÇI, Z. Capabilities of movements and affordances of digital media: paradoxes of empowerment. dmlcentral, 9 jan. 2014, n. p. Disponível em: http://dmlcentral.net/capabilities-of-movements-and-affordances-of-digital-media-paradoxes-of-empowerment/. Acesso em: 8 fev. 2015.
» http://dmlcentral.net/capabilities-of-movements-and-affordances-of-digital-media-paradoxes-of-empowerment - TUGAL, C. Occupy Gezi: the limits of Turkey’s neoliberal success. Jadaliyya, 4 jun. 2013, n. p. Disponível em: http://www.syria.jadaliyya.com/pages/index/12009/occupy-gezi_the-limits-of-turkey%E2%80%99s-neoliberal-succ Acesso em: 15 dez. 2015.
» http://www.syria.jadaliyya.com/pages/index/12009/occupy-gezi_the-limits-of-turkey%E2%80%99s-neoliberal-succ - TUGAL, C. “Resistance everywhere”: the Gezi revolt in global perspective. New Perspectives on Turkey, v. 49, p. 157-172, 2013. Disponível em: http://sociology.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/tugal/Cihan%20Tugal,%20NPT-Gezi%20Revolt.pdf Acesso em: 15 dez. 2015.
» http://sociology.berkeley.edu/sites/default/files/faculty/tugal/Cihan%20Tugal,%20NPT-Gezi%20Revolt.pdf - ZUCKERMAN, E. New media, new civics? Policy & Internet, v. 6, n. 2, p. 151-168, jun. 2014. 10.1002/1944-2866.poi360
» https://doi.org/10.1002/1944-2866.poi360
-
1
Este artigo é baseado em um ensaio de autoria de James Holston, apresentado na conferência de abertura do XVI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ENAnpur) em 2015. Posteriormente, o texto foi trabalhado no formato de artigo, com a colaboração e a tradução de Rafaela Selem Moreira.
-
2
Desenvolvi o conceito de cidadania insurgente em várias publicações, mais integralmente em Holston (2008)HOLSTON, J. Insurgent Citizenship: Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2008. . A edição brasileira foi publicada em 2013.
-
3
Entre diferentes fontes sobre esses levantes, são citadas: Schneider Mansilla e Conti (2003)SCHNEIDER MANSILLA, I.; CONTI, R. Piqueteros, una Mirada Histórica. Buenos Aires: Australis, 2003.; Balibar (2007)BALIBAR, É. Uprisings in the Banlieues. Constellations, v. 14, n. 1, p. 47-71, mar. 2007. 10.1111/j.1467-8675.2007.00422.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2007... ; Lazar (2008)LAZAR, S. El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia. Durham: Duke University Press, 2008.; Panayotakis (2009)PANAYOTAKIS, C. Reflections on the Greek uprising. Capitalism, Nature, Socialism, v. 20, n. 2, p. 97-101, jul. 2009. 10.1080/10455750902941110
https://doi.org/10.1080/1045575090294111... ; Hughes (2011)HUGHES, N. ‘Young people took to the streets and all of a sudden all of the political parties got old’: the 15M movement in Spain. Social Movement Studies, v. 10, n. 4, p. 407-413, nov. 2011. 10.1080/14742837.2011.614109
https://doi.org/10.1080/14742837.2011.61... ; Taylor et al. (2011)TAYLOR, A. et al. (Ed.). Occupy! Scenes from Occupied America. London: Verso , 2011.; Castells (2012)CASTELLS, M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2012.; Charnock, Purcell e Ribera-Fumaz (2012) CHARNOCK, G.; PURCELL, T.; RIBERA-FUMAZ, R. ¡Indígnate!: the 2011 popular protests and the limits to democracy in Spain. Capital & Class, v. 36, n. 1, p. 3-11, fev. 2012. 10.1177/0309816811431937
https://doi.org/10.1177/0309816811431937... ; Razsa e Kurnik (2012)RAZSA, M.; KURNIK, A. The Occupy Movement in Zizek’s hometown: direct democracy and a politics of becoming. American Ethnologist, v. 39, n. 2, p. 238-258, maio 2012. 10.1111/j.1548-1425.2012.01361.x
https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012... ; El-Kazaz (2013)EL-KAZAZ, S. It is about the park: a struggle for Turkey’s cities. Jadaliyya, 16 jun. 2013, n.p. Disponível em: http://www.jadaliyya.com/pages/index/12259/it-is-about-the-park_a-struggle-for-turkey%E2%80%99s-cities. Acesso em: 15 dez. 2015.
http://www.jadaliyya.com/pages/index/122... ; Tugal (2013)TUGAL, C. Occupy Gezi: the limits of Turkey’s neoliberal success. Jadaliyya, 4 jun. 2013, n. p. Disponível em: http://www.syria.jadaliyya.com/pages/index/12009/occupy-gezi_the-limits-of-turkey%E2%80%99s-neoliberal-succ. Acesso em: 15 dez. 2015.
http://www.syria.jadaliyya.com/pages/ind... ; Holston (2014) HOLSTON, J. Come to the street: urban protest, Brazil 2013. Anthropological Quarterly, v. 87, n. 3, p. 889-902, 2014. 10.1353/anq.2014.0047
https://doi.org/10.1353/anq.2014.0047... . -
4
Outros pesquisadores são mais críticos ao ativismo online como meio de revigorar a democracia. As posições variam daqueles que desconsideram essa possibilidade (GLADWELL, 2010 GLADWELL, M. Small change: why the revolution will not be tweeted. New Yorker, 4 out. 2010. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell. Acesso em: 15 dez. 2015.
http://www.newyorker.com/magazine/2010/1... ; MOROZOV, 2011MOROZOV, E. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: Public Affairs, 2011.) aos que são moderadamente céticos (TUFEKÇI, 2014TUFEKÇI, Z. Capabilities of movements and affordances of digital media: paradoxes of empowerment. dmlcentral, 9 jan. 2014, n. p. Disponível em: http://dmlcentral.net/capabilities-of-movements-and-affordances-of-digital-media-paradoxes-of-empowerment/. Acesso em: 8 fev. 2015.
http://dmlcentral.net/capabilities-of-mo... ). -
5
Para uma análise desse processo, ver: Holston (2001) HOLSTON, J. Urban citizenship and globalization. In: SCOTT, A. J. (Ed.). Global City-Regions. New York: Oxford University Press, 2001. p. 325-348. .
-
6
Além de Holston (2008)HOLSTON, J. Insurgent Citizenship: Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2008. , ver: Appadurai (2002) APPADURAI, A. Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics. Public Culture, v. 14, n. 1, p. 21-47, 2002. 10.1215/08992363-14-1-21
https://doi.org/10.1215/08992363-14-1-21... e Bhan (2014)BHAN, G. The improvement of poverty: reflections on urban citizenship and inequality in contemporary Delhi. Environment and Urbanization, v. 26, n. 2, p. 1-14, out. 2014. 10.1177/0956247814542391
https://doi.org/10.1177/0956247814542391... . -
7
Para um estudo histórico de soberanias em competição, ver: Spruyt (1994)SPRUYT, H. The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton: Princeton University Press , 1994..
-
8
Recordo aqui o uso de Arendt (1958ARENDT, H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. , p. 7, tradução do autor) do termo vida ativa “para designar três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação”, que, juntas, geram a “condição humana”. Curiosamente, Arendt não inclui a língua na primeira ordem de características, mas, adaptando a consideração de lexis (fala) de Aristóteles, considera isto essencial para a atividade da ação por meio da qual surge a esfera da vida política.
-
9
Para referências bibliográficas, ver a nota de rodapé número 3 deste artigo.
-
10
Ver também Caldeira (2015)CALDEIRA, T. Social movements, cultural production, and protests: São Paulo’s shifting political landscape. Current Anthropology, v. 56, n. S11, p. S126-S136, out. 2015. 10.1086/681927
https://doi.org/10.1086/681927... . -
11
Entre as correntes de pensamento sobre a cidade como bem comum, é preciso mencionar Hardt e Negri (2009)HARDT, M.; NEGRI, A. Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press, 2009. e Harvey (2012)HARVEY, D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso, 2012.. Como este último argumenta (2012, p. 78, tradução do autor), “[...] o direito a esse bem comum [isto é, a metrópole] precisa certamente ser acordado por todos aqueles que tomam parte em sua produção”.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
05 Maio 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2016
Histórico
-
Recebido
29 Set 2015 -
Aceito
02 Dez 2015