Resumo
O presente artigo apresenta um Sistema de Indicadores de Qualidade Ambiental Urbana para Metrópoles Costeiras (SIMeC) como proposta de instrumento de análise territorial no processo de gestão costeira integrada. Para tanto, na pesquisa, foram elencados e analisados 1.133 indicadores, provenientes de 22 sistemas nacionais e internacionais. Desse grupo, foram selecionados indica- dores avaliados por especialistas residentes nos Estados costeiros brasileiros. Ao final, o estudo obteve 69 identificadores conexos às dimensões da prosperidade urbana: infraestrutura, inclusão e equidade social, qualidade de vida, produtividade e sustentabilidade ambiental, que foram aliados à estrutura DPSIR, isto é, Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses. Como resultado, o sistema de indicadores mostrou-se consistente, sendo uma contribuição passível de replicação nas metrópoles costeiras brasileiras. Assim, o uso desses indicadores pode ser um instrumento de tomada de decisão na gestão integrada da zona costeira, constituindo um relatório de qualidade ambiental que possibilitará, além da análise territorial local específica, a comparabilidade com outras regiões costeiras.
Palavras-chave:
indicadores; metrópoles; metrópoles costeiras; qualidade ambiental urbana
Abstract
The present paper presents a system of indicators for urban environmental quality in coastal metropoles. Therefore, 1133 indicators from 22 national and international systems were initially listed and analyzed. From these, indicators were selected for assessment by specialists residing in Brazilian coastal states. The assessment enabled the validation of the system with the presentation of new indicators. As a result, 69 indicators associated with urban welfare were obtained: infrastructure, inclusion and social equity, quality of life, productivity and environmental sustainability, which were associated to the Drivers-Pressures-State- Impacts-Response (DPSIR) framework. As a result, the system of indicators initially proved to be consistent, and is a contribution that may be replicated in different Brazilian coastal metropoles. Thus, the use of these indicators may be used an instrument for taking decisions for thee integrated management of the coastal zone.
Keywords:
indicator; metropoles; coastal metropoles; indicators for urban quality
Introdução
Metrópoles são adensamentos urbanos e populacionais com influências econômica, política, informacional, cultural e de serviços que ultrapassam seus próprios limites territoriais. No caso brasileiro, segundo Grostein (2001GROSTEIN, M. D. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos” insustentáveis”. São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 13-19, 2001. 10.1590/s0102-88392001000100003
https://doi.org/10.1590/s0102-8839200100...
), a urbanização das metrópoles apresenta problemas que geram a insustentabilidade do aglomerado urbano/metropolitano, para o qual devem ser considerados componentes físico-urbanísticos a partir das seguintes variáveis: forma de ocupação do território; disponibilidade de insumos para o seu funcionamento; descarga de resíduos; mobilidade urbana; oferta de moradia, equipamentos e serviços sociais; qualidade dos espaços públicos.
No caso das zonas costeiras, são identificadas diferentes variáveis que permitem verificar uma significativa pressão do aglomerado urbano/metropolitano sobre seus ecossistemas. Por exemplo, associado ao crescimento desordenado, nota-se o agrava- mento das condições de moradia das populações pobres com o aumento significativo dos índices de favelização, resultando, em muitos casos, em degradação ambiental, provocada por loteamentos ilegais em áreas protegidas e solos frágeis, como restingas, manguezais, encostas de mata atlântica e estuários. Assim, como afirmam Nicolodi, Zamboni e Barroso (2009NICOLODI, J. L.; ZAMBONI, A. J.; BARROSO, G. F. Gestão integrada de bacias hidrográficas e zonas costeiras no Brasil:implicações para a Região Hidrográfica Amazônica. Revista da Gestão Costeira Integrada, v. 9, n.2, p. 9-32, 2009. 10.5894/rgci115
https://doi.org/10.5894/rgci115...
), na convergência das pressões e fluxos, com os diferentes interesses de usos e ocupação em um bioma de alta vulnerabilidade, a zona costeira representa um grande desafio para a gestão ambiental, compondo um mosaico de tipologias e padrões de ocupação e de exploração econômica.
Ao mesmo tempo, observa-se uma tendência de metropolização na zona costeira brasileira, com a concentração de grande parte da população e das riquezas, o que propicia a existência de zonas especializadas que podem ser classificadas como comer- ciais, portuárias e industriais. A costa brasileira possui 17 Estados costeiros e 16 regiões metropolitanas com densidade demográfica superior a 200 hab/km², quais sejam: Belém (Pará), Grande São Luís (Maranhão), Fortaleza (Ceará), Natal (Rio Grande do Norte), João Pessoa (Paraíba), Recife (Pernambuco), Maceió (Alagoas), Aracajú (Sergipe), Salvador (Bahia), Grande Vitória (Espírito Santo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Baixada Santista (São Paulo) e no Estado de Santa Catarina as regiões metropolitanas de Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Tubarão e o Norte/ Nordeste Catarinense (STROHAECKER, 2008STROHAECKER, T. M. Dinâmica populacional. In: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. Brasília: MMA, 2008. p. 59-73.).
Do ponto de vista socioeconômico, essas regiões apresentam processos de expansão urbana relacionados a investimentos em turismo, estruturas industriais, portuárias e logísticas, que, quando mal planejados, agravam a situação de expansão urbana irregular e os problemas e impactos dela decorrentes (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Gerenciamento Costeiro no Brasil. Disponível em: http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro. Acesso em: 13 fev.2015.
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial...
). Essas interações econômicas, sociais, urbanas e demográficas, segundo Polette e Lins-de-Barros (2012POLETTE, M.; LINS-DE-BARROS, F. Os desafios urbanos na zona costeira brasileira frente as mudanças climáticas. Costas, v.1, n. 1, p. 165-180, 2012. Disponível em: http://www.cona.cl/noticias/2012/0020costas/Costas-Vol1.pdf#page=171. Acesso em: 20 nov. 2015.
http://www.cona.cl/noticias/2012/0020cos...
), expõem problemas como ocupação irregular do espaço por populações de baixa renda, especulação imobiliária, adensa- mento, verticalização, erosão da região praiana, poluição, favelamento, entre outros. Ao se considerar a dinâmica populacional e as características socioeconômicas associadas a esses impactos sobre os ambientes marinhos e costeiros, observa-se a carência de estudos que propiciem o entendimento da estrutura e dinâmica desses territórios. Nesse sentido, um sistema de indicadores pode ser um instrumento relevante para analisar, avaliar e monitorar essas áreas e suas particularidades.
Indicadores são instrumentos que valoram fenômenos para permitir a mensuração do estado de diferentes escalas espaciais e temporais. Quando transformados em informação, eles se tornam ferramentas para conhecimento e avaliação do território. Na atualidade, indicadores são utilizados para avaliar, medir e monitorar fatores distintos, em diferentes realidades (LOUETTE, 2008LOUETTE, A. Compêndio para a Sustentabilidade. 2. ed. São Paulo: Antakarana, 2008.). É válido pontuar que Bellen (2004BELLEN, HMVan. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 28., 2004, Curitiba. Anais do 28º Enanpad. Curitiba: ANPAD, 2004. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalho/EnANPAD/enanpad_2004/GSA/2004_GSA569.pdf. Acesso em: 15 abr. 2016.
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalh...
) compreende os indicadores como variáveis de significância própria que têm como objetivo principal agregar e quantificar informações para melhorar o processo de comunicação.
Tendo isso em vista, um indicador pode ser entendido como uma ferramenta para obtenção de informações de uma dada realidade (SICHE et al., 2007SICHE, R. et al. Índices versus indicadores: precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de países. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 10, n. 2, p. 137-148, 2007. 10.1590/s1414-753x2007000200009
https://doi.org/10.1590/s1414-753x200700...
). Para a boa qualidade na constituição de um indicador, deve ser considerado o que se deseja fazer a partir das informações obtidas. Assim, por exemplo, quando os indica- dores estão associados à qualidade ambiental das áreas urbanas no ambiente natural costeiro, as especificidades delas devem ser ponderadas.
A qualidade ambiental urbana é marcada por espaços vulneráveis em razão dos usos, ocupações humanas e fluxos de toda ordem que impactam os ambientes naturais. Diante disso, para mensurar o grau de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, de satisfação pessoal nos ambientes metropolitanos costeiros, é preciso examinar a qualidade ambiental de uma forma ampla. Neste artigo, esses aspectos são abordados a partir das dimensões da infraestrutura, qualidade de vida, inclusão e equidade social, produtividade e sustentabilidade ambiental.
Defende-se a hipótese de que a composição de um sistema de indicadores de qualidade ambiental urbana para metrópoles costeiras permite conhecer e entender diferentes variáveis da relação físico-urbana, configurando-se como um instrumento para tomada de decisão na gestão integrada. Este artigo objetiva, pois, apresentar um sistema de indicadores de qualidade ambiental urbana que sirva de instrumento de tomada de decisão na gestão integrada da zona costeira e que possa ser replicado em diferentes regiões do país. Para tanto, no que se segue, será apresentada a forma como esse sistema foi construído, mostrando as dimensões e as relações causais estabelecidas.
O método de construção do Sistema de Indicadores para Metrópoles Costeiras (SIMeC)
O método de construção do SIMeC foi dividido em três fases principais: (I) levantamento e análise de sistemas de indicadores já existentes para a composição preliminar do sistema proposto; (II) avaliação do sistema preliminar por especialistas, com a integração de novos indicadores; (II) conexão sistêmica dos indicadores por meio de dimensões da Prosperidade Urbana e da estrutura Drivers-Pressures-State- Impacts-Responses (DPSIR).
Levantamento e análise dos sistemas de indicadores já existentes para a composição preliminar
Selecionar indicadores é uma tarefa delicada que não apresenta uma teoria formal consolidada, mas que necessita de uma reciprocidade entre o indicando (conceito) e os indicadores propostos (JANNUZZI, 2002JANNUZZI, P. M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 51-72, 2002. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6427. Acesso em: 20 nov. de 2015.
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/inde...
). Para uma melhor eleição dos indicadores, é necessário que haja uma concepção precisa do sistema que se quer gerenciar, com diferentes níveis de complexidade e facilidade, em função dos aspectos a se analisar, sendo relevante o uso de estratégias múltiplas (MINAYO, 2009MINAYO, M. C. S. Construção de Indicadores qualitativos para Avaliação de Mudanças. Revista Brasileira de Educação Médica, v.33, n.1, p. 83-91, 2009. 10.1590/s0100-55022009000500009
https://doi.org/10.1590/s0100-5502200900...
).
Com o objetivo de alcançar um sistema coerente com a realidade das metrópoles costeiras, foram analisados sistemas de indicadores conceitualmente aceitos e aplicáveis em diferentes realidades espaciais e relevantes para as especificidades do caso. Utilizaram-se, como referências, 22 sistemas de indicadores, divididos por possibilidade de aplicação geral (isto é, aplicados em qualquer tipo de metrópole) e específica para zonas costeiras.
Como indicadores gerais, foram considerados: Indicadores Urbanos Globais (UN-HABITAT); Objetivos e Metas para o Desenvolvimento do Milênio (referência para mensurar informações que atendam aos objetivos dos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU)); Índice para Cidades Sustentáveis (aplicado nas 20 maiores cidades da Grã-Bretanha); Índice para uma Vida Melhor (criado para comparar o desempenho dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)); Conjunto de Indicadores de Sustentabilidade para Austrália (refletem sobre as quantidades e qualidades dos recursos e sobre os fluxos de pressões do capital social, humano, natural e econômico); Programa Cidades Sustentáveis (assinado por diferentes cidades do planeta para evidenciar práticas sustentáveis); Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) de Belo Horizonte (índice multidimensional intraurbano); Índice de Qualidade Mercadológica (IQM) (desenvolvido pela Urban Systems Brasil, empresa de Business Intelligence, para identificar as cidades brasileiras acima de 100 mil habitantes mais atrativas para investimentos); Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) (desenvolvido pelo Observa- tório das Metrópoles, o IBEU é calculado em 15 metrópoles do país); Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável de Santa Catarina (cobre todas as cidades de Santa Catarina). Também foi fonte de coleta a produção científica de Peano, Bottero e Cassatella (2011PEANO, A.; BOTTERO, M.; CASSATELLA, C. Proposal for a Set of Indicators. Landscape Indicators Springer Netherlands, p. 193-215, 2011. 10.1007/978-94-007-0366-7_9
https://doi.org/10.1007/978-94-007-0366-...
), autores que apresentam indicadores para a região de Piemonte na Itália, com o objetivo de avaliar, em escala regional, características das paisagens naturais e pressões urbanas. Juntos, esses sistemas totalizaram 813 indicadores.
Como indicadores específicos para zona costeira, foram consideradas as seguintes ações governamentais e de grupos de pesquisa: Observatório Nacional do Mar e do Litoral, França (objetiva elaborar estatísticas e análises técnicas do ambiente costeiro e marinho, bem como aspectos socioeconômicos); SUSTAIN (guia para a autoavaliação da sustentabilidade costeira de escala municipal, com indicadores e um sistema de pontuação elaborado para os 22 Estados costeiros membros da União Europeia); Salish Sea Transboundary Ecosystem Indicators (Relatório de Saúde do Relatório Mar Salish - é uma ação conjunta entre a Agência de Proteção Ambiental dos EUA e a do Meio Ambiente do Canadá); Indicadores para Costa e Oceanos da Austrália (refletem sobre as quantidades e qualidades dos recursos e os fluxos de pressão do capital social, humano, natural e econômico). Também foram analisadas algumas produções científicas que aplicam indicadores em regiões costeiras, a saber: avaliação da costa da Baía de Guanabara (BIDONE; LACERDA, 2004BIDONE, E. D.; LACERDA, L. D. The use of DPSIR framework to evaluate sustainability in coastal areas. Case study: Guanabara Bay basin, Rio de Janeiro, Brazil. Regional Environmental Change, v. 4, n. 1, p. 5-16, 2004. 10.1007/s10113-003-0059-2
https://doi.org/10.1007/s10113-003-0059-...
); avaliação do estuário de Sado, em Portugal (MOURÃO et al., 2004MOURÃO, I. et al. Application of the DPSIR model to the Sado Estuary in a GIS context- Social and Economical Pressures. In: CONFERENCE ON GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE, 7., 2004, Creta. Proceedings of 7th Conference on Geographic Information Science. Creta: Crete University Press, 2004. p. 391-402. Disponível em: https://agile-online.org/Conference_Paper/CDs/agile_2004/papers/4-3-2_Caeiro.pdf. Acesso em: 10 nov. 2015.
https://agile-online.org/Conference_Pape...
); análise da costa da Índia (NAIR, R.; BHARAT; NAIR, N., 2012NAIR, R. S.; BHARAT, A.; NAIR, M. G. DPIRS Framework for Sustainable Development of Coastal Areas. Bonfring. International Journal of Industrial Engineering and Management Science, v. 2, n. 4, p. 117-124, 2012. 10.9756/bijiems.1746
https://doi.org/10.9756/bijiems.1746...
); análise da costa de Xiamen, na China (LIN; XUE; LU, 2007LIN, T.; XUE, X.Z.; LU, C.Y. Analysis of coastal wetland changes using the “DPSIR” model: a case study in Xiamen, China. Coastal Management, v. 35, n. 2-3, p. 289-303, 2007. 10.1080/08920750601169592
https://doi.org/10.1080/0892075060116959...
); indicadores para Malta (BELL, 2012BELL, S. DPSIR: A Problem Structuring Method? An exploration from the “Imagine” approach. European Journal of Operational Research, v. 222, n. 2, p. 350-360, 2012. 10.1016/j.ejor.2012.04.029
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.04.0...
); indicadores para a costa da Eslovênia (BELL, 2012BELL, S. DPSIR: A Problem Structuring Method? An exploration from the “Imagine” approach. European Journal of Operational Research, v. 222, n. 2, p. 350-360, 2012. 10.1016/j.ejor.2012.04.029
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.04.0...
); estudo sobre as intervenções humanas no delta do rio Axios, em Thermaikos, na Grécia (KARAGEORGIS, 2006KARAGEORGIS, A. P. et al. Impact of 100-year human interventions on the deltaic coastal zone of the inner thermaikos gulf (Greece): a DPSIR framework Analysis. Environmental Management, v. 38, n. 2, p. 304-315, 2006. 10.1007/s00267-004-0290-8
https://doi.org/10.1007/s00267-004-0290-...
). Esses sistemas, em conjunto, totalizaram 320 indicadores.
Análise, integração e composição preliminar do sistema de indicadores
Primeiramente, considerou-se como critério de análise que um indicador deve ser amplamente desagregável em termos geográficos, sociodemográficos e socioeconômicos (JANNUZZI, 2002JANNUZZI, P. M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 51-72, 2002. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6427. Acesso em: 20 nov. de 2015.
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/inde...
). Para atingir esse critério, foram evidenciados os indica- dores já existentes que fossem comuns em diferentes realidades geográficas, sociais e econômicas. No total, 1.133 indicadores passaram por uma análise, sendo divididos em 22 sistemas.
Foram levantados os indicadores que apresentaram maior número de aparições, a fim de evidenciar a representatividade deles diante das realidades de dois grupos: de metrópoles em geral e de zonas costeiras. Os indicadores foram pontuados e, inicial- mente, ranqueados em cada um dos dois grupos; depois, foram unidos para compor um sistema único. Na junção, obtiveram-se 43 indicadores, sendo que o de maior valor alcançou 126 pontos e o de menor, 18. Diante da amplitude do intervalo entre os indicadores de maior e menor valor, definiu-se como ponto de corte o valor atípico inferior, ou seja, partindo da definição dos quartis e da amplitude entre o menor e o maior quartil, foram descartados os valores que apresentavam maior discrepância, isto é, aqueles que ficavam mais afastados dos grupos de indicadores de menor valor. Como resultado, 32 indicadores compuseram um sistema preliminar para mensurar a qualidade ambiental urbana de metrópoles costeiras.
Nova composição do sistema a partir da avaliação dos especialistas
Após a configuração do sistema preliminar, fez-se necessária a avaliação da sua consistência para a realidade das metrópoles costeiras, assim como da possibilidade de inserir novos indicadores.
Para validação dos indicadores, utilizou-se a técnica Delphi, que consiste na solicitação de avaliação de uma versão preliminar do sistema por pessoas experientes no tema, considerando a possibilidade de acréscimo e supressões (MINAYO, 2009MINAYO, M. C. S. Construção de Indicadores qualitativos para Avaliação de Mudanças. Revista Brasileira de Educação Médica, v.33, n.1, p. 83-91, 2009. 10.1590/s0100-55022009000500009
https://doi.org/10.1590/s0100-5502200900...
). Foram encaminhados 338 questionários on-line, e o sistema foi avaliado por 45 especialistas residentes nos 17 Estados costeiros do país, distribuídos conforme a Figura 1.
A Figura 1 mostra que Santa Catarina apresentou o maior número de respondentes, sendo que todos os Estados costeiros foram representados por ao menos um especialista. Além da abrangência geográfica das áreas de atuação, deve-se mencionar que houve uma análise multidisciplinar com especialistas, em sua maioria, com doutorado nas áreas de Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Engenharia Florestal, Geologia, Economia, Oceanografia. Na avaliação, foi considerada a importância dos indicadores a partir dos seguintes critérios preestabelecidos:
-
Muito significativo = Peso 3;
-
Significativo = Peso 2;
-
Pouco significativo = Peso 1;
-
Não significativo = Peso 0.
Diante das avaliações, não foi possível definir um ponto de corte; todos os indicadores foram considerados relevantes. Os especialistas também propuseram novos indicadores para compor o sistema. Ao todo, foram propostos 130 novos indicadores. Na nova análise, foram usados os seguintes critérios:
-
Relevância para regiões costeiras;
-
Factibilidade operacional para sua obtenção;
-
Relação sistêmica com o sistema aplicado;
-
Aplicação sem sobreposição com outro indicador do sistema.
Como resultado, mais 33 novos indicadores foram considerados. Na integração entre os indicadores da versão preliminar e aqueles que foram indicados pelos especialistas, obteve-se um sistema para qualidade ambiental urbana de metrópoles costeiras com 65 indicadores. Para finalizar, os indicadores foram integrados de acordo com as dimensões da Prosperidade Urbana e relacionados com a estrutura Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (tradução para a sigla em inglês DPSIR), a fim de caracterizar a relação causal entre eles e evidenciar, assim, um sistema sinérgico.
Composição sistêmica dos indicadores: das dimensões da Prosperidade Urbana à relação causal com a estrutura DPSIR
A partir da definição do grupo de indicadores, foi necessário evidenciar uma visão integrada das variáveis. Utilizou-se como referência uma nova forma de abordagem para tratar o nível de prosperidade urbana proposto pela UN-Habitat (2012)UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
. Essa associação tem como objetivo a formação de um sistema de indicadores que, integrados, permitam a interpretação da realidade a partir da pluralidade de conheci- mentos que são necessários para a gestão da qualidade ambiental urbana.
Como referência para a classificação dos indicadores ante as relações possíveis, fez-se uso das dimensões do Índice de Prosperidade das Cidades (IPC), desenvolvido pela UN-Habitat (2012)UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
, com a premissa de que os bons níveis de prosperidade urbana estão integrados às seguintes dimensões: produtividade, infraestrutura, qualidade de vida, inclusão e equidade social (WONG, 2015WONG, C. A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International , v. 45, n. 1, p. 3-9, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.018
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.201...
; BONAIUTO et al., 2015BONAIUTO, M. et al. Perceived Residential Environment Quality Indicators (PREQIs) relevance for UN-HABITAT City Prosperity Index (CPI). Habitat International, v. 45, n. 1, p. 53-63, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.015
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.201...
). A boa qualidade das dimensões é entendida tendo em vista a boa gestão urbana, que possibilita o melhor desempenho e a eficácia da ação governamental (STEAD, 2015STEAD, D. What does the quality of governance imply for urban prosperity? Habitat International, v. 45, n. 1, p. 64-69, 2015. 10.1016/j.habita-tint.2014.06.014
https://doi.org/10.1016/j.habita-tint.20...
; WONG, 2015WONG, C. A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International , v. 45, n. 1, p. 3-9, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.018
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.201...
). No entanto, como índice composto, o IPC tende a ocultar informações mais detalhadas, ao mesmo tempo que dá margem para melhorias no quadro conceitual e metodológico (WONG, 2015WONG, C. A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International , v. 45, n. 1, p. 3-9, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.018
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.201...
).
Este estudo se apropriou das dimensões do IPC no intuito de classificar os indicadores previamente levantados e considerados com base nas necessidades das metrópoles costeiras. As dimensões da Roda da Prosperidade Urbana são vistas como relevantes para a valorização de um processo de interação voltado à promoção da prosperidade a partir de ações e políticas de planejamento urbano. Essa interação é apresentada na Figura 2.
A Figura 2 representa a interação entre as dimensões que sustentam a Prosperidade Urbana: Produtividade, Inclusão e Equidade Social, Qualidade de Vida, Sustentabilidade Ambiental e Infraestrutura, que podem apresentar melhores resultados a partir de ações de gestão urbana. De acordo com a UN-Habitat (2012)UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
, a produtividade refere-se à eficiência das ações para o desenvolvimento econômico local, considerando os processos produtivos e de serviços. Por sua vez, a inclusão e a equidade social permitem uma melhor distribuição de renda e a expansão das oportunidades e participações nos espaços urbanos. Além de maior poder aquisitivo e participação política, há a busca por melhor qualidade de vida, com a garantia do bem-estar individual e social por meio de participações comunitárias e convivência saudável nos espaços públicos. Já a sustentabilidade ambiental visa a promover uma relação equilibrada entre o crescimento econômico e o ambiente natural, em uma estrutura urbana adequada para o bem-estar da população e com menor impacto ambiental. Por fim, a infraestrutura é compreendida como um instrumento do desenvolvimento econômico, social e ambiental, estando associada a serviços básicos e estruturas físicas capazes de promover o bem-estar humano, com a minimização dos problemas ambientais e a melhoria da qualidade do ambiente (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
).
Os indicadores foram distribuídos de acordo com essas dimensões. Para uma análise mais integrada, utilizou-se o modelo conceitual Drivers-Pressures-State- Impacts-Responses (DPSIR), traduzido como forças motrizes, pressões, estado, impactos e respostas. Segundo Svarstad et al. (2008SVARSTAD, H. et al. Discursive biases of the environmental research framework DPSIR. Land Use Policy, v. 25, n.1, p. 116-125, 2008. 10.1016/j.landu-sepol.2007.03.005
https://doi.org/10.1016/j.landu-sepol.20...
), em pouco tempo, a estrutura DPSIR tornou-se popular entre pesquisadores e formuladores de políticas como um modelo conceitual e estrutural para comunicar pesquisas ambientais. Sua popularidade está relacionada ao fato de tal modelo capturar, de forma simples, as relações fundamentais entre os fatores da sociedade e do meio ambiente, podendo também ser utilizado como ferramenta de comunicação entre diferentes partes interessadas. A Figura 3 mostra as relações estabelecidas entre força motriz (D), pressão (P), estado (S), impacto (I) e respostas (R).
Descrição das relações entre força motriz (D), pressão (P), estado (S), impacto (I) e respostas (R)
Como observado na Figura 3, o DPSIR faz uma ligação entre modelos ambientais e macroeconômicos, tornando possível a integração de ações de conservação com desenvolvimento socioeconômico e estabelecendo relações entre atividades humanas, impactos ambientais e respostas políticas e sociais. No caso do sistema de indicadores desenvolvido, ao aplicar uma estrutura para cada dimensão, o indicador de força motriz - “área urbanizada por km²” - foi considerado nas dimensões Sustentabilidade Ambiental e Infraestrutura. Da mesma forma, os indicadores “taxa de crescimento da população” (força motriz) e “densidade demográfica” (pressão) foram aplicados nas dimensões de Inclusão e Equidade Social e também na dimensão Qualidade de Vida. Na configuração do DPSIR, também se percebeu a necessidade de inserir novos indicadores de respostas para constituir relações causais. São eles: “Percentual de despesa pública municipal com saúde”; “Percentual de despesa pública municipal com transporte”; “Percentual de despesa pública municipal com assistência social”; “Percentual de despesa pública municipal com urbanismo”. Como resultado, o sistema se constituiu em 69 indicadores, agrupados conforme as dimensões da prosperidade urbana e integrados na estrutura DPSIR. Após todas as fases do método de desenvolvimento, estruturou-se o Sistema de Indicadores de Qualidade Ambiental Urbana para Metrópoles Costeiras (SIMeC), um sistema de indicadores que visa à compreensão das metrópoles costeiras em dimensões que, integradas, apresentam diagnósticos e permitem o acompanhamento das alterações que influenciam na qualidade ambiental urbana e, consequentemente, nos ecossistemas costeiros.
Apresentação do Sistema de Indicadores de Qualidade Ambiental Urbana para Metrópoles Costeiras (SIMeC)
Uma cidade, do ponto de vista técnico-material, segundo Acselrad (1999ACSELRAD, H. Discursos da sustentabilidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n. 1, p. 79-90, 1999. 10.22296/2317-1529.1999n1p79
https://doi.org/10.22296/2317-1529.1999n...
), é configurada a partir de um metabolismo urbano composto de movimentos interativos, circulação, transformação e capacidade de resiliência para superar as vulnerabilidades diante dos choques externos. Além da abordagem econômica, para esse autor, uma matriz que considere a qualidade de vida deve ser pensada e articulada a um conjunto de políticas que favoreçam o diálogo e a negociação. Com base nessas premissas, são realizados estudos em todo o mundo para analisar realidades territoriais e processos ecológicos associados a pressões urbanas e sociais que envolvem diferentes configurações e domínios, tendo a escala espacial e temporal como referencial para conduzir ações e mudanças (ERKIP; KIZILGUN; AKINCI, 2014ERKIP, F.; KIZILGUN, Ö.; AKINCI, G. M. Retailers’ resilience strategies and their impacts on urban spaces in Turkey. Cities, n. 36, p. 112-120, 2014. 10.1016/j.cities.2012.12.003
https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.12...
; ZHANG, LIU, FATH, 2014ZHANG, Y.; LIU, H.; FATH, B. D. Synergism analysis of an urban metabolic system: Model development and a case study for Beijing, China. Ecological Modelling, v. 272, p. 188-197, 2014. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380013004651. Acesso em: 20 nov. 2015.
http://www.sciencedirect.com/science/art...
; POLÈSE; SHEARMUR, 2006POLÈSE, M.; SHEARMUR, R. Why some regions will decline: A Canadian case study with thoughts on local development strategies. Papers in Regional Science, v. 85, n.1, p. 23-46, 2006. 10.1111/j.1435-5957.2006.00024.x
https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2006...
).
Sendo o objeto de estudo as metrópoles, é necessário analisar uma série de processos que influenciam os modos e meios de vida e que impactam as áreas naturais. Quando localizados em zonas costeiras, esses processos exercem pressões, pondo em risco ecos- sistemas de alta relevância ambiental. Ao mesmo tempo, por conta dos recursos naturais existentes e dos processos civilizatórios, segundo a UN-Habitat (2012)UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
, questões como o menor custo do transporte, o acesso mais amplo a mercados, a beleza natural e o clima mais quente fazem com que as zonas costeiras e os deltas de rios apresentem vantagens competitivas que estimulam o crescimento das cidades, como comprovação disso, 14 das 19 maiores cidades do mundo são portuárias.
Ligado a essa realidade, o sistema de indicadores proposto visa à qualidade ambiental urbana. Como limitador, cumpre mencionar que a busca pela boa qualidade ambiental urbana abrange aspectos espaciais, sociais, biológicos e econômicos que se mostram incompletos para atender aos objetivos e a diferentes e, por vezes, divergentes expectativas (VARGAS; RIBEIRO, 2001VARGAS, H. C; RIBEIRO, H. Qualidade Ambiental Urbana: Ensaio de Uma Definição. In: VARGAS, H. C; RIBEIRO, H. (Org.). Novos Instrumentos de Gestão Ambiental Urbana. São Paulo: Ed. USP, 2001. p. 13-20.). Isso se dá pelo fato de a qualidade ambiental, como conceito, integrar diferentes aspectos objetivos e subjetivos da percepção sobre o ambiente. Mesmo assim, a United Nations (1997)UNITED NATIONS. Glossary of environment statistics. United Nations Pubns, 1997. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/232808
https://digitallibrary.un.org/record/232...
designou que qualidade ambiental é o estado da condição do ambiente expresso por meio de índice ou indicadores.
Ao estudar os indicadores, Bellen (2004BELLEN, HMVan. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 28., 2004, Curitiba. Anais do 28º Enanpad. Curitiba: ANPAD, 2004. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalho/EnANPAD/enanpad_2004/GSA/2004_GSA569.pdf. Acesso em: 15 abr. 2016.
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalh...
) também observa que eles, ao adotarem diferentes significados na monitoração de sistemas complexos, possibilitam a criação de um modelo que serve de ferramenta para conhecer e mudar a realidade. Reforçando, Rossetto et al. (2004ROSSETTO, A. M. et al. Proposta de um Sistema de Indicadores para Gestão de Cidades visando ao Desenvolvimento Sustentável. 2004. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. Florianópolis, UFSC, 2004.) salientam que os indicadores tornam visíveis as características de uma cidade, o que possibilita compreender e avaliar a extensão dos problemas considerados.
Cabe assinalar que, para analisar as metrópoles costeiras, há que se levar em conta dois tipos de especificidades: uma relacionada ao resultado do indicador, que, mesmo sendo passível de aplicação em realidades de metrópoles interiores, deve ser relevante quando aplicada em metrópoles costeiras, por influenciar e ser influenciada pelas diferentes dinâmicas associadas à ocupação e ao uso dos ambientes próprios da costa; a outra é que o indicador traz características específicas para sua aplicação em áreas costeiras. De acordo com esses pontos, cada dimensão apresentou as seguintes composições (Tabela 1):
A Tabela 1 mostra que os indicadores, quanto mais sociais (qualidade de vida e inclusão e equidade social), são aplicáveis em realidades não costeiras. As especificidades das metrópoles costeiras aqui consideradas estão mais diretamente relacionadas às características da infraestrutura, do modo de produção e do meio ambiente. Esses indicadores influenciam diretamente nas condições sociais, representadas, neste artigo, pelas dimensões “qualidade de vida” e “inclusão e equidade social”.
Os indicadores que fazem parte do sistema foram aplicados no modelo DPSIR, segundo cada uma de suas dimensões. Os modelos servem como sugestão de análise, não tendo o objetivo de desconsiderar a importância individual de cada indicador nem a possibilidade de se estabelecer outras relações. Alguns indicadores foram observados em mais de uma dimensão, por exemplo, a taxa de crescimento da população, a força motriz para as dimensões de inclusão e equidade social e de qualidade de vida.
Indicadores de Produtividade
Cidades com maior produtividade são capazes de otimizar a produção com a mesma quantidade de recursos e, ao mesmo tempo, ofertar produtos e serviços a preços acessíveis (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). Apesar de ser comumente utilizado como critério para definir a produtividade urbana, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita é insuficiente quando analisado isoladamente. Fatores como crescimento populacional, infraestrutura, capital tecnológico, patrimônio cultural, recursos naturais, entre outros, constituem insumos básicos da atividade produtiva (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). Essas variáveis serão consideradas também nas outras dimensões e devem ser analisadas a partir da relação sistêmica entre os indicadores. Nesse sentido, a dimensão produtividade apresenta indicadores para compreender as características dos processos produtivos e as ações voltadas para uma produção de menor impacto ambiental.
Conforme a Figura 4, para análise da produtividade, foi considerado o PIB como força motriz e a sua variação, o impacto. Como respostas, foram elencados os indicadores que mostram os números de estabelecimentos agrícolas e as empresas com certificações ambientais para identificar, nos processos produtivos, padrões e condutas adequadas em termos ambientais e sociais.
Das especificidades dessa dimensão, mesmo não sendo uma atividade urbana, estabeleceu-se o indicador da produção agrícola para identificar a capacidade de os municípios atenderem às demandas locais urbanas. Por estados, procurou-se identificar os rendimentos de acordo com os diferentes setores da economia. Nessa dimensão, a produção pesqueira e aquícola e o número de portos e suas movimentações são os indicadores específicos de zonas costeiras. O turismo, apesar de não ser específico da costa, é de extrema relevância para muitas cidades litorâneas. Assim, para classificar o desempenho econômico do turismo nos municípios, foi incluída a forma como o Ministério do Turismo categoriza os municípios a partir do desempenho das variáveis dimensão da rede hoteleira, empregos formais voltados para o turismo e estimativa de turistas recebidos.
Indicadores de Sustentabilidade Ambiental
As áreas urbanas consomem enormes quantidades de bens e serviços ambientais, como alimentos, água, energia, florestas, espaços verdes - muitas vezes além de suas fronteiras (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). No ambiente costeiro, a pressão urbana impacta ecossistemas específicos. A proposta dessa dimensão é conhecer os aspectos e impactos ambientais e definir as melhores ações de correção e prevenção, sem desconsiderar as demandas sociais e econômicas. Os indicadores são apresentados na Figura 5.
Como apresentado na Figura 5, nessa dimensão, como força motriz está a extensão da área urbanizada. Como pressão, além da riqueza de avifauna nas áreas urbanas, foi considerada a relação entre as áreas protegidas e a área total que pressiona e modifica os estados dos manguezais, condições de balneabilidade, índices de qualidade da água e do ar. Como impactos sobre as comunidades locais, foram levadas em conta as doenças infecto-parasitárias relacionadas à água e aos aspectos próprios de áreas costeiras, como a mortandade de peixes e a incidência de algas nocivas nas orlas. Como respostas para melhorar a relação entre áreas urbanas e espaços naturais, estão os gastos com gestão ambiental e as extensões de áreas protegidas. Para o ordena- mento espacial, como resposta, destaca-se também a importância da presença de um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro para mapear as atividades, caracterizar usos e priorizar a proteção dos recursos naturais costeiros.
Indicadores de Qualidade de Vida
Apesar de apresentar diferentes significados e facetas, seja nos países desenvolvidos, seja nos mais pobres, é fato que a qualidade de vida é essencial para que a cidade prospere. Nesse contexto, é possível compartilhar preocupações semelhantes, como empregabilidade, bem-estar material, boa saúde das famílias e acessos a diferentes oportunidades econômicas e de integração social (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). Neste estudo, foram considerados três temas relevantes para a qualidade de vida das metrópoles brasileiras: mobilidade urbana, saúde e educação. Os indicadores são apresentados na Figura 6.
Para compreender as relações causais que afetam a qualidade de vida das populações, considerou-se como força motriz a taxa de crescimento da população; também foi observado como a densidade demográfica influencia na realidade urbana, sendo relevante conhecer a expectativa de anos de estudo, o acompanhamento da saúde humana com o conhecimento do número de médicos e de leitos, diretamente asso- ciados ao número de óbitos infantis - forte indicador para o entendimento da qualidade de vida. Outra questão importante é o estado da mobilidade urbana. Para esse aspecto, foi definido como imperativo no sistema o conhecimento do número de veículos por habitantes e as extensões de ciclovias que impactam, diretamente, o tempo médio de deslocamentos para trabalho ou estudo. Como resposta, aparece o investimento em cultura para atender a população dos centros urbanos e para a preservação do patrimônio cultural, também imprescindível para o gerenciamento costeiro. É indicador de resposta, igualmente, a despesa municipal com transporte. E, para melhorar a qualidade da saúde da população, além da despesa anual, há as unidades básicas públicas de atendimento, que visam a ampliar o acesso com a descentralização do atendimento ao público e possibilitam ações preventivas e consultas médicas básicas, desafogando hospitais.
Indicadores de Inclusão e Equidade Social
Equidade envolve a diminuição da disparidade de renda entre ricos e pobres, prevendo, ainda, melhorias nas oportunidades direcionadas a minorias e grupos vulneráveis nas esferas social, política e cultural (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). Na Figura 7 são apresentados os indicadores dessa dimensão.
Como mostra a Figura 7, assim como na dimensão de qualidade de vida, na inclusão e equidade social também foi considerada como força motriz a taxa de crescimento da população; como pressão, a densidade demográfica. Categorizada como indicador de estado, essa dimensão tem como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico da população e as características dos domicílios. Para compreender a realidade costeira, é também importante entender a quantidade de indivíduos pertencentes a populações tradicionais pesqueiras. Como impacto, foram levadas em conta a existência de habitações subnormais e a população em situação de rua. Como respostas, a análise observou as ações políticas voltadas para o extrato carente da população, por meio de programas habitacionais e de transferência de renda, bem como as despesas com assistência social.
Indicadores de Infraestrutura
As atividades humanas são vinculadas às obras que visam a suportar e manter o uso e ocupação das cidades e que interferem nas qualidades físicas, químicas e biológicas dos ambientes (ORNSTEIN; BRUNA, 2004ORNSTEIN, S. W.; BRUNA, G. C. Uma abordagem interdisciplinar: avaliação pós-ocupação e impacto ambiental. In: ALBUQUERQUE, J.L. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1001-1018. ). Assim, para a cidade prosperar, deve-se ter uma boa infraestrutura de saneamento, redes de transporte eficientes e modernas tecnologias da informação e comunicação (TICs) (UN-HABITAT, 2012UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf. Acesso em: 3 jan. 2015.
https://www.construible.es/images/CONSTR...
). Nesse sentido, foi dada ênfase nos serviços de saneamento básico, acesso à Internet e fornecimento de energia elétrica. A Figura 8 apresenta as relações entre os indicadores abordados na dimensão da infraestrutura.
Conforme a Figura 8, na relação causal entre os indicadores, a extensão da área urbanizada é a força motriz; já o indicador de pressão é a taxa de urbanização, que é o percentual da população que vive em área urbana. Por sua vez, quando se trata de infraestrutura, foram definidos como indicadores de estado: cobertura da coleta e tratamento de esgoto; geração e coleta de lixo; fornecimento de energia elétrica; acesso à Internet banda larga; acesso à água potável. Segundo a UN-Habitat (2012), o acesso à água limpa reduz a morbidade e mortalidade e melhora a capacidade produtiva dos mais pobres - um exemplo de indicador que pode ser relacionado as outras dimensões.
Os outros indicadores de impacto estão ligados às catástrofes naturais, como inundações, deslizamentos e erosão costeira, conexos com pressões antrópicas e naturais nos ambientes costeiros. Como resposta à erosão costeira, estão as medidas corretivas de proteção da linha de costa por estrutura de concreto armado e molhes. Uma resposta relevante é a presença de emissários para esgotos domésticos e industriais visando a aproveitar a capacidade de depuração dos oceanos. Da mesma forma, consideram-se como ações importante para a gestão costeira a existência de certificação ambiental em praias e marinas, as despesas municipais com urbanismo e a destinação adequada dos resíduos sólidos.
Para finalizar, cabe destacar que a classificação apresentada pretende permitir uma análise das relações entre indicadores e dimensões. Assim, é possível evidenciar, além da importância individual de cada indicador, as articulações e interações possíveis dentro de cada uma das dimensões e também entre elas.
Considerações Finais
Ao apresentar um sistema de indicadores de qualidade ambiental urbana para metrópoles costeiras, foi possível associar a realidade metropolitana com a realidade costeira. A junção de indicadores aplicáveis em aglomerados urbanos não costeiros com os específicos da costa permitiu entender as diferentes dinâmicas dos espaços urbanos e também como os interesses setoriais interferem na resiliência dos sistemas costeiros.
A associação dos indicadores com as dimensões da Prosperidade Urbana, por sua vez, possibilitou uma interpretação sistêmica de diferentes temas, com sugestões de ações de gestão urbana a partir do entendimento das questões sociais, econômicas, ambientais e de infraestrutura. Nesse contexto, a aplicação do modelo DPSIR evidenciou a relação causal entre as variáveis, indicando uma perspectiva de análise.
Em suma, o sistema de indicadores apresentado pode ser considerado um instrumento destinado a avaliar a realidade espacial, com a garantia, ainda, de uma análise histórica. Da mesma forma, por permitir o exame das especificidades dos territórios costeiros, ele pode contribuir para a construção de relatórios de qualidade socioambiental que sejam capazes de proporcionar a gestores públicos, à sociedade e a investidores econômicos uma fonte de informações fundamental para conhecer e agir na realidade. Por fim, os Indicadores de Qualidade Ambiental Urbana para Metrópoles Costeiras (SIMeC) podem ser identificados como um instrumento para a tomada de decisão na gestão integrada da zona costeira, aplicável em diferentes regiões do país.
Referências
- ACSELRAD, H. Discursos da sustentabilidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n. 1, p. 79-90, 1999. 10.22296/2317-1529.1999n1p79
» https://doi.org/10.22296/2317-1529.1999n1p79 - BELL, S. DPSIR: A Problem Structuring Method? An exploration from the “Imagine” approach. European Journal of Operational Research, v. 222, n. 2, p. 350-360, 2012. 10.1016/j.ejor.2012.04.029
» https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.04.029 - BELLEN, HMVan. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 28., 2004, Curitiba. Anais do 28º Enanpad Curitiba: ANPAD, 2004. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/trabalho/EnANPAD/enanpad_2004/GSA/2004_GSA569.pdf Acesso em: 15 abr. 2016.
» http://www.anpad.org.br/diversos/trabalho/EnANPAD/enanpad_2004/GSA/2004_GSA569.pdf - BIDONE, E. D.; LACERDA, L. D. The use of DPSIR framework to evaluate sustainability in coastal areas. Case study: Guanabara Bay basin, Rio de Janeiro, Brazil. Regional Environmental Change, v. 4, n. 1, p. 5-16, 2004. 10.1007/s10113-003-0059-2
» https://doi.org/10.1007/s10113-003-0059-2 - BONAIUTO, M. et al Perceived Residential Environment Quality Indicators (PREQIs) relevance for UN-HABITAT City Prosperity Index (CPI). Habitat International, v. 45, n. 1, p. 53-63, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.015
» https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.015 - CARR, E. R. et al Applying DPSIR to sustainable development. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, v. 14, n. 6, p. 543-555, 2007. 10.1080/13504500709469753
» https://doi.org/10.1080/13504500709469753 - ERKIP, F.; KIZILGUN, Ö.; AKINCI, G. M. Retailers’ resilience strategies and their impacts on urban spaces in Turkey. Cities, n. 36, p. 112-120, 2014. 10.1016/j.cities.2012.12.003
» https://doi.org/10.1016/j.cities.2012.12.003 - GROSTEIN, M. D. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos” insustentáveis”. São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 13-19, 2001. 10.1590/s0102-88392001000100003
» https://doi.org/10.1590/s0102-88392001000100003 - JANNUZZI, P. M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 51-72, 2002. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6427 Acesso em: 20 nov. de 2015.
» http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6427 - KARAGEORGIS, A. P. et al Impact of 100-year human interventions on the deltaic coastal zone of the inner thermaikos gulf (Greece): a DPSIR framework Analysis. Environmental Management, v. 38, n. 2, p. 304-315, 2006. 10.1007/s00267-004-0290-8
» https://doi.org/10.1007/s00267-004-0290-8 - LIN, T.; XUE, X.Z.; LU, C.Y. Analysis of coastal wetland changes using the “DPSIR” model: a case study in Xiamen, China. Coastal Management, v. 35, n. 2-3, p. 289-303, 2007. 10.1080/08920750601169592
» https://doi.org/10.1080/08920750601169592 - LOUETTE, A. Compêndio para a Sustentabilidade 2. ed. São Paulo: Antakarana, 2008.
- MINAYO, M. C. S. Construção de Indicadores qualitativos para Avaliação de Mudanças. Revista Brasileira de Educação Médica, v.33, n.1, p. 83-91, 2009. 10.1590/s0100-55022009000500009
» https://doi.org/10.1590/s0100-55022009000500009 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Gerenciamento Costeiro no Brasil Disponível em: http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro Acesso em: 13 fev.2015.
» http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro - MOURÃO, I. et al Application of the DPSIR model to the Sado Estuary in a GIS context- Social and Economical Pressures. In: CONFERENCE ON GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE, 7., 2004, Creta. Proceedings of 7th Conference on Geographic Information Science Creta: Crete University Press, 2004. p. 391-402. Disponível em: https://agile-online.org/Conference_Paper/CDs/agile_2004/papers/4-3-2_Caeiro.pdf Acesso em: 10 nov. 2015.
» https://agile-online.org/Conference_Paper/CDs/agile_2004/papers/4-3-2_Caeiro.pdf - NAIR, R. S.; BHARAT, A.; NAIR, M. G. DPIRS Framework for Sustainable Development of Coastal Areas. Bonfring. International Journal of Industrial Engineering and Management Science, v. 2, n. 4, p. 117-124, 2012. 10.9756/bijiems.1746
» https://doi.org/10.9756/bijiems.1746 - NICOLODI, J. L.; ZAMBONI, A. J.; BARROSO, G. F. Gestão integrada de bacias hidrográficas e zonas costeiras no Brasil:implicações para a Região Hidrográfica Amazônica. Revista da Gestão Costeira Integrada, v. 9, n.2, p. 9-32, 2009. 10.5894/rgci115
» https://doi.org/10.5894/rgci115 - ORNSTEIN, S. W.; BRUNA, G. C. Uma abordagem interdisciplinar: avaliação pós-ocupação e impacto ambiental. In: ALBUQUERQUE, J.L. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações São Paulo: Atlas, 2004. p. 1001-1018.
- PEANO, A.; BOTTERO, M.; CASSATELLA, C. Proposal for a Set of Indicators. Landscape Indicators Springer Netherlands, p. 193-215, 2011. 10.1007/978-94-007-0366-7_9
» https://doi.org/10.1007/978-94-007-0366-7_9 - POLÈSE, M.; SHEARMUR, R. Why some regions will decline: A Canadian case study with thoughts on local development strategies. Papers in Regional Science, v. 85, n.1, p. 23-46, 2006. 10.1111/j.1435-5957.2006.00024.x
» https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2006.00024.x - POLETTE, M.; LINS-DE-BARROS, F. Os desafios urbanos na zona costeira brasileira frente as mudanças climáticas. Costas, v.1, n. 1, p. 165-180, 2012. Disponível em: http://www.cona.cl/noticias/2012/0020costas/Costas-Vol1.pdf#page=171 Acesso em: 20 nov. 2015.
» http://www.cona.cl/noticias/2012/0020costas/Costas-Vol1.pdf#page=171 - ROSSETTO, A. M. et al Proposta de um Sistema de Indicadores para Gestão de Cidades visando ao Desenvolvimento Sustentável. 2004. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. Florianópolis, UFSC, 2004.
- SICHE, R. et al Índices versus indicadores: precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de países. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 10, n. 2, p. 137-148, 2007. 10.1590/s1414-753x2007000200009
» https://doi.org/10.1590/s1414-753x2007000200009 - STEAD, D. What does the quality of governance imply for urban prosperity? Habitat International, v. 45, n. 1, p. 64-69, 2015. 10.1016/j.habita-tint.2014.06.014
» https://doi.org/10.1016/j.habita-tint.2014.06.014 - STROHAECKER, T. M. Dinâmica populacional. In: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil Brasília: MMA, 2008. p. 59-73.
- SVARSTAD, H. et al Discursive biases of the environmental research framework DPSIR. Land Use Policy, v. 25, n.1, p. 116-125, 2008. 10.1016/j.landu-sepol.2007.03.005
» https://doi.org/10.1016/j.landu-sepol.2007.03.005 - UN-HABITAT. State of the world’s cities 2012/2013: Prosperity of cities. Nairobi: UN-HAB-ITAT, 2012. Disponível em: https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf Acesso em: 3 jan. 2015.
» https://www.construible.es/images/CONSTRUIBLE/media/content/20130125-informe-onu-habitat-estado-de-las-ciudades-2012-2013.pdf - UNITED NATIONS. Glossary of environment statistics United Nations Pubns, 1997. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/232808
» https://digitallibrary.un.org/record/232808 - VARGAS, H. C; RIBEIRO, H. Qualidade Ambiental Urbana: Ensaio de Uma Definição. In: VARGAS, H. C; RIBEIRO, H. (Org.). Novos Instrumentos de Gestão Ambiental Urbana São Paulo: Ed. USP, 2001. p. 13-20.
- WONG, C. A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International , v. 45, n. 1, p. 3-9, 2015. 10.1016/j.habitatint.2014.06.018
» https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.018 - ZHANG, Y.; LIU, H.; FATH, B. D. Synergism analysis of an urban metabolic system: Model development and a case study for Beijing, China. Ecological Modelling, v. 272, p. 188-197, 2014. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380013004651 Acesso em: 20 nov. 2015.
» http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380013004651
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
05 Maio 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2016
Histórico
-
Recebido
20 Set 2015 -
Aceito
27 Maio 2016
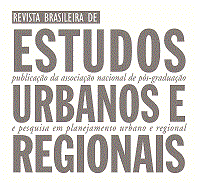









 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Adaptado de
Fonte: Adaptado de  Fonte: Adaptado pelos autores de
Fonte: Adaptado pelos autores de  Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.