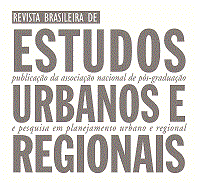Resumo
O processo de desconcentração produtiva que se iniciou por volta dos anos 1970 trouxe expectativas de um desenvolvimento regional mais equilibrado no Brasil. Após um ciclo virtuoso de desconcentração, durante o período do milagre econômico, o processo se arrefeceu, despertando preocupações acerca de uma repolarização produtiva na região Sudeste e de uma eminente fragmentação das economias regionais. O presente artigo, nesse contexto, defenderá, com o auxílio de estudos em perspectiva nacional e regional, que uma conjunção de fatores, como a reorientação político-institucional, o ciclo de crescimento econômico e o contexto internacional favorável, dentre outros, propiciou o surgimento de uma dinâmica mais acentuada de desconcentração produtiva no período entre 2000 e 2015.
Palavras-chave:
desconcentração produtiva; desenvolvimento regional; políticas públicas regionais; reestruturação produtiva e territorial; organização territorial: reconfiguração territorial
Abstract
The process of productive deconcentration that began around the 1970s brought expectations about a more balanced regional development in Brazil. After a virtuous cycle of deconcentration, during the period of the economic miracle, the process cooled, raising concerns about a productive repolarization in the Southeast region and an eminent fragmentation of the regional economies. In this context, the present article will defend, with the subsidy of studies from a national and regional perspective, that a combination of factors such as political-institutional reorientation, economic growth cycle and the favorable international context, among others, contributed to the emergence of a more pronounced dynamic of productive deconcentration in the period between 2000 and 2015.
Keywords:
productive deconcentration; regional development; regional public policies; productive and territorial restructuring; territorial organization: territorial reconfiguration
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o Brasil se consolidou entre as dez maiores economias do mundo; atualmente, ocupa a oitava posição1 1 Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx>. Acesso em: 10 mar. 2018. . Não obstante, a história da formação econômica do país forjou uma configuração territorial altamente concentrada em termos de renda e produção na região Sudeste, em especial no estado de São Paulo.
Segundo dados das contas nacionais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2 2 IBGE, 2017. , em 2015, o Sudeste foi responsável por 54% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O estado de São Paulo, sozinho, representou 32% do total nacional, o que é mais do que todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste somados - juntos, eles participam somente com 29%. O Sul, por sua vez, contribui com 17% do PIB. No tocante à renda per capita, o Sudeste apresenta razão de 129% em relação à renda média nacional, enquanto a do Nordeste é de apenas 51%. Considerando somente o estado de São Paulo, tem-se que a renda representa 150%, ou seja, é quase três vezes maior que a renda per capita nordestina. Esse quadro de desigualdade regional produtiva e de renda no Brasil reflete-se, também, nas condições socioeconômicas da população, o que traz enormes desafios para o desenvolvimento nacional.
A partir da década de 1970, no entanto, essa dinâmica produtiva concentradora no Sudeste, especialmente em São Paulo, começou a arrefecer e dar lugar a um processo que ficou conhecido na literatura de desenvolvimento regional como desconcentração produtiva. Esse termo designa os ganhos de participação relativa ou absoluta, tanto no setor primário como no secundário ou terciário, de uma região em relação a outra previamente mais concentrada ou com maior participação nesses mesmos setores.
Nesse contexto, o presente artigo abordará, inicialmente, o surgimento dessa dinâmica de desconcentração e a passagem de seu ciclo virtuoso, ao longo dos anos 1970, para um ciclo mais brando após as crises dos anos 1980 e a emergência neoliberal dos anos 1990. Posteriormente, defenderá, com o subsídio de estudos em perspectiva nacional e regional, que, diante de uma série de fatores e, sobretudo, da retomada da intervenção, do planejamento e dos investimentos por parte do Estado, é possível apontar uma dinâmica mais acentuada de desconcentração produtiva no período entre 2000 e 2015. Por fim, o artigo levantará questionamentos e dilemas associados às possibilidades de permanência ou não dessa nova dinâmica no futuro e suas possíveis consequências no que diz respeito ao desenvolvimento regional.
DA CONCENTRAÇÃO À DESCONCENTRAÇÃO
Obras importantes têm se dedicado a estudar a formação econômica do Brasil desde o final do século XIX, quando se origina o processo de concentração das atividades produtivas na região Sudeste, notadamente em São Paulo. Elas também buscam compreender as transformações territoriais envolvidas no caminhar do desenvolvimento regional nacional. Pode-se citar, por exemplo, a obra de Cano (1977)CANO, W. Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1977., que, seguindo uma linha histórico-estruturalista semelhante à de Furtado (1959)FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 30. ed. São Paulo: Editora Nacional, 2001. (ed. original: 1959)., mostra como a consolidação do complexo cafeeiro em São Paulo e a introdução de relações capitalistas de produção, principalmente a do trabalho assalariado favorecido pelos grandes fluxos migratórios europeus no final do século XIX, se constituíram nas “raízes da concentração industrial em São Paulo”3 3 Em referência ao título da obra. . Posteriormente, em seu trabalho Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, publicado em 1985, Cano estuda o avanço do processo de industrialização brasileiro e a constituição dos elos de integração da economia nacional. Ele advoga que, apesar da crescente concentração industrial paulista, o processo de industrialização gerava estímulos de complementariedade regional que ajudaram a integrar o mercado nacional, diminuindo a fragilidade das conexões regionais independentes com o exterior.
Não obstante essa maior integração do mercado nacional, a problemática regional começou a se tornar central na agenda política e social do país já por volta dos anos 1950. A crescente “tomada de consciência” sobre as disparidades regionais, a miséria nordestina e a exponencial concentração produtiva no Sudeste, que passou a ser vista como um dos fatores determinantes dessa situação, desencadearam reinvindicações por mais equidade regional e federativa. Essa pressão culminou na elaboração e implementação de uma série de instrumentos e políticas, a partir dos anos 1960, a fim de buscar uma resolução para o problema. O Estado desenvolvimentista assumia as rédeas da política regional, que teria como princípio básico promover a expansão produtiva das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, principalmente por meio da industrialização. Instituía-se a solução da “questão regional”, conforme se encontra na literatura, como um dos principais objetivos e desafios da busca do desenvolvimento nacional.
A partir do final dos anos 1960 e começo dos 1970, a concentração produtiva no Sudeste, em especial em São Paulo, atingiu seu ápice, dando lugar a um processo que atraiu a atenção de diversos acadêmicos e pesquisadores: o início de uma desconcentração produtiva, cujo epicentro se localizava justamente na Região Metropolitana de São Paulo. Assim, a concentração produtiva no estado paulista, que em 1970 havia chegado a quase 40% do PIB nacional e 58% do PIB industrial do país, por volta do início dos anos 1980, já havia caído para 36% e 53%, respectivamente4 4 Dados em: Cano, 2008. . Como evidencia Cano (1985CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil. São Paulo: Global, 1985. , 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), o período de dinamismo do milagre econômico brasileiro proporcionava um ciclo de crescimento da economia no qual os efeitos de estímulo propagados pela pujança da economia paulista resultavam em altas taxas de crescimento nas demais regiões, favorecidas pela crescente consolidação da integração do mercado nacional subsequente a 1930. A desconcentração, assim, se dava de forma virtuosa e trazia novas perspectivas, expectativas e entendimentos acerca da “questão regional”. A política regional levada a cabo pelo Estado brasileiro parecia finalmente atuar a favor da amenização das desigualdades regionais.
Como argumenta Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.), grande parte da literatura do desenvolvimento regional no Brasil inspirou-se na problemática da concentração produtiva paulista e das disparidades regionais. Nesse aspecto, não é por menos que, desde os anos 1970, o tema da desconcentração produtiva se tornou fundamental, pois ela ao menos cria, nas palavras do autor, “as premissas materiais de um desenvolvimento regional mais equilibrado”. Logo, diversos autores da Economia, da Geografia e das demais áreas das Ciências Humanas produziram trabalhos, livros, artigos, pesquisas e outras produções intelectuais sobre a desconcentração produtiva nas escalas nacionais, regionais e locais. Chegou-se, inclusive, a falar nos fundamentos de uma possível “ciência regional” focada nesse tema. Cabe mencionar os importantes trabalhos de Wilson Cano (1985CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil. São Paulo: Global, 1985. , 1990, 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), Carlos Azzoni (1986AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo: IPE/USP, 1986.), Carlos Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.) e Clélio Campolina Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.), dentre diversos outros dedicados ao tema de forma direta ou indireta.
Nos anos 1980, contudo, a crise abala o Brasil profundamente e o país se vê imerso em um ciclo de recessão associado a uma pressão inflacionária intensa. A chamada “estagflação” recorrente arrefeceu o processo de desconcentração produtiva, que passou a apresentar características espúrias, de acordo com Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.). O processo continuava não mais pelo maior crescimento da periferia nacional, mas pelas quedas mais abruptas das taxas de crescimento produtivo de São Paulo. Além disso, o esforço exportador primário contribuiu para uma queda menor das áreas fora do core industrial, como destaca Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.).
A crise corroía, também, as capacidades de atuação do Estado desenvolvimentista, que pouco a pouco desmantelou os instrumentos de política regional. Nesse período, Cano (1985CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil. São Paulo: Global, 1985. ) já argumentava que, mesmo diante do dinamismo com que havia crescido o Nordeste e as regiões menos desenvolvidas do país, o quadro de miséria, desemprego e atraso ali persistia. Para ele, dotar de mais recursos e investimentos as regiões periféricas não seria suficiente, pois desse modo apenas se atenderia os anseios de parte da classe dominante regional. Era imperioso articular, em todas as esferas de governo, os instrumentos da ação pública a fim de atender as necessidades básicas da população e superar os desequilíbrios regionais.
Ao contrário disso, os anos 1990 abriram as portas para a chamada “onda neoliberal”, em que a atuação do Estado se concentraria na condução da política macroeconômica e na busca da estabilidade monetária por meio de forte ajuste fiscal. Os planos nacionais e a política regional foram postos de lado, o que favoreceu a intensificação das disputas inter-regionais pelos investimentos do capital privado. Era o acirramento da chamada “Guerra Fiscal” entre os estados, com a implementação de legislações autônomas e específicas de desenvolvimento regional levada a cabo pelos entes federados. Entretanto, dessa forma comprometiam-se as receitas estaduais em razão da oferta indiscriminada de incentivos, isenções fiscais, entre outros benefícios. Ainda, a partir de 1994, a política de câmbio sobrevalorizado, juros elevados e contenção de gastos, assim como maior abertura comercial, afetaram diretamente a produção nacional, especialmente a industrial. A desconcentração produtiva, apesar de perdurar, permanecia branda para vários segmentos produtivos.
Logo, surgiram diversas teses que indicavam a limitação do processo de desconcentração ou até uma possível reconcentração produtiva em São Paulo. Uma delas foi elaborada por Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.), que trouxe para o debate a tese sobre o desenvolvimento poligonal no Brasil. Segundo esse autor, o que estava ocorrendo não era uma desconcentração produtiva efetiva em termos nacionais nem um contínuo processo de polarização. Para Diniz, a concentração no estado de São Paulo, sobretudo na região metropolitana da capital, havia atingido seu ápice, notadamente em virtude de questões de economias/deseconomias de aglomeração, porém o processo de desconcentração produtiva observado desde 1970 estava limitado a uma área poligonal que iria de Belo Horizonte, passaria por São Paulo e chegaria a Porto Alegre. De acordo com esse autor, as demais regiões ficavam à margem do processo, sem que se apontasse uma solução para os desequilíbrios regionais de forma mais contundente, especialmente no caso nordestino.
Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.), por sua vez, ao analisar o período posterior a 1980 até 1995, argumenta que o enfraquecimento do Estado diante do constante quadro de crise e da tendência neoliberal incorria no risco não apenas de frear a desconcentração produtiva, mas principalmente de acarretar rupturas dos elos que uniam as economias regionais e os laços de complementariedade econômica. Ao analisar as relações entre as balanças regionais com o comércio exterior e o nacional, esse autor verificou que a busca autônoma dos estados por uma saída da crise poderia, além de ameaçar a integração do mercado nacional, reprimarizar as pautas produtivas regionais ao buscar satisfazer as demandas externas em detrimento das domésticas. Estava em curso, segundo ele, uma flagrante “fragmentação da nação”5 5 Em referência ao título da obra. .
Novamente Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), ao dar prosseguimento à análise da desconcentração produtiva até 2005, reafirmou a improvável superação das desigualdades e do quadro de miséria e atraso regional, caso o contexto político e econômico neoliberal se perpetuasse. Ele, inclusive, levantou a hipótese de uma reconcentração espacial produtiva parcial em São Paulo e adjacências, em especial nos setores mais complexos e de tecnologia sofisticada. Tal hipótese corrobora a tese do desenvolvimento poligonal de Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.).
Portanto, diante do arrefecimento da desconcentração e do desmantelamento das capacidades de atuação do Estado nacional, o arcabouço teórico construído ao longo dos anos 1990 colocava em xeque as possibilidades de uma desconcentração produtiva mais efetiva e ressuscitava os antigos fantasmas associados às disparidades regionais e à perpetuação da hegemonia produtiva concentrada paulista.
Nos anos 2000, no entanto, houve uma reorientação político-institucional que favoreceu a retomada das políticas públicas nacionais e uma atuação desenvolvimentista mais expressiva por parte do Estado, principalmente no âmbito social. O desenvolvimento regional foi favorecido com a implementação de políticas nacionais e setoriais e com a aplicação de instrumentos explícitos e implícitos que recaíam no território com efeitos de política regional. Além disso, um novo momento de dinamismo econômico, favorecido pelo boom dos preços internacionais das commodities, e a manutenção da estabilidade monetária, porém com câmbio flutuante, voltaram a aquecer o setor produtivo, com a geração de empregos e a elevação da renda. Questiona-se, então: teria a associação desses elementos propiciado um novo momento e uma nova dinâmica no processo de desconcentração produtiva que possam ter refreado parte das tendências e preocupações observadas na década anterior?
UMA NOVA DINÂMICA DA DESCONCENTRAÇÃO ENTRE 2000 E 2015
Recentemente, alguns autores6 6 Para o período posterior a 2000, além de Cano (2008, podem-se citar Silva e Silveira Neto (2009), Saboia (2013), Saboia e Kubrusly (2015) e Abdal (2017). buscaram averiguar o que ocorreu com a estrutura produtiva brasileira a partir de uma perspectiva analítica em escala nacional, com ênfase nos vetores inter-regionais da desconcentração e o exame dos ganhos e perdas de participação produtiva entre as macrorregiões ou entre os estados brasileiros. Comparam-se, principalmente, as variações percentuais dos setores produtivos entre o Sudeste, especialmente o estado e a Região Metropolitana de São Paulo, e as demais macrorregiões ou estados brasileiros. O foco, assim, tem sido analisar o vetor inter-regional da desconcentração de São Paulo para o resto do país. Outros autores7 7 Como Soares et al. (2007), Morais e Macedo (2014), Santos (2017), Lima (2015), Funari (2008), Trintin e Campos (2013), Frota, Lima e Melo (2014), Lira, Silva e Pinto (2009), Fiori (2017), Torres (2012). , por sua vez, aplicam uma perspectiva analítica com ênfase nos vetores intrarregionais ou intraestaduais da desconcentração, a fim de averiguar os ganhos e perdas de participação produtiva entre mesorregiões ou microrregiões determinadas. O foco recai, deste modo, na análise do vetor da desconcentração a partir dos principais polos produtivos ou principais regiões metropolitanas para o interior de seus estados.
Logo, um dos desafios que se postam consiste em averiguar como essa produção cientifica recente tem investigado a reestruturação produtiva nacional, seus impactos no desenvolvimento regional brasileiro e os indicativos que podem ser obtidos, a partir dela, sobre uma possível nova dinâmica da desconcentração nos anos 2000.
É importante frisar que não se pretende fazer uma comparação entre as diferentes perspectivas, mas sim indicar, por meio dos casos apresentados na perspectiva regional, o heterogêneo mosaico de vetores da desconcentração observados com base na perspectiva nacional. Destaque-se, ainda, que o desafio de realizar um encadeamento aprofundado entre as duas perspectivas ultrapassa as pretensões deste artigo. Porém, almeja-se encorajar reflexões para que novos estudos possam vislumbrar as complexas conexões entre os vetores, inter-regionais e intrarregionais, da desconcentração produtiva nacional.
Por fim, aponta-se que, na perspectiva nacional, optou-se por utilizar o PIB como indicador-base em razão de ele ter sido o mais empregado em uma ampla gama de estudos sobre o tema na literatura do desenvolvimento regional. Todavia, ressalta-se que, ao abordar os estudos indicados nessa esfera, o artigo faz referência a diferentes indicadores utilizados pelos autores apresentados, tais como número de estabelecimentos industriais, estoque de empregos, taxa de crescimento industrial por segmento produtivo, produtividade, diversificação produtiva, etc. Assim, pode-se observar a relevância dos estudos de caso ao destacar diferentes caminhos metodológicos e indicadores, para além do PIB, que podem ser empregados a fim de promover uma compreensão mais efetiva da desconcentração produtiva nacional e de seus elos com os movimentos macro e microrregionais.
A desconcentração em perspectiva nacional: uma nova dinâmica?
Dentre os diversos estudos em perspectiva nacional, menciona-se a obra de Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), que, em seu capítulo IV, indicou a possibilidade de identificar uma suave retomada da aceleração da desconcentração produtiva nacional no final dos anos 1990, intensificada no começo dos anos 2000. Silva e Silveira Neto (2009SILVA, M. V. B; SILVEIRA NETO, R. da M. Dinâmica da concentração da atividade industrial no Brasil entre 1994 e 2004: uma análise a partir de economias de aglomeração e da nova geografia econômica. Economia Aplicada, v.13, n. 2, p. 299-331, 2009.), corroborando Cano, mostraram que, no começo dos anos 2000, havia evidências de surgimento de áreas de maior dinamismo no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Saboia (2013SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia. v. 23, n. 2, p.219-78, 2013.), por sua vez, relatou que, ao menos até 2007, já se consolidava um aumento do movimento geral de deslocamento das atividades industriais em direção ao interior nacional, partindo das principais regiões metropolitanas, principalmente de São Paulo, com o favorecimento de cidades médias. De acordo com esse autor, tal deslocamento dirigia-se especialmente ao interior da região Sul/Sudeste. Contudo, havia também uma notável migração produtiva para o interior de regiões menos desenvolvidas do país, sobretudo no Centro-Oeste. Essa desconcentração apresentava-se ampla, ao abarcar não apenas as indústrias tradicionais e de commodities, mas também já se anunciava na indústria difusora8
8
De acordo com Saboia (2013), indústrias difusoras são aquelas pertencentes ao novo paradigma tecnológico, constituindo a base do progresso técnico para o restante da indústria; elas são fundamentais para o avanço da competitividade da indústria como um todo.
e de bens de consumo duráveis. Abdal (2017ABDAL, A. Desenvolvimento regional no Brasil contemporâneo: para qualificação do debate sobre desconcentração industrial. Revista Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, v. 36, n.02, p.107-26, jun. 2017.) questionou a efetividade do processo e afirmou que ele “tendeu à marginalidade” diante da ainda grande concentração produtiva no Sudeste e das poucas áreas favorecidas pela desconcentração. Estas, segundo o autor, seriam somente “desdobramentos” das áreas já tradicionais, aliando sua análise às conclusões de Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.). Saboia e Kubrusly (2015)SABOIA, J.; KUBRUSLY, L. S. Pobreza e desconcentração regional da indústria brasileira. Texto para discussão n. 003/2015. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da UFRJ, 2015. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_003_2015_SABOIA_KUBRUSLY.pdf> . Acesso em: mar. 2018.
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/pu...
, entretanto, ao estender o período até o ano de 2013, novamente reafirmaram o avanço da desconcentração para áreas além das delimitadas pela tese do desenvolvimento poligonal. Essa desconcentração favoreceria diversas áreas menos desenvolvidas e contribuiria, inclusive, entre outros fatores, para os avanços sociais por meio do aumento da renda, do emprego, dos salários, do número de estabelecimentos industriais nessas regiões. Essas conclusões endossam o quadro de convergência da renda per capita regional apresentado por Resende et al (2014RESENDE, G. et al. Fatos recentes do desenvolvimento regional no Brasil. In: RESENDE, G. M. (Org.). Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus impactos regionais. Brasília: Ipea , 2014. v. 1.).
É interessante observar que os entendimentos acerca de uma aceleração do processo de desconcentração nos anos 2000 não têm sido pacíficos, como as argumentações de Abdal (2017ABDAL, A. Desenvolvimento regional no Brasil contemporâneo: para qualificação do debate sobre desconcentração industrial. Revista Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, v. 36, n.02, p.107-26, jun. 2017.) permitem constatar. Muitos autores ainda defendem as limitações do processo à área poligonal desenhada por Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.).
Contudo, cabe registrar que as considerações de uma retomada mais acentuada da desconcentração em escala nacional podem ser subsidiadas pelos dados mais recentes das contas nacionais do IBGE (2017)IBGE. Sistema de contas regionais: Brasil: 2015. Rio de Janeiro, 2017. , que indicaram que, entre 2002 e 2015, justamente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram as que mais ganharam participação no PIB brasileiro, com crescimento acima da média nacional no período. As regiões Sudeste e, notadamente, a região Sul, ou seja, aquelas situadas dentro do polígono de Diniz (1993DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.), apresentaram taxas de crescimento abaixo da média nacional entre 2002 e 2015, conforme se vê na Tabela 1, abaixo.
As cinco maiores economias nacionais - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná - perderam 3,5% de participação no PIB, que foi redistribuído entre as demais 22 unidades da federação. A participação do estado de São Paulo, no período, foi a que mais decresceu (de 34,9% para 32,4%), com grande queda da Região Metropolitana da capital (de 31% para 29,4%)9 9 Disponível em: <http://deepask.com/goes?page=Regioes-metropolitanas-sao-confrontadas-pelo-PIB>. acesso em: 12 mar. 2018. , evidenciando o vetor da desconcentração a partir do estado de São Paulo para o resto do país e também de sua principal região metropolitana, cujo vetor de desconcentração é tanto intrarregional como inter-regional (Tabela 2).
Ainda, segundo os dados do sistema de contas nacionais do IBGE, seis dos sete estados da região Norte figuram entre os dez com maior taxa de crescimento acumulado do PIB no período. Vale destacar que o líder nacional foi Tocantins, com crescimento acumulado superior a 112%. O segundo lugar é ocupado pelo Mato Grosso, no Centro-Oeste, com quase 102%, e o terceiro pelo Piauí, no Nordeste, com mais de 84% (Tabela 3).
Ou seja, esses dados indicam crescimento acima da média nacional em vários estados para além dos limites poligonais do centro dinâmico nacional e reforçam as conclusões de muitos estudos em perspectiva nacional sobre o tema. Dessa forma, pode-se inferir que o maior dinamismo econômico dos anos 2000, ao menos até a eclosão da recente recessão subsequente a 2014, não apenas assinala o avanço de um momento mais acentuado da desconcentração produtiva, como também parece ter refreado parte das preocupações reais acerca de uma retomada da polarização produtiva no Sudeste brasileiro, especialmente em São Paulo.
A desconcentração em perspectiva regional: alguns casos
Outra importante preocupação advinda dos anos 1990 é explicitada por Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.) com relação a uma eminente fragmentação da nação, em que as economias regionais passariam a fortalecer elos independentes com o mercado externo e propiciar fissuras nos elos de integração do mercado nacional. Essa situação tenderia a reprimarizar as economias regionais a fim de suprir as demandas externas e favorecer o surgimento de “ilhas de prosperidade” em determinadas localidades no território nacional.
De fato, essa preocupação poderia explicar parte da trajetória de ganhos produtivos de algumas regiões brasileiras, ainda mais em um contexto de rápida expansão das fronteiras produtivas, sobretudo as relacionadas ao agronegócio e às atividades extrativistas, bem como de aumento vertiginoso dos preços internacionais das commodities que caracterizou o período entre 2000 e 2015.
Portanto, essa preocupação permite levantar algumas questões para o entendimento da desconcentração produtiva do período: o que com efeito desconcentrou? Para onde desconcentrou? Por que o fez?
É evidente que o presente artigo não tem a pretensão de responder a essas complexas questões nem se aprofundar em uma análise minuciosa. Entretanto, cabe indicar que é pela análise de diversos estudos em perspectiva regional, elaborados ao longo dos últimos anos, que se pode melhor compreender o complexo mosaico de trajetórias regionais que vem constituindo o desenvolvimento regional brasileiro. Como afirmou Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998., p. 246): “este na verdade é o desafio que se coloca para a interpretação das consequências da reestruturação produtiva sobre o território brasileiro: como se apropriar dos estudos de caso e das avaliações mais gerais, sem abandonar os marcos do que é plausível em função de nossa história regional e da natureza da inserção do país no cenário internacional”.
Portanto, é possível pressupor que os estudos em perspectiva regional-estadual propiciarão um aprofundamento analítico mais efetivo acerca dessa nova dinâmica da desconcentração produtiva após os anos 2000. Isso significa que eles podem indicar e responder mais assertivamente quais foram os setores produtivos que em cada estado ou região mais se beneficiaram desse ganho relativo de participação produtiva. Podem, também, identificar certos vetores territoriais em curso no país e indicar para onde determinados ganhos produtivos relativos estão se direcionando, se para as principais regiões metropolitanas ou se para outras meso e microrregiões intraestaduais. Ainda, podem auxiliar a identificar os inúmeros instrumentos de política regional que efetivamente impactam no território e influenciam os processos de reestruturação produtiva e suas transformações no território.
Com base nesse pressuposto, Moraes (2017MORAES, S. R. Desconcentração produtiva no Brasil: olhares sobre o período 2000-2015. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional - PPGDSCI, Universidade de Brasília (UnB), 2017. 232f. ) realizou um levantamento de alguns estudos em perspectiva nacional e regional e averiguou que vários deles apontam para um momento mais virtuoso da desconcentração em termos inter-regionais e intrarregionais. Ou seja, muitos estudos regionais confirmam o avanço da desconcentração produtiva não apenas para as grandes cidades ou regiões metropolitanas, como também no interior de diversos estados do país. Assim, a fim de exemplificar esse processo de interiorização da desconcentração produtiva para além do Sudeste brasileiro, foram selecionados quatro casos, cada um deles pertencente a uma das demais macrorregiões, que se destacaram de acordo com o levantamento realizado por Moraes (2017MORAES, S. R. Desconcentração produtiva no Brasil: olhares sobre o período 2000-2015. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional - PPGDSCI, Universidade de Brasília (UnB), 2017. 232f. ): o interior e a região do Cariri no Ceará, o sudeste do Pará, o sudeste de Goiás e o interior do Paraná. Resumidamente, a seguir, será mostrado como os estudos indicaram as transformações territoriais nesses casos nos anos posteriores a 2000.
No Ceará, onde o PIB cresceu acima da média nacional entre 2000 e 2013, com 4,4% a.a.10 10 Dados disponíveis em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em 12/04/2018. , o que exibe um nítido vetor inter-regional em direção ao estado, os estudos realizados propiciaram um bom debate a respeito da reestruturação produtiva e da distribuição desse ganho de participação produtiva em termos nacionais na região. Soares et al. (2007SOARES, F. A. et al. Interiorização e reestruturação da indústria do Ceará no final do século XX. Revista Econômica do Nordeste , v. 38, n. 1, 2007.), por exemplo, averiguaram os impactos da política industrial cearense na reestruturação e na distribuição produtiva espacial e apresentaram importantes indícios sobre os vetores da desconcentração e sobre a dinâmica produtiva no estado. Os autores identificaram que, desde os anos 1990, houve aumento de mais de 90% no número de estabelecimentos industriais no Ceará e observaram que, apesar da grande concentração produtiva na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), houve um claro movimento de desconcentração em direção ao perímetro de até 300 km para fora da RMF e para a Região Metropolitana do Cariri (RMC), que representa um grande complexo urbano com boas economias aglomerativas. A conclusão alcançada foi de que os índices microeconômicos de localização, especialização e reestruturação permitem confirmar que a economia do estado do Ceará vem se comportando de forma mais dinâmica nos últimos anos e com tendência à interiorização. Além disso, os setores de trabalho intensivo, em particular o têxtil e o calçadista, foram os principais indutores dessa mudança na estrutura produtiva ali verificada. Na mesma linha, Morais e Macedo (2014MORAIS, J. M. L; MACEDO, F.C. Regiões metropolitanas do Ceará: dispersão produtiva e concentração de serviços. Desenvolvimento Regional em Debate. V. 4, n. 2, p. 178-203, jul.-dez. 2014.) constataram que, entre 2000 e 2010, ocorreu uma “desconcentração concentrada” no estado, em razão de a taxa média anual de crescimento do PIB ter sido mais elevada para a RMC (4,1%) que em relação à RMF (3,5%), porém esta foi sutilmente maior que em relação à do estado (3,4%). Todavia, a expansão da RMF tem se dado, cada vez mais, para fora do município da capital, o que ratifica a análise de Soares et al. (2007SOARES, F. A. et al. Interiorização e reestruturação da indústria do Ceará no final do século XX. Revista Econômica do Nordeste , v. 38, n. 1, 2007.). Os dados da indústria de transformação possibilitam observar forte desconcentração no estoque de empregos, refletindo tanto o espraiamento da indústria para os demais municípios da RMF como sua dispersão para outras localizações no estado, especificamente nos polos tradicionais, a exemplo de Juazeiro do Norte e Sobral. Silva Filho (2014)SILVA FILHO, L. A. Distribuição espacial da indústria no Ceará: fases e fatos no contexto dos anos 2000. Revista Economia & Tecnologia, v. 10, n. 2, p. 107-30, abr.-jun. 2014., por sua vez, chama atenção para a resiliente alta concentração do trabalho na RMF. Não obstante, ele evidencia que o setor calçadista alcançou 25% da ocupação da mão de obra da indústria de transformação do estado em 2010, atrás apenas do setor têxtil, com 27%. Cabe destacar, ainda, que todas as mesorregiões apresentaram maior relevância da produção e ocupação formal do trabalho que a RMF, o que é indicativo de que os movimentos observados por Soares et al. (2007SOARES, F. A. et al. Interiorização e reestruturação da indústria do Ceará no final do século XX. Revista Econômica do Nordeste , v. 38, n. 1, 2007.) podem ter se mantido, ao menos, até 2013. Para esse autor, “isso resulta das políticas de desconcentração industrial no Ceará, que rezam pela interiorização das indústrias de trabalho intensivo”.
Observa-se, portanto, que os estudos apresentados no caso cearense contribuem para identificar os vetores intrarregionais da desconcentração, assim como os principais setores produtivos envolvidos nessa reestruturação, e apontam para fatores que podem ter influenciado o processo, como a política industrial estadual. Sua importância reside no fato de auxiliarem a clarificar as possíveis respostas sobre o quê, para onde e por que as atividades têm se desconcentrado.
O Pará, por seu turno, com o maior PIB da região Norte, teve uma média de crescimento, entre 2000 e 2013, de 4,9% a.a.11 11 Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em: 15 mar. 2018. e também apresenta intensificação do vetor inter-regional da desconcentração em direção ao estado no período. Santos (2017SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.), nesse contexto, estuda as transformações estruturais com enfoque na região Sudeste paraense e destaca que, por volta dos anos 1980, quando se iniciou a saga dos garimpos, os investimentos em novas infraestruturas viárias, de energia e comunicação, o intenso fluxo migratório pela atividade mineradora e a criação de novos municípios contribuíram para uma crescente dinâmica econômica da região. A participação do Sudeste paraense no PIB do estado saltou de 2,6%, em 1970, para 41%, em 2012, assumindo uma participação no PIB nacional superior à de vários estados12 12 Superior às de Alagoas, Sergipe, Piauí, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre, Roraima e similar ao do Rio Grande do Norte e da Paraíba. . A Região Metropolitana de Belém (RMB) viu sua participação no PIB do estado cair de 62%, em 1970, para 35%, em 2012.
Porém, deve-se ressaltar que essa desconcentração relativa intrarregional, intensificada nos anos 2000, está diretamente relacionada com a indústria extrativa mineral e com o boom dos preços das commodities no período, notadamente o minério de ferro. Como evidencia Santos (2017SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.), em 2009, o setor foi responsável por quase 60% das exportações totais do Pará, e o minério de ferro, sozinho, respondeu por 82%, seguido pelos minérios de cobre e manganês, com 15% - ou seja, praticamente toda a pauta exportável do Sudeste paraense e 60% da pauta do estado inteiro restringiram-se apenas a três minérios.
Esse fato pode corroborar a ideia de uma fragmentação econômica voltada ao atendimento de uma demanda externa e com um possível descolamento da economia do estado com as dinâmicas do mercado nacional. Contudo, o autor em foco indica que, no período recente, importantes modificações ocorreram no mercado de trabalho da região, as quais se relacionam com a presença de grandes empreendimentos, principalmente de mineração, que têm potencializado a criação de novos empregos urbanos, favorecidos tanto pela demanda de serviços e produtos locais como pelo efeito-renda sobre a produção local. Segundo Santos (2017SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.), alguns estudos afirmam que, apesar de gerar poucos empregos diretos, a atividade mineradora produz efeitos multiplicadores que dinamizam outros setores da economia. Dessa forma, ergue-se um questionamento: esse elo maior com o mercado externo poderia, também, propiciar certos efeitos de encadeamentos produtivos dinâmicos?
Em Goiás, entre 2002 e 2015, o crescimento do PIB acumulado de 62,8% mostrou-se em torno de 17% acima da média nacional13 13 IBGE, 2017. . A esse respeito, Lima (2015LIMA, V. B. A espacialidade da indústria em Goiás: a nova “marcha para o Oeste” - o exemplo de Catalão. (Tese de doutorado). Goiânia: UFG, 2015.), ao estudar a espacialidade da indústria no estado, afirma que o processo de industrialização da região se funde com as esferas da agropecuária e que as escolhas estratégicas de localização da indústria acompanham a logística do espaço por meio de incentivos, investimentos e políticas do Estado. Elas se relacionam igualmente com o vetor de desconcentração inter-regional advindo do eixo de desenvolvimento que interliga a região ao Sudeste brasileiro e especialmente a São Paulo. Assim, do ponto de vista da desconcentração produtiva, a expansão e a diversificação da agroindústria em Goiás, apesar de se darem de forma bastante desconcentrada por todo o estado, fortaleceram-se principalmente na porção Sudeste do estado. É apresentado, então, o estudo de caso da região de Catalão e seu lugar nessas transformações produtivas. Para o autor em questão, a posição estratégica do município, integrado ao eixo São Paulo-Brasília, e os incentivos e vantagens das políticas estaduais e federais foram essenciais para despertar o interesse de grandes inversões internacionais, inclusive do setor automotivo com a chegada da Mitsubishi Motors Company em 1997. Dessa forma, após os anos 2000 criou-se uma série de estímulos produtivos para o Sul do estado de Goiás, com vistas a favorecer o dinamismo e a diversificação da região e propiciar altos índices de crescimento produtivo. Ou seja, embora um dos riscos eminentes de fragmentação econômica seja dado pela guerra fiscal, e a política estadual de Goiás seja bastante agressiva nesse aspecto, a diversificação industrial, resultante, em parte, dos efeitos de encadeamentos produtivos do próprio setor primário e, em parte, da integração com o eixo de desenvolvimento paulista, não tem indicado, de acordo com as preocupações de Pacheco (1998PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.), uma fragmentação econômica no estado. Tal assertiva confirma o apontamento de Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), de que ainda não é adequado afirmar a fragmentação, pois a maior parte dos elos entre o núcleo da acumulação produtiva em São Paulo e o restante da nação permanece unida. O caso de Goiás parece apontar nesse sentido.
O Paraná, por fim, a quinta maior economia do país, cresceu, entre 2000 e 2013, a média de 3,9% a.a.14 14 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 mar. 2018. , pouco acima do ritmo da região Sul e da média nacional. Os estudos de Funari (2008FUNARI, A. P. Desconcentração produtiva regional do Brasil: análise do Paraná - 1970-2005. (Dissertação de mestrado). Campinas: Unicamp, 2008.) e de Trintin e Campos (2013TRINTIN, J. G; CAMPOS, A. C. Dinâmica regional recente da economia paranaense e suas perspectivas: diversificação ou risco de reconcentração e especialização produtiva. Acta Sclentlarum. Human and Social Sciences, v. 35, n. 2, p. 161-73, jul.-dez., 2013.) indicam que o esforço industrializante promovido pelo estado, desde o ciclo expansivo dos anos 1970 e mais recentemente, a partir dos anos 1990, mesmo que pela atuação na guerra fiscal, possibilitou maior diversificação da economia regional, em especial em direção aos bens de consumo duráveis e aos bens de capital, com destaque para o setor de metalmecânica. Também se demonstrou que a força do setor agroindustrial parece ter contribuído para gerar encadeamentos produtivos no sentido de diversificar outros setores. Apesar da maior concentração industrial na região de Curitiba, as demais mesorregiões não se encontram estagnadas e continuam a acompanhar o crescimento da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ainda, a proximidade com São Paulo e com os mercados do Mercosul parece ter favorecido a dinâmica e o fortalecimento produtivo no caso do Paraná, mesmo em uma conjuntura de crise econômica e de maior abertura comercial competitiva desde os anos 1990. Dessa forma, a dinâmica da economia paranaense parece indicar, novamente, que a abertura comercial e a maior inserção internacional não atuaram negativamente no sentido de especializar a economia do estado nos segmentos tradicionais ou de atenuar os estímulos a uma diversificação produtiva.
Uma vez apresentadas algumas dessas perspectivas nacionais e regionais que apontam para uma nova dinâmica da desconcentração no período entre 2000 e 2015, serão levantados, a seguir, alguns questionamentos e dilemas que se erguem a partir do novo contexto do desenvolvimento regional atual.
QUESTIONAMENTOS E DILEMAS PARA O FUTURO
Diante do exposto até aqui, pode-se reafirmar o poder dos estudos em perspectiva nacional, e principalmente em perspectiva regional, não apenas para iluminar parte das respostas sobre quais atividades, quais os vetores e quais fatores influenciam essa dinâmica de desconcentração produtiva, mas também para contribuir com vistas a erigir novas questões e novas inquietações sobre a desconcentração produtiva nacional.
Todavia, deve-se atentar para as diferenças e particularidades de cada caso e observar que a dinâmica constatada em determinada região ou estado não reflete necessariamente as dinâmicas dos demais. E, para cada um destes, podem-se encontrar importantes estudos sobre o tema que vão oferecer novas compreensões e novas questões.
No Nordeste, por exemplo, o estudo de Frota, Lima e Melo (2014FROTA, I. L. N; LIMA, J. P. R; MELO, A. S. S. A. Os incentivos fiscais do governo do estado de Pernambuco para atração de empresas: um caso de sucesso? Revista Econômica do Nordeste, v. 45, n. 4, p. 67-82, out.-dez. 2014.), que buscou investigar as influências dos incentivos fiscais do governo pernambucano na atração de investimentos privados para as regiões interiores do estado, e o estudo de Pessoti e Pessoti (2010PESSOTI, B. C; PESSOTI, G. C. A economia baiana e o desenvolvimento industrial: uma análise do período 1978-2010. Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 12, n. 22, p. 28-45, 2010.), que observa a influência do Polo de Camaçari sobre a reestruturação produtiva baiana, apresentam resultados e vetores diferentes dos relativos ao caso cearense. Em ambos, os autores identificaram o fortalecimento do setor industrial e ganhos de participação produtiva em relação ao PIB nacional após os anos 2000; contudo, tais ganhos se direcionaram primordialmente para as regiões metropolitanas das capitais estaduais e as políticas regionais de interiorização produtiva não têm obtido os resultados esperados no que se refere à interiorização deles.
No Norte, apesar do dinamismo apresentado pelo estudo de Santos (2017SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.) sobre o Sudeste paraense, Lira, Silva e Pinto (2009LIRA, S. R. B; SILVA, M. L. M; PINTO, R. S. Desigualdade e heterogeneidade no desenvolvimento da Amazônia no século XXI. Nova Economia , v.19, n. 1, p.153-84. 2009.), ao analisarem o desenvolvimento da Amazônia15 15 Delimitou-se o escopo da análise ao espaço geopolítico da região, que compreende as unidades federativas do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins. à luz dessas estratégias governamentais, afirmam que a evolução econômica da região se deu de forma desequilibrada em termos espaciais e setoriais. Os eixos dinâmicos produtivos não interagem entre si nem com as atividades tradicionais e, por essa razão, não propiciam uma disseminação modernizante, tampouco uma ocupação econômica melhor. Vinculam-se com o mercado extrarregional sem encadear estímulos intrarregionais, caracterizando e constituindo uma fragmentação produtiva, heterogênea, que acaba por ampliar as desigualdades entre as unidades federativas amazônicas e seus subespaços.
No Sul, o estudo de Fiori (2017FIORI, T. P. Economia e política do desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Brasília: Ipea, 2017.) indica que, no caso do Rio Grande do Sul, ao contrário do caso paranaense, a maior abertura econômica ocorrida depois de 1990 agravou um quadro de disparidade intrarregional, ao concentrar investimentos e segmentos industriais na região metropolitana de Porto Alegre e diminuir a propensão à diversificação produtiva no interior devido ao fortalecimento do setor agroindustrial voltado para exportação.
Diante desses exemplos, um dos primeiros questionamentos que surgem é: como avançar os diversos estudos e as diferentes perspectivas, nacionais e regionais, a fim de melhor entender e encadear as dinâmicas intrarregionais à luz do processo de desconcentração produtiva inter-regional?
É preciso salientar, nesse sentido, que a aplicação de diferentes metodologias ou escalas de análise pode levar muitos estudos a resultados e conclusões discrepantes ao observar a dinâmica produtiva de determinada região. Esse fato, ao mesmo tempo que se constitui como um desafio ao entendimento mais aproximado da realidade, enriquece o debate e os olhares sobre as diversas variáveis e fatores que influenciam o processo.
Outra questão relaciona-se à identificação dos principais fatores associados a essa nova dinâmica virtuosa da desconcentração e a essa variedade de trajetórias produtivas, principalmente no período entre 2000 e 2015.
É inegável, nesse ponto, a complexidade da conjunção de elementos que se relacionam com a dinâmica da desconcentração produtiva nacional. Entre 2000 e 2015, o maior dinamismo econômico, a estabilidade monetária, o ciclo de crescimento dos preços internacionais das commodities e o bom desempenho da economia global, entre outros, são alguns exemplos de fatores associados a essa nova dinâmica no período. No entanto, parece nítida a grande influência que a reorientação político-institucional posterior a 2003 e a retomada de uma maior atuação, planejamento e investimento por parte do Estado tiveram nesse contexto. Essa atuação, como já exposto, não se limitou à política regional explicita. Na verdade, segundo Monteiro Neto et al. (2017)MONTEIRO NETO, A. et al. Desenvolvimento territorial no Brasil: reflexões sobre políticas e instrumentos no período recente e propostas de aperfeiçoamento. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017., os altos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dos programas sociais de renda, como o Bolsa Família, e de programas setoriais de desenvolvimento, como os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), se constituíram em amplos instrumentos de política regional implícitos, com magnitude até maior do que a dos instrumentos explícitos atuais, caso dos Fundos Constitucionais de Financiamento. Além disso, deve-se registrar, conforme mostram diversos estudos regionais, a influência das políticas estaduais de atração de investimentos decorrente da chamada guerra fiscal, a despeito de seus efeitos negativos na arrecadação de tributos e na “solidariedade” federativa. Nesse aspecto, cabe frisar que, para Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008.), a desconcentração baseada na guerra fiscal apresenta características espúrias díspares do período virtuoso da década de 1970. Todavia, o autor reconhece que a prática tem sido um fator importante tanto para conter uma possível reconcentração produtiva em São Paulo como para dar continuidade à desconcentração relativa em termos nacionais.
Ou seja, é bastante plausível afirmar que essa dinâmica mais acentuada da desconcentração produtiva nacional nos anos 2000 está diretamente relacionada com uma atuação maior do Estado em suas esferas federais e, também, estaduais, por meio de instrumentos explícitos ou implícitos de política regional. Este parece, portanto, se constituir em um elemento-chave que rege as transformações no território, principalmente com o propósito de reverter a permanente tendência concentradora capitalista e propiciar uma dinâmica de desenvolvimento mais equilibrada regionalmente.
Logo, diversos outros questionamentos e dilemas se apresentam em relação à atuação estatal, ao processo de desconcentração produtiva e ao desenvolvimento regional brasileiro. Como o Estado e as políticas públicas podem atuar para manter ou intensificar essas transformações produtivas a fim de possibilitar um desenvolvimento regional menos díspar territorialmente? Como articular e coordenar as políticas e instrumentos de rebatimento territorial, federais e estaduais, para a consecução desse objetivo? Estaria, de fato, a desconcentração produtiva propiciando uma diminuição relativa das disparidades inter-regionais e uma convergência da renda favorecendo regiões mais pobres, conforme indicam Resende et al. (2014RESENDE, G. et al. Fatos recentes do desenvolvimento regional no Brasil. In: RESENDE, G. M. (Org.). Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus impactos regionais. Brasília: Ipea , 2014. v. 1.) e Saboia e Kubrusly (2015SABOIA, J.; KUBRUSLY, L. S. Pobreza e desconcentração regional da indústria brasileira. Texto para discussão n. 003/2015. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da UFRJ, 2015. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_003_2015_SABOIA_KUBRUSLY.pdf> . Acesso em: mar. 2018.
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/pu...
)? Teria essa nova dinâmica da desconcentração nos anos 2000 de fato contido os fantasmas dos anos 1990, os quais apontavam para os riscos de uma eminente repolarização produtiva no Sudeste brasileiro e para uma fragmentação e reprimarização evidentes da economia nacional? Em caso afirmativo, como manter a inserção da economia nacional na dinâmica internacional globalizada sem incorrer no risco de reavivar esses fantasmas? Como superar os efeitos negativos e as características espúrias da desconcentração advindas da guerra fiscal? Por fim, como a recente crise política e econômica pode afetar as capacidades e intencionalidades da atuação e do planejamento estatal e quais as consequências possíveis para os rumos da desconcentração produtiva e do desenvolvimento regional brasileiro?
Para fechar, a reflexão de Torres (2012TORRES, H. G. Afinal, a desconcentração produtiva é ou não relevante? A cidade de São Paulo no olho do furacão. Revista Novos Estudos . Cebrap [on-line]. n. 94, p. 69-88, 2012.) revela um importante dilema na condução das políticas públicas regionais, federais e estaduais. Esse autor observa que a tendência de longo prazo da desconcentração produtiva, apesar de contribuir para a interiorização do desenvolvimento e para um maior equilíbrio regional, traz impactos interessantes do ponto de vista social para as regiões que estão perdendo participação produtiva, como a região metropolitana e o município de São Paulo. Ele argumenta que o constante decréscimo de empregos e renda, ainda que pareça pouco intenso em termos macrorregionais, afeta de forma significativa grandes cidades como São Paulo e impõe imensos desafios sociais. Como destaca Torres: “Os agentes econômicos são menos fluidos do que as análises abstratas da dinâmica produtiva normalmente supõem, tanto a fricção espacial quanto a setorial no mercado de trabalho impõem custos muito importantes para os participantes desse mercado durante os processos de reestruturação”. Assim, ele propõe uma nova agenda para a reflexão dos processos de desconcentração produtiva no Brasil em que se possam abordar também seus impactos sociais e locais.
Os questionamentos e dilemas aqui expostos são alguns dentre aqueles que trazem desafios inexoráveis ao desenvolvimento regional e que podem instigar novos estudos acerca dos processos de reestruturação produtiva em curso no país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação econômica do Brasil forjou uma configuração territorial desequilibrada em termos produtivos que impacta diretamente as disparidades socioeconômicas inter-regionais. Desde a segunda metade do século XX, por conseguinte, um dos objetivos principais do desenvolvimento nacional tem sido justamente superá-las. Nesse sentido, o processo de desconcentração produtiva chamou a atenção dos estudos de desenvolvimento regional por indicar transformações que poderiam criar as “premissas materiais de um desenvolvimento regional mais equilibrado”. Entretanto, depois de um ciclo virtuoso de desconcentração, até meados dos anos de 1980, o processo arrefeceu e foi colocado em xeque nos anos de 1990. Teses passaram a questionar sua efetividade e apontar os riscos de uma repolarização produtiva no Sudeste e de uma fragmentação da economia nacional diante da política liberal que se consolidou naquele período.
Entre 2000 e 2015, contudo, a reorientação político-institucional favoreceu a retomada das políticas públicas nacionais e uma atuação desenvolvimentista mais expressiva por parte do Estado. Além disso, um novo momento de dinamismo econômico, favorecido pelo boom dos preços internacionais das commodities, e a manutenção da estabilidade monetária voltaram a aquecer o setor produtivo, a geração de empregos e a elevação da renda.
O presente artigo questionou se a associação desses elementos teria propiciado uma nova dinâmica no processo de desconcentração produtiva. Os dados e estudos mais recentes, alguns dos quais foram aqui apresentados, indicam, de fato, uma nova dinâmica de desconcentração produtiva nacional que, se não se mostra virtuosa aos moldes da década de 1970, ao menos apresenta uma aceleração acentuada em relação às duas décadas anteriores.
Apesar disso, sob a perspectiva regional, observou-se que, por um lado, a dinâmica da desconcentração reflete um mosaico de trajetórias estaduais heterogêneas ( algumas com vetores intrarregionais de interiorização produtiva, outras com polarizações metropolitanas; algumas com amplos processos de diversificação produtiva e mais integradas ao mercado nacional, outras com especializações cada vez mais fortalecidas e interligadas com as redes de comércio internacional. Por outro lado, o fortalecimento dos vetores de desconcentração inter-regionais e intrarregionais tem favorecido a expansão de novas redes de cidades, novos polos e novos encadeamentos produtivos para além dos tradicionais centros dinâmicos nacionais. Os vetores de expansão a partir de São Paulo tornaram-se mais nítidos, orientando fluxos econômicos e populacionais16 16 Como pode ser observado no rápido crescimento demográfico de cidades no Centro-Oeste e no Norte do país. , o que reafirma a ideia de que a maior parte dos elos do mercado interno permanece unida. Logo, parte das preocupações levantadas nos anos 1990 sobre uma possível repolarização produtiva ou uma fragmentação da economia nacional parece ter sido, senão abandonada, ao menos contida.
Quais são, no entanto, as perspectivas futuras da desconcentração produtiva nacional? A vigência dessa dinâmica mais acentuada perdurou após o quadro de crise econômica e institucional que se instalou na segunda metade da década de 2010? Quais foram as tendências do processo desde então? Terão os riscos de fragmentação e repolarização permanecidos contidos? O que esperar diante do novo momento político liberal e da insistente guerra fiscal? Por fim, as dinâmicas de desconcentração desempenharam um papel de fato relevante na diminuição dos desequilíbrios socioeconômicos regionais ou seus efeitos foram limitados e paliativos? São questões em aberto que pretendem instigar futuras investigações. Assim, é primordial que a produção científica siga contribuindo com conceitos, teorias e novos estudos capazes de promover uma compreensão mais efetiva a respeito dos movimentos produtivos, inter-regionais e intrarregionais, bem como de suas relações com os instrumentos de política pública.
Por fim, os desafios e dilemas do desenvolvimento regional brasileiro permanecem imensos. Nesse sentido, é importante destacar que a atuação do Estado historicamente se revelou um elemento-chave na dinâmica da desconcentração produtiva nacional. Porém, é preciso que a agenda política seja capaz de articular os diversos mecanismos de política pública regional, federais e estaduais, a fim de permitir a continuidade da desconcentração produtiva e possibilitar um desenvolvimento regional mais equilibrado e com melhores desígnios socioeconômicos a toda a população.
REFERÊNCIAS
- ABDAL, A. Desenvolvimento regional no Brasil contemporâneo: para qualificação do debate sobre desconcentração industrial. Revista Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, v. 36, n.02, p.107-26, jun. 2017.
- AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil São Paulo: IPE/USP, 1986.
- CANO, W. Raízes da concentração industrial em São Paulo São Paulo: Hucitec, 1977.
- CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil São Paulo: Global, 1985.
- CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005 São Paulo: Unesp, 2008.
- DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Nova Economia, Belo Horizonte: Face/UFMG, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.
- FIORI, T. P. Economia e política do desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas Brasília: Ipea, 2017.
- FROTA, I. L. N; LIMA, J. P. R; MELO, A. S. S. A. Os incentivos fiscais do governo do estado de Pernambuco para atração de empresas: um caso de sucesso? Revista Econômica do Nordeste, v. 45, n. 4, p. 67-82, out.-dez. 2014.
- FUNARI, A. P. Desconcentração produtiva regional do Brasil: análise do Paraná - 1970-2005 (Dissertação de mestrado). Campinas: Unicamp, 2008.
- FURTADO, C. Formação econômica do Brasil 30. ed. São Paulo: Editora Nacional, 2001. (ed. original: 1959).
- IBGE. Sistema de contas regionais: Brasil: 2015 Rio de Janeiro, 2017.
- LIMA, V. B. A espacialidade da indústria em Goiás: a nova “marcha para o Oeste” - o exemplo de Catalão (Tese de doutorado). Goiânia: UFG, 2015.
- LIRA, S. R. B; SILVA, M. L. M; PINTO, R. S. Desigualdade e heterogeneidade no desenvolvimento da Amazônia no século XXI. Nova Economia , v.19, n. 1, p.153-84. 2009.
- MONTEIRO NETO, A. et al. Desenvolvimento territorial no Brasil: reflexões sobre políticas e instrumentos no período recente e propostas de aperfeiçoamento. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.
- MORAES, S. R. Desconcentração produtiva no Brasil: olhares sobre o período 2000-2015 (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional - PPGDSCI, Universidade de Brasília (UnB), 2017. 232f.
- MORAIS, J. M. L; MACEDO, F.C. Regiões metropolitanas do Ceará: dispersão produtiva e concentração de serviços. Desenvolvimento Regional em Debate V. 4, n. 2, p. 178-203, jul.-dez. 2014.
- PACHECO, C.A. . Fragmentação da nação Campinas: Ed. Unicamp, 1998.
- PESSOTI, B. C; PESSOTI, G. C. A economia baiana e o desenvolvimento industrial: uma análise do período 1978-2010. Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 12, n. 22, p. 28-45, 2010.
- RESENDE, G. et al. Fatos recentes do desenvolvimento regional no Brasil. In: RESENDE, G. M. (Org.). Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus impactos regionais Brasília: Ipea , 2014. v. 1.
- SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia v. 23, n. 2, p.219-78, 2013.
- SABOIA, J.; KUBRUSLY, L. S. Pobreza e desconcentração regional da indústria brasileira Texto para discussão n. 003/2015. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da UFRJ, 2015. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_003_2015_SABOIA_KUBRUSLY.pdf> Acesso em: mar. 2018.
» http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_003_2015_SABOIA_KUBRUSLY.pdf - SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.
- SILVA FILHO, L. A. Distribuição espacial da indústria no Ceará: fases e fatos no contexto dos anos 2000. Revista Economia & Tecnologia, v. 10, n. 2, p. 107-30, abr.-jun. 2014.
- SILVA, M. V. B; SILVEIRA NETO, R. da M. Dinâmica da concentração da atividade industrial no Brasil entre 1994 e 2004: uma análise a partir de economias de aglomeração e da nova geografia econômica. Economia Aplicada, v.13, n. 2, p. 299-331, 2009.
- SOARES, F. A. et al. Interiorização e reestruturação da indústria do Ceará no final do século XX. Revista Econômica do Nordeste , v. 38, n. 1, 2007.
- TORRES, H. G. Afinal, a desconcentração produtiva é ou não relevante? A cidade de São Paulo no olho do furacão. Revista Novos Estudos . Cebrap [on-line]. n. 94, p. 69-88, 2012.
- TRINTIN, J. G; CAMPOS, A. C. Dinâmica regional recente da economia paranaense e suas perspectivas: diversificação ou risco de reconcentração e especialização produtiva. Acta Sclentlarum. Human and Social Sciences, v. 35, n. 2, p. 161-73, jul.-dez., 2013.
-
1
Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx>. Acesso em: 10 mar. 2018.
-
2
IBGE, 2017IBGE. Sistema de contas regionais: Brasil: 2015. Rio de Janeiro, 2017. .
-
3
Em referência ao título da obra.
-
4
Dados em: Cano, 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008..
-
5
Em referência ao título da obra.
-
6
Para o período posterior a 2000, além de Cano (2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional no Brasil: 1970-2005. São Paulo: Unesp, 2008., podem-se citar Silva e Silveira Neto (2009SILVA, M. V. B; SILVEIRA NETO, R. da M. Dinâmica da concentração da atividade industrial no Brasil entre 1994 e 2004: uma análise a partir de economias de aglomeração e da nova geografia econômica. Economia Aplicada, v.13, n. 2, p. 299-331, 2009.), Saboia (2013SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia. v. 23, n. 2, p.219-78, 2013.), Saboia e Kubrusly (2015)SABOIA, J.; KUBRUSLY, L. S. Pobreza e desconcentração regional da indústria brasileira. Texto para discussão n. 003/2015. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da UFRJ, 2015. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_003_2015_SABOIA_KUBRUSLY.pdf> . Acesso em: mar. 2018.
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/pu... e Abdal (2017ABDAL, A. Desenvolvimento regional no Brasil contemporâneo: para qualificação do debate sobre desconcentração industrial. Revista Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, v. 36, n.02, p.107-26, jun. 2017.). -
7
Como Soares et al. (2007SOARES, F. A. et al. Interiorização e reestruturação da indústria do Ceará no final do século XX. Revista Econômica do Nordeste , v. 38, n. 1, 2007.), Morais e Macedo (2014MORAIS, J. M. L; MACEDO, F.C. Regiões metropolitanas do Ceará: dispersão produtiva e concentração de serviços. Desenvolvimento Regional em Debate. V. 4, n. 2, p. 178-203, jul.-dez. 2014.), Santos (2017SANTOS, V. A economia do Sudeste paraense: evidências das transformações estruturais. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas . Brasília: Ipea , 2017.), Lima (2015LIMA, V. B. A espacialidade da indústria em Goiás: a nova “marcha para o Oeste” - o exemplo de Catalão. (Tese de doutorado). Goiânia: UFG, 2015.), Funari (2008FUNARI, A. P. Desconcentração produtiva regional do Brasil: análise do Paraná - 1970-2005. (Dissertação de mestrado). Campinas: Unicamp, 2008.), Trintin e Campos (2013TRINTIN, J. G; CAMPOS, A. C. Dinâmica regional recente da economia paranaense e suas perspectivas: diversificação ou risco de reconcentração e especialização produtiva. Acta Sclentlarum. Human and Social Sciences, v. 35, n. 2, p. 161-73, jul.-dez., 2013.), Frota, Lima e Melo (2014FROTA, I. L. N; LIMA, J. P. R; MELO, A. S. S. A. Os incentivos fiscais do governo do estado de Pernambuco para atração de empresas: um caso de sucesso? Revista Econômica do Nordeste, v. 45, n. 4, p. 67-82, out.-dez. 2014.), Lira, Silva e Pinto (2009LIRA, S. R. B; SILVA, M. L. M; PINTO, R. S. Desigualdade e heterogeneidade no desenvolvimento da Amazônia no século XXI. Nova Economia , v.19, n. 1, p.153-84. 2009.), Fiori (2017FIORI, T. P. Economia e política do desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. In: MONTEIRO NETO, A.; BRANDÃO, C. A.; CASTRO, C. N. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Brasília: Ipea, 2017.), Torres (2012TORRES, H. G. Afinal, a desconcentração produtiva é ou não relevante? A cidade de São Paulo no olho do furacão. Revista Novos Estudos . Cebrap [on-line]. n. 94, p. 69-88, 2012.).
-
8
De acordo com Saboia (2013SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia. v. 23, n. 2, p.219-78, 2013.), indústrias difusoras são aquelas pertencentes ao novo paradigma tecnológico, constituindo a base do progresso técnico para o restante da indústria; elas são fundamentais para o avanço da competitividade da indústria como um todo.
-
9
Disponível em: <http://deepask.com/goes?page=Regioes-metropolitanas-sao-confrontadas-pelo-PIB>. acesso em: 12 mar. 2018.
-
10
Dados disponíveis em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em 12/04/2018.
-
11
Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em: 15 mar. 2018.
-
12
Superior às de Alagoas, Sergipe, Piauí, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre, Roraima e similar ao do Rio Grande do Norte e da Paraíba.
-
13
IBGE, 2017IBGE. Sistema de contas regionais: Brasil: 2015. Rio de Janeiro, 2017. .
-
14
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 mar. 2018.
-
15
Delimitou-se o escopo da análise ao espaço geopolítico da região, que compreende as unidades federativas do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins.
-
16
Como pode ser observado no rápido crescimento demográfico de cidades no Centro-Oeste e no Norte do país.
-
Sítios consultados<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx> (acesso em: 10 mar. 2018)<http://deepask.com/goes?page=Regioes-metropolitanas-sao-confrontadas-pelo-PIB> (acesso em: 12 mar. 2018)<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx > (acesso em: 15 mar. 2018)<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx> (acesso em: 15 mar. 2018)<https://cidades.ibge.gov.br> (acesso em: 16 mar. 2018)
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Ago 2019 -
Data do Fascículo
May-Aug 2019
Histórico
-
Recebido
12 Abr 2018 -
Aceito
01 Mar 2019